1. O Tao do cérebro
O elemento da filosofia do direito com raízes mais antigas é a ideia de que existe uma ordem que subjaz ao mundo. Nossos sentidos nos mostram fenômenos concretos, mas nossa mente tende a perceber esses eventos como expressões particulares de certos padrões gerais de organização, o que nos faz buscar explicar os variados acontecimentos a partir de uma ordem natural, que determinaria o modo de ser de cada coisa, as maneiras como os eventos ocorrem e as formas pelas quais as sociedades se organizam.
Na tradição hinduísta, a organização imanente do mundo era chamada de Rta, palavra que significa “ordem cósmica” ou “ordem do universo” (Bloomfield, 1908, p. 12). Segundo Bloomfield, os fatos do mundo visível, especialmente aqueles que ocorrem periodicamente, são definidos por Rta: o lugar do sol no firmamento é definido por Rta, assim como a passagem das estações (1908, p. 126). No que toca às atividades humanas, os hinduístas chamavam de Dharma as ações que deveriam ser seguidas pelas pessoas para estarem de acordo com Rta (Sinha, 1993), o que evidencia que a ordem natural é percebida simultaneamente como cósmica (determinando o movimento dos astros e os ciclos da natureza) e (determinando os deveres de cada ser).
Na tradição chinesa, esse princípio geral de ordem era chamado de Tao, o caminho constituído pelo fluxo natural das coisas. Lao Tse ressalta desde o primeiro verso do Tao Te Ching a impossibilidade de os homens compreenderem completamente o Caminho porque o verdadeiro Tao está além da capacidade humana de colocar em palavras a realidade última das coisas. Os limites de nossa capacidade de fazer descrições linguísticas precisas são ressaltados pelo fato de Ken Knabb ter consolidado 175 traduções diferentes para o inglês do primeiro capítulo do Tao Te Ching, cujas diferenças entre si são notáveis (Knabb, 2022).
A intuição subjacente no conceito de Tao é a de que existe uma ordem fundamental no mundo, muito embora não consigamos determiná-la de forma exata, de tal forma que nos restaria buscar “traços do caminho nos padrões de eventos que ocorrem no mundo natural, no mundo social e no mundo interior da psique” (Cleary, 1993). Interessa-nos especialmente o fato de que o taoismo combina a convicção inabalável de que existe uma ordem cósmica, que abrangeria todas as dimensões da vida, com o reconhecimento de que essa ordem somente pode ser entendida de modo fragmentário e limitado.
A transversalidade da ideia de uma ordem universal sugere que temos uma tendência a observar fenômenos particulares como se eles fossem parte de uma ordem geral. Nossos cérebros não se limitam a perceber acontecimentos singulares e a armazená-los em nossas memórias: eles organizam essas percepções, agrupando-as em função de suas similaridades. Por exemplo, nós enxergamos muitas árvores, cada uma delas constituindo um objeto absolutamente singular. Ocorre que as percepções que formamos de cada uma delas têm uma série de pontos de convergência, cuja combinação permite a formulação de uma espécie de padrão-árvore.
Quando enxergamos um peixe, não vemos apenas um objeto singular, mas um animal aquático, que tipicamente não nos ataca, que pode ser pescado de determinadas formas e que nos serve de alimento. A visão do peixe pode desencadear uma série de reações, seja por parte de um humano, de um urso ou de um pássaro. Uma garça não precisa do conceito linguístico de peixe para pescar seu alimento: dados certos estímulos visuais, ela mergulhará e executará uma sequência de movimentos definidos em seu sistema nervoso. O padrão visual peixe desencadeia o padrão motor mergulho e pesca, e tudo isso pode ser explicado em termos de inputs e outputs neurais.
A mediação entre esses dois padrões é feita tipicamente por reações emocionais: fome, medo, desejo, nojo, etc. A combinação do padrão visual peixe com determinado tipo de cheiro pode desencadear o nojo que sentimos frente aos peixes apodrecidos, emoção esta que pode nos livrar de uma infecção bacteriana.
No cérebro de um tubarão, que tem uma visão bastante limitada, a percepção visual de padrão tartaruga pode desencadear um ataque que, em vez de culminar em um gosto prazeroso (que desencadearia uma reação emocional de recompensa), termine desencadeando uma sensação muito estranha, totalmente diversa do paladar ligado ao padrão tartaruga. Por vezes, trata-se de um surfista, cuja combinação com a prancha encaixou-se no vago padrão tartaruga, mas cujo gosto inesperado faz com que o tubarão abandone a presa, visto que sabores desagradáveis tendem a desencadear o mesmo nojo que teríamos de abocanhar um inseto.
O sistema nervoso opera por meio de sua capacidade de reagir à ocorrência de determinados padrões, sejam eles sensoriais (uma certa combinação estímulos decorrentes dos nossos sentidos) ou internos (certos padrões neurais inscritos em nosso sistema nervoso, especialmente em nossa memória). Essa é uma função tão central dos cérebros que Sparkes chegou a afirmar que o cérebro deve ser visto como uma pattern recogniton machine (1969).
Maturana e Varela nos advertem que todo esse conjunto de percepções, sensações e reações ocorre dentro do sistema tubarão. O tubarão nunca viu uma tartaruga no mar: seu sistema sensorial é irritado por um estímulo externo e reage de modo a estimular as células nervosas de uma determinada forma, sendo que a combinação desses estímulos é percebida como próxima de certo padrão neural (que chamamos aqui de padrão tartaruga), o que desencadeia reações emocionais e motoras que fazem com que o corpo do tubarão se mova de determinada forma.
Para um ser humano que observa de fora toda essa atividade, é plausível descrever a situação como: o tubarão viu o que achava que era uma tartaruga e decidiu atacar sua presa. Contudo, essa é uma descrição pouco fiel aos fatos que ocorreram, visto que o tubarão não desejou nada, não escolheu nada e não tinha qualquer objetivo. Desejar, decidir e ter finalidade são padrões linguísticos que ocorrem no cérebro do Homo sapiens que observa a situação, e se relacionam com a capacidade humana de descrever suas percepções em termos de uma linguagem abstrata.
Cérebros operam por meio do reconhecimento de padrões, mas tipicamente esses padrões não são linguísticos. O cérebro humano regula o nosso metabolismo por meio de reações inconscientes, que adaptam o funcionamento de nossos sistemas a uma série de variáveis ambientais percebidas por nosso sistema sensorial: temperatura, luminosidade, existência de alimentos no estômago, níveis de glicose no sangue. Quando o nível de gás carbônico em nosso sangue aumenta um pouco, desencadeia-se uma opressiva sensação de sufocamento que nos faz encerrar o mergulho e voltar à superfície. Costuma causar certo espanto o fato de não termos um sensor de presença de oxigênio, o que faz com que os mergulhadores que hiperventilam possam desmaiar por asfixia, e morrer afogados, antes que a sensação de sufocamento seja desencadeada.
Nosso sistema de detecção de oxigênio é praticamente inexistente e o de gás-carbônico nos oferece respostas eficientes, mas binárias: ou temos uma sensação de normalidade, ou de opressivo sufocamento. Em contraposição, nosso sistema visual é uma fonte inesgotável de estímulos excepcionalmente ricos.
Human eyes have around 100 million photoreceptors, each of which can pick up about ten visual events every second, so our eyes are effectively receiving a billion pieces of information each second. If you include the information pouring in from our other senses, that’s a staggering quantity of data for our brains to sift through every moment of our waking lives. (Bor, 2012)
Os órgãos de nosso sistema sensorial, especialmente os olhos e ouvidos, captam uma série de informações, que servem como inputs do nosso sistema nervoso central. Segundo Mattson, a função fundamental dos cérebros é “codificar e integrar informações adquiridas do ambiente por meio de inputs sensoriais, e então gerar respostas comportamentais adaptativas” (2014).
Essas respostas são as mais variadas: uma descarga de adrenalina, um retesamento de músculos, um aumento no ritmo respiratório. A percepção do padrão tartaruga não faz com que o tubarão diga a si próprio “eu vi uma tartaruga”, mas desencadeia os movimentos que interpretamos como o ataque de um predador a sua presa. O exercício de atividades complexas, como pescar ou fugir, exige uma atividade neural ampla e intensa. O cérebro de uma pessoa que dança forró precisa coordenar uma série de pequenos movimentos, que respondem ao ritmo da música que se ouve e a um conjunto imenso de fatores ambientais, como a percepção de como se movimenta o nosso par e de todas as pessoas que compartilham a pista de dança.
Toda atividade complexa envolve a ativação de uma série de circuitos neurais, combinando memórias, percepções, emoções e vários outros elementos que operam de forma simultânea. Embora esse tipo de comportamento somente possa ser explicado com base na combinação dessas várias capacidades, Mattson afirma que uma delas desempenha uma função central: o processamento superior de padrões, ou seja, uma capacidade avançada de gerar outputs baseados em nossas formas de processar os padrões gravados em nossas memórias (Mattson, 2014). A ausência de um sofisticado mecanismo de identificação de padrões impede tratar cada tipo de input de acordo com suas peculiaridades. Precisamos de uma enorme capacidade de identificar e processar padrões para conseguirmos articular nossos vários circuitos neurais e suas formas particulares de processar dados visuais, auditivos, linguísticos e emocionais.
Os exemplos da dança e da pesca nos servem para ressaltar que, embora os filósofos costumem pensar no cérebro em termos de sua capacidade de reter e processar informações, não devemos perder de vista que os sistemas nervosos dos animais estão ligados primordialmente à ação, e não ao conhecimento. O cérebro uma parte de nós que está envolvida na definição do funcionamento de nossos corpos, a partir da complexa interação entre nosso sistema nervoso e o ambiente que nos circunda. O processamento de informações não é um fim em si mesmo, mas é uma forma de regular nosso metabolismo e de definir nossos comportamentos.
Um ser vivo bem acoplado ao ambiente não é aquele que consegue criar uma imagem perfeita e precisa dos elementos que o circundam, mas um organismo capaz de agir de modo adaptado, no sentido específico de que o comportamento individual permite o estabelecimento de interações que permitam a sobrevivência do organismo. Essa integração entre o indivíduo e o meio circundante é o que Maturana e Varela (1995) chamaram de acoplamento estrutural: um certo acoplamento entre a estrutura do sistema e as condições ambientais, que viabilizam que o sistema continue a executar os comportamentos que lhe são próprios.
Um organismo que se mantém acoplado ao ambiente pode continuar vivo, sendo que a perda do acoplamento leva à morte, por uma incompatibilidade entre o indivíduo e o ambiente. Um cérebro que opere com padrões vagos pode não diferenciar tartarugas de surfistas ou pode não perceber os sinais de que um peixe começou a entrar em decomposição. Essa falta de precisão pode gerar um desacoplamento, decorrente de reações orgânicas que conduzem ao colapso do sistema vivo. Além disso, um sistema vivo muito estático pode perder o acoplamento em virtude de alterações ambientais rápidas, que acarretem mudanças na temperatura, na acidez ou na disponibilidade de nutrientes. Organismos inseridos em um contexto que se modifica em ritmos intensos somente podem manter o seu acoplamento quando são capazes de uma plasticidade comportamental ampla, que viabiliza sua adaptação às variações ambientais. No caso dos animais, essa plasticidade decorre do fato de que os sistemas nervosos permitem que o organismo adote comportamentos diversos, a partir das interações entre o indivíduo e o ambiente.
A capacidade de transformar os padrões existentes em nossos cérebros, a partir de nossas novas experiências, possibilita a alteração constante da estrutura do próprio sistema nervoso, o que permite um ajuste fino do nosso acoplamento estrutural, a partir do estabelecimento de novas sinapses, que mudam as formas pelas quais o cérebro reage a estímulos externos e internos. Chamamos de aprendizado essa capacidade de constante transformação, uma habilidade que não é exclusiva dos Homo sapiens, mas que é especialmente intensa em nossa espécie em virtude do peculiar desenvolvimento de nossas capacidades linguísticas.
A linguagem enriquece imensamente nosso repertório de padrões porque nos permite formular explicitamente novas categorias, capazes de diferenciar os vários tipos de peixes (que serão pescados e preparados de formas diversas), de árvores (cuja madeira terá diferentes utilidades) ou de formas de governo. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da linguagem implica envolve um custo evolutivo muito alto, pois precisamos ter um cérebro com córtex amplo, que consome quantidades imensas de energia. Como indica Nicolelis, apesar de corresponder apenas a 2% do nosso peso, o cérebro humano é cerca de 9 vezes maior do que o que seria esperado um mamífero com nossas dimensões, o que faz com que ele consuma cerca de 20% de toda energia que obtemos de nossos alimentos.
Esse alto custo energético viabilizou a plasticidade comportamental nos tornou aptos a ocupar nichos ecológicos muito variados, mas isso não é garantia de sucesso evolutivo (ou seja, sobrevivência da espécie) porque é possível que, em cada um dos ambientes que habitássemos, houvesse animais adaptados a sobreviver com um uso energético mais eficiente. Os tubarões, por exemplo, são animais com baixa plasticidade comportamental (ou seja, aprendem pouco), mas extremamente adaptados ao ambiente que eles habitam. Eles têm sistemas sensoriais bastante complexos, que podem operar de forma eficaz em ambientes escuros (acoplando um olfato apuradíssimo a órgãos de detecção de atividades elétricas), cuja interação com o ambiente gera inputs muito ricos. Entretanto, os padrões de reação a esses estímulos são pouco flexíveis.
Os seres humanos, tal como os tubarões, também têm um sistema sensorial muito complexo (centrado na visão e na audição), cuja irritação em contato com o ambiente produz um conjunto imenso de inputs, a serem processados pelo cérebro. De fato, tanto os humanos como os tubarões têm órgãos sensoriais que produzem uma quantidade de informação muito maior do que aquela que o cérebro consegue armazenar e processar. Essa combinação de riqueza sensorial com capacidades cognitivas limitadas faz com que haja um constante desequilíbrio entre a grande quantidade de inputs que inundam nosso cérebro e nossa restrita capacidade de processar cada um desses elementos em tempo hábil para eles poderem influenciar nossos comportamentos (Bor, 2012).
No caso dos humanos, essa sobrecarga é radicalizada pelo fato de que os circuitos neurais ativados pelos estímulos sensoriais desencadeiam atividades cerebrais que produzem uma série de inputs internos ao sistema nervoso: memórias, emoções e pensamentos que afloram durante as atividades que praticamos e que também precisam ser processados.
A realização de atividades complexas, como dançar, caçar ou cuidar dos filhos, exige que o cérebro humano processe uma multiplicidade de inputs que são gerados tanto pelos órgãos sensoriais, quanto pela própria atividade cerebral, em uma complexa reação em cadeia: a ativação de memórias desperta emoções que desencadeiam respostas metabólicas que alteram o estado do corpo e, com isso, modificam as formas de percepção e processamento dos inputs neuronais.
A combinação desses elementos indica que o desafio envolvido na dança ou na caça não decorre de uma falta de informações sobre o ambiente que nos cerca, mas de um excesso de informações a serem processadas por nosso sistema nervoso. Uma das formas pelas quais o cérebro lida com esse descompasso é a utilização de mecanismos inconscientes de filtragem, que determinam os tipos de processamento que serão utilizados com relação a esses inputs. Vários desses estímulos são processados apenas em estruturas neurais ancestrais, que compartilhamos com vários outros animais, e que realizam o monitoramento dos estados do corpo, as reações metabólicas, a operação do sistema digestivo, a secreção de hormônios. Somente alguns desses estímulos são também processados no córtex pré-frontal, que opera boa parte de capacidades linguísticas e as estruturas da consciência ligadas à tomada de decisão.
Embora seja tentadora a concepção modular de cérebro, em que cada região desempenha uma função especializada, as observações empíricas indicam que os cérebros humanos e de outros animais têm uma forma descentralizada de processamento, que envolve a ativação conjunta de circuitos neurais distribuídos em várias áreas do cérebro. Nas palavras de Miguel Nicolelis, o sistema nervoso segue o princípio do processamento distribuído, pois “todas as funções e todos os comportamentos gerados pelos cérebros de animais complexos, como o nosso, dependem do trabalho coordenado de vastas populações de neurônios, distribuídas por múltiplas regiões do sistema nervoso central” (Nicolelis, 2020).
Pesquisas recentes indicam que nossas atividades conscientes envolvem processamento cortical mais distribuída, enquanto a percepção sensorial primária ocorre de modo mais localizado (Anastassiou & Shai, 2016). Essa é uma observação compatível com o fato de que o córtex cerebral dos mamíferos é uma estrutura que foi desenvolvida há cerca de 300 milhões de anos e que opera de forma interconectada com estruturas neurais mais antigos, como o cerebelo (que compartilhamos com dinossauros e peixes e surgiu há cerca de 500 milhões de anos) e o hipotálamo (uma das primeiras estruturas neurais a se formar, há cerca de 700 milhões de anos, e que compartilhamos com insetos e estrelas-do-mar).
Nessa escala de centenas de milhões de anos, o cérebro do Homo sapiens se consolidou há meros 250 mil anos, quando o córtex passou a representar 80% do volume cerebral, proporção bem maior do que os 50% que em média têm os demais primatas (Nicolelis, 2020). Se a história do sistema nervoso fosse um ano, nosso cérebro somente teria aparecido nas últimas três horas de dezembro, tornando razoável a hipótese de que a operação cortical permite um comportamento consciente que exige uma interconexão com todas as estruturas anteriores, o que parece incompatível com a ideia de modularidade cerebral.
Apesar disso, especialmente no que toca às atividades neurais que têm origens mais antigas, não podemos perder de vista que certos circuitos estão especialmente ligados a determinadas reações orgânicas. Por exemplo, a amídala direita é intensamente ativada por imagens associadas a emoções desagradáveis e algumas partes do córtex pré-frontal são significativamente ativadas em situação de felicidade e desativadas em quadros de tristeza (Damásio, 2004). Mesmo que exista esse tipo de concentração, não devemos tratar essas áreas como módulos especializados, pois elas são parte de uma multiplicidade de circuitos ligados em rede, cuja operação conjunta determina a imensa plasticidade comportamental de organismos tão complexos como mamíferos e aves.
O sistema nervoso é dotado de filtros que ativam ou desativam redes neurais operam como se realizássemos uma seleção das informações mais relevantes, a serem processadas no nível consciente, que envolve as tomadas intencionais de decisão. Como temos uma forte tendência a antropomorfizar o funcionamento do cérebro, não é demasiado ressaltar que nossas redes neurais não operam por meio da manipulação de uma linguagem abstrata e, portanto, elas não são capazes de realizar uma avaliação desses inputs em termos de sua importância. Relevância, importância e urgência são apreciações valorativas abstratas, que somente podem operar a partir de uma operação simbólica que não é compatível com uma descrição objetiva da operação do sistema nervoso.
Tratar o funcionamento do cérebro como um mecanismo voltado a tomar decisões é como analisar o ataque do tubarão como uma atividade intencional voltada a capturar uma presa: trata-se de uma descrição externa, que trata uma atividade mecânica como se fosse intencional e valorativa. Os mecanismos que operam nessa filtragem não são de ordem simbólica, pois se relacionam com a física e a química cerebrais: a seleção dos inputs semelhantes a inputs anteriores, contidos na memória, cuja ativação desencadeia reações emocionais intensas e sequências de alterações metabólicas e comportamentais.
António Damásio nos oferece algumas chaves para compreender como esse tipo de processamento permite o reconhecimento e processamento de padrões: nossa atividade cerebral implica a construção do que podemos chamar metaforicamente de imagens mentais, e que fisicamente correspondem a padrões de conexão neural. O cérebro recebe inputs tanto dos órgãos sensoriais que interagem com o ambiente (como a visão e o olfato), dos órgãos sensoriais que monitoram o próprio corpo, e constrói imagens que não podem corresponder exatamente aos objetos monitorados.
A imagem construída não é uma réplica de um objeto externo, mas é uma construção puramente interna do sistema nervoso, decorrente das formas pelas quais ele processa os inputs decorrentes da interação física entre um objeto particular e as estruturas sensoriais do nosso corpo.
[A]s imagens de que temos experiência são construções provocadas por um objeto, e não imagens em espelho desse objeto. Não há, que eu saiba, nenhuma imagem do objeto transferida opticamente da retina para o córtex visual. A óptica para na retina. Da retina para diante ocorrem transformações físicas em diversas estruturas nervosas a caminho dos córtices visuais, mas já não se trata de transformações ópticas.
Essa descrição indica que o cérebro codifica, à sua própria maneira, os conjuntos de informações fornecidos pelos nossos órgãos sensoriais. Tal codificação não gera informações abstratas, mas conduz a que os neurônios de nossos cérebros estabeleçam certos tipos de conexão, criando novas sinapses e reforçando as que existem. Cada um de nossos neurônios pode formar milhares de sinapses, que são pontos de interconexão com outros neurônios, cuja interconexão forma uma espécie de circuito. A fisiologia dos neurônios permite a movimentação de íons (átomos com carga elétrica) ao longo de sua membrana, especialmente de Na+, K+ e Ca2+, o que gera descargas elétricas que conseguimos mensurar externamente, o que nos permite identificar com certa precisão as áreas cerebrais que estão em atividade mais intensa, em dado momento.
Nossa intuição normalmente opera com a ideia de que o cérebro gera representações mentais dos objetos observados. Por mais que essa seja uma metáfora que facilita a descrição da operação cerebral, é preciso reconhecer que ela não passa de uma figura de linguagem. Em um nível físico-químico, as pesquisas atuais apontam que a interação entre percepção e comportamento envolve uma particularidade do funcionamento dos neurônios do córtex cerebral, que opera com um alto grau de retroalimentação (feedback).
Dos 86 bilhões de neurônios que compõem o cérebro humano, cerca de 16 bilhões se localizam no córtex, uma região mais ampla e menos densa. A maior parte de nossos neurônios está localizada em estruturas mais antigas, como o cerebelo, que comprime 69 bilhões de neurônios em 10% da massa cerebral, o que resulta em um aglomerado extremamente denso, responsável pelo nosso controle motor (Nicolelis, 2020). Apesar de conter menos de 20% de nossos neurônios, a forma específica de algumas células nervosas contidas no córtex é responsável pelo processamento cerebral envolvido em nossas capacidades linguísticas e decisões conscientes.
Parte de nosso sistema nervoso recebe estímulos ambientais e os processa em modo feed-forward: os inputs são processados e geram outputs que são diretamente enviados para o sistema motor. Esse tipo de processamento está ligado especialmente a nossas funções metabólicas, que reagem de modo relativamente padronizado aos estímulos sensoriais, tanto ambientais quanto aquelas produzidos pelo sistema somatossensorial (que monitora o que ocorre dentro do nosso corpo). Por exemplo, temos circuitos no tálamo que identificam imagens de serpentes, desencadeando respostas corporais antes mesmo que a pessoa se torne consciente da presença do animal (Van Le et al., 2013).
Já a nossa cognição consciente opera de outra forma, tendo em vista que o córtex tem estruturas que recebem diretamente os estímulos ambientais e as combina com os outputs que esses mesmos estímulos desencadeiam em outros circuitos neurais, ligados especialmente às emoções, à percepção auditiva e à memória, por exemplo. Quando esses circuitos mais especializados processam o input determinado por estímulos ambientais, eles não enviam outputs diretamente para o sistema motor (o que seria um processamento feed-forward), mas encaminham estímulos para o córtex, onde há neurônios que têm dois grupos de receptores (dendritos), sendo um deles ligado ao sistema sensorial e outro ligado a demais circuitos cerebrais.
Essa peculiaridade faz com que, no córtex, sejam combinados estímulos ambientais com uma série de estímulos intrínsecos do cérebro, que operam em feedback: boa parte dos inputs processados no córtex não vem do ambiente, mas de uma retroalimentação por meio da qual o cérebro processa estímulos gerados por sua própria dinâmica interna. Como explica Larkum, o córtex opera por meio de uma complexa interação entre informações fornecidas pelos nossos órgãos sensoriais e um rico conjunto de estímulos intrínsecos, decorrentes dos modos como nossos vários circuitos neurais são ativados e, com isso, enviam estímulos que atuam como input para o córtex realizar as atividades conscientes (Larkum, 2013).
Essa complexa integração de múltiplos sistemas, gerando respostas metabólicas e comportamentais adaptadas ao ambiente, não decorre de uma capacidade mágica. Tampouco se trada do resultado de operações simbólicas, por meio das quais o corpo atribui sentidos abstratos às nossas percepções, classificando-as como desejáveis, perigosas ou improváveis. Trata-se de um processamento que é realizado em decorrência do fato de que nossos bilhões de neurônios estão interligados por trilhões de sinapses e formam um sistema capaz de oferecer respostas metabólicas e motoras que permitem uma interação adequada do organismo com o seu ambiente.
Para compreender a mecânica desse processo, é preciso entender o modo como os neurônios interagem, o que faremos por meio de uma análise de como se opera o processamento consciente de uma percepção visual. Os estímulos produzidos por nossos 100.000 receptores visuais são conduzidos dos olhos para o cérebro, mas isso não opera como se um cabo de rede levasse informação que seria processada em um processador (como nos computadores), porque cada neurônio é parte do próprio processador (que é o cérebro como um todo). Isso decorre do fato de que o neurônio não é um fio que transmite energia elétrica, pois cada um deles opera como uma espécie de filtro, que recebe os estímulos enviados pelos sensores ou neurônios que estão ligados a eles, mas somente envia inputs a outras células quando o acúmulo de estímulos excitatórios recebidos chega a determinado limiar.
Embora os neurônios funcionem internamente a partir de uma rica atividade eletromagnética, a interação entre eles é operada por meio de trocas químicas, em que os terminais de um neurônio liberam moléculas neurotransmissoras, que são captadas por receptores contidos nos dendritos das células com as quais eles se ligam por meio das sinapses. Nossa cognição está ligada ao modo específico pelo qual os neurônios são capazes de se influenciar mutuamente, gerando reações em cadeia que podem conduzir a outputs que determinam as transformações internas do organismo que interpretamos como comportamentos, pensamentos ou metabolismo.
Não cabe fazer aqui uma descrição exaustiva desse mecanismo, mas é importante ter uma visão geral do funcionamento de tal sistema, para compreender o modo como o neurônio age como um seletor. A descrição mais didática que encontrei desse fenômeno foi um vídeo produzido pela plataforma Osmosis.org, chamado Neuron action potential (Osmosis, 2016), cujas animações propiciam uma compreensão visual dos fenômenos ligados à atividade elétrica dos neurônios.
Cada neurônio é uma célula que tem milhares de receptores de inputs (chamados dendritos) e emissores de outputs (os terminais do axônio). Ele funciona como uma bateria elétrica carregada de energia, pois o interior da célula é mais negativo que o meio circundante em aproximadamente -70 mV. A operação de cada neurônio é determinada pela forma como sua membrana controla a troca de íons com o meio circundante: quando ela permite a entrada de íons positivos, atraídos pela energia negativa do interior da célula, a diferença de potencial vai diminuindo gradualmente, até chegar ao limiar (treshold) de -50 mV, cujo alcance desencadeia uma espécie de descarga por meio da qual todo o potencial elétrico é canalizado pelo axônio e determina a liberação dos neurotransmissores que estimularão os dendritos dos neurônios que estão ligados a seus terminais. Findo esse processo, a membrana se abre novamente ao ambiente e restabelece a diferença de potencial entre o interior e o exterior e possibilita a acumulação da energia que permitirá a recepção de novos estímulos.
Os neurotransmissores que desencadeiam o ingresso de íons positivos (como o glutamato) são chamados de excitativos, pois eles impelem o neurônio rumo ao limiar de -50 mV, que envia impulsos a outras sinapses. Porém, há também neurotransmissores inibidores (como o GABA), que determinam o ingresso de íons negativos, ou a expulsão de íons positivos, deslocando a diferença de potencial rumo aos -70 mV da situação de repouso.
O gráfico abaixo indica que essa combinação de impulsos de inibição e de excitação resulta tipicamente em que a célula permaneça algum tempo sem emitir descargas que ativarão novos neurônios, sendo que os pulsos são relativamente espaçados. Cada pulso é chamado de spike porque, nas medições do comportamento elétrico de uma célula, essas descargas são indicadas por uma espécie de pico (spike) de atividade, na qual o potencial elétrico é rapidamente reduzido a zero e depois desce novamente abaixo do limiar de -50 mV.
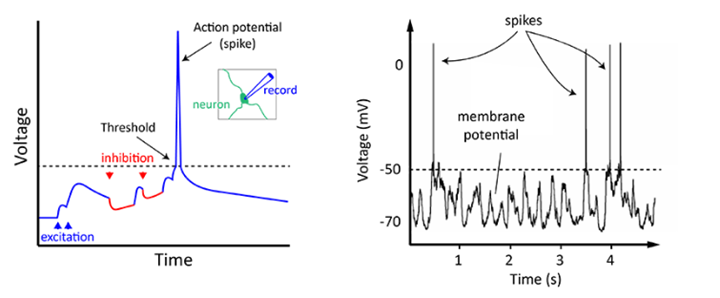
Quando ocorre um spike, a energia negativa é conduzida pelo axônio até os seus terminais, onde esse pico de energia desencadeia a liberação de moléculas neurotransmissoras. Os terminais do axônio estão conectados aos dendritos de outros neurônios, sendo que essa ligação se chama sinapse. Quando o axônio libera um neurotransmissor excitatório ou inibitório, que atravessa o pequeno espaço entre os dois neurônios é captado por receptores do dendrito.
Embora as reações de cada sinapse determinem uma troca de íons relativamente pequena, o fato cada neurônio ter milhares de dendritos permite que a estimulação simultânea e de vários deles venha a gerar o spike. Larkum e outros indicam, por exemplo, que a ativação de um neurônio piramidal do córtex pode decorrer da estimulação de cerca de 120 sinapses, correspondentes a cerca de 3% do total de dendritos do neurônio (Larkum et al., 2009). Múltiplos estímulos convergentes podem gerar no córtex rajadas de spikes, nas quais certas redes neurais se estimulem intensamente vários outros circuitos.
Uma vez compreendida essa dinâmica, será possível entender melhor a função dos neurônios que compõem o córtex, chamados de piramidais: trata-se de neurônios que têm dois conjuntos diferentes de dendritos: os basais, mas próximos do corpo da célula, e os apicais, que ficam em regiões mais distantes. Os dendritos basais são tipicamente ligados aos circuitos que conduzem informações sensoriais, captadas constantemente, e que resultam em pikes que seguem um ritmo regular e relativamente espaçado. Por estarem mais próximos do axônio e desempenharem função excitatória, eles têm uma grande influência na geração de spikes. Já os dendritos da região apical ficam em um tufo mais distante, estando ligados especialmente a outros circuitos cerebrais, especialmente a interneurônios com função inibidora (Larkum, 2013).
Como os dendritos apicais não respondem ao fluxo constante das informações sensoriais, mas aos pikes de outros circuitos cerebrais, decorrentes da atividade interna do cérebro, eles operam em feedback. Essa combinação faz com que os estímulos sensoriais que ativam os dendritos basais sejam combinados com os estímulos intrínsecos que estimulam os dendritos apicais, em um complexo jogo de excitação e inibição, que produz os outputs ligados a nossa atividade cognitiva.
No caso de um estímulo ambiental que desencadeie vários circuitos internos (como a visão de um predador ou de uma pessoa que desejamos), a quantidade de neurotransmissores excitativos recebidos pelos dendritos apicais pode ser tamanha que a sua combinação com as informações sensoriais gere sequências de rajadas (bursts) de pikes, chamados de BAC, que por sua vez ativarão vários outros circuitos, cujos outputs alimentarão novamente o córtex (Larkum, 2013; Anastassiou & Shai, 2016). O fato de que o feedback retroalimenta o sistema gera relações circulares, em que o cérebro se autoestimula e processa os resultados de seu próprio processamento, em uma atividade frenética que justifica plenamente Nicolelis caracterizá-la como uma tempestade eletromagnética (Nicolelis, 2020).
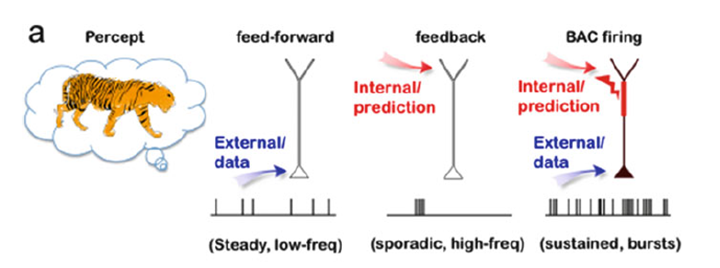
Esse desvio pela fisiologia nos serve para indicar que, quando falamos de imagens cerebrais, utilizamos metáforas visuais para descrever um mecanismo neural que não tem caráter representativo. A estrutura dos circuitos neurais tem uma configuração específica, que gera uma interação entre impulsos de excitação e inibição, de tal forma que o funcionamento de nossos sistemas orgânicos depende dos resultados do equilíbrio complexo e dinâmico desses influxos.
Nessa rede, cada estímulo pode ativar circuitos neurais que estão conectados com vários outros e determinam reações emocionais, memórias visuais, lembranças tácteis e vários outros elementos que podem ser mobilizados em feedback. Essa complexa relação entre estímulos ambientais e intrínsecos faz com que o resultado final das interações corticais se torne imprevisível, dado que a ocorrência de pikes nos neurônios piramidais do córtex não depende apenas de uma combinação de muitos estímulos, mas de impulsos que operam de forma circular e recursiva.
Os múltiplos e interligados caminhos seguidos por cada um desses inputs (internos ou externos) fazem com que seja impossível prever com exatidão quais serão os resultados de nossa cognição, em termos de significados linguísticos, de memórias acionadas e de sentimentos provocados. Um cheiro pode se associar a uma memória de infância. Uma música que nos lembra de uma festa que se passou décadas atrás, na qual fomos muito felizes. Uma frase sobre o tempo pode desencadear um sentimento de tristeza que não conseguimos saber de onde vem.
Descrever a atividade consciente por meio da tentativa de identificar reações de causa e efeito não parece um projeto factível, visto que a tentativa de prever a atividade cerebral precisaria partir de um certo ponto inercial, a partir do qual pudesse ser calculada a interferência de um novo input. Ocorre, porém, que nosso cérebro tem uma atividade intrínseca bastante intensa, na qual vários circuitos interagem entre si, desencadeando fluxos que dependem basicamente da conformação interna de nossas sinapses, como aquelas que determinam nossa memória ou que operam as reações que interpretamos como a nossa consciência.
Como indica Nicolelis, “em qualquer momento, o estado global do cérebro determina como ele vai responder a um estímulo sensorial do mundo exterior” (2020). Quando recebemos um input ambiental, ele ingressa em um cérebro que já estava em uma atividade dinâmica, de tal forma que as sinapses ativadas dependerão de nossas emoções, de nossas reflexões, de nossas memórias. Não existe o puro processamento do estímulo ambiental, pois não existe nem o estímulo puro nem existe o processador em estado inerte.
A existência dessas múltiplas conexões faz com que seja muito difícil apreender o funcionamento neural a partir do conceito de causalidade, visto que não é possível utilizar o ceteris paribus que supomos a cada vez que tentamos isolar uma relação de causa e efeito entre dois elementos que interagem de uma forma específica, desde que todos os outros elementos estejam parados. Como sintetiza Buzsáki:
The concept of causation is especially problematic in self-organized systems with amplifying-damping feedback loops, such as the brain. Causes in such systems are often circular or multidirectional; events are not caused but emerge from the interaction of multiple elements. (Buzsáki, 2019)
O fato de que a atividade cerebral não possa ser pensada a partir de critérios determinísticos (em que um mesmo input acarretaria um mesmo output) não significa que ela não possa ser compreendida. Significa apenas que os padrões que emergem do funcionamento cerebral devem ser reconhecidos como aleatórios. Mas ser aleatório não significa ser imprevisível, dado que o nosso conhecimento do cérebro permite identificar que certos outputs são mais ou menos prováveis. Esse é o reino da estatística, que analisa os graus de probabilidade de fenômenos aleatórios. O estudo do cérebro pode revelar padrões nos outputs de nosso sistema nervoso, sendo que esses padrões serão estatísticos (medidos em termos de probabilidades) e não determinísticos (completamente previsíveis).
Esse caráter aleatório de nosso funcionamento cerebral faz com que os comportamentos dos animais nunca seja completamente previsível, mas que siga padrões gerais que podem ser identificados em termos probabilísticos. Essa é uma observação filosoficamente relevante porque é nessa imprevisibilidade que resta nossa liberdade: há elementos variados que podem impactar em nossas decisões, de tal forma que nosso processamento consciente nunca pode ser reduzido à repetição inevitável de certas reações determinadas por nossa herança genética.
Por outro lado, ele ressalta a relevância que têm para nossa sobrevivência a capacidade que nossos cérebros têm de reconhecer padrões e de reagir a eles. A capacidade de produzir circuitos neurais que respondam de maneira previsível a certos estímulos está na base da vida: produzir sistemas relativamente plásticos, capazes de repetir padrões selecionados geneticamente (e que operam fora do rico feedback de nosso córtex cerebral) e de produzir comportamentos novos, capazes de alterar nossa relação com um ambiente mutável (e, com isso, de sobreviver à constante transformação dos ambientes em que estamos inseridos).
Boa parte do funcionamento dos nossos corpos não é determinado pelos circuitos retroalimentados do córtex, mas pelo processamento feed-forward das informações produzidas tanto por nossos órgãos sensoriais quanto pelo constante monitoramento que o cérebro faz de nosso próprio corpo. A operação inconsciente do cérebro se dá por meio dessas estruturas intrínsecas de monitoramento, que permitem o metabolismo dos animais, que não operam em feedback, mas que são influenciados pelas condições do organismo, especialmente pelos vários estados emocionais.
Uma forma metafórica de falar desse sistema de monitoramento é dizer que ele produz constantemente imagens do corpo, que podem ser comparadas com os padrões armazenados em nosso cérebro. Note que aqui voltamos de uma explicação físico-química (de estímulos elétricos em feedback) para uma metáfora cognitiva (falando em termos de padrões e imagens armazenados), o que se justifica porque essa estrutura metafórica permite falarmos dos resultados das operações cerebrais, no nível do que percebemos como nossa cognição, a partir de um repertório de imagens que fazem sentido em nosso horizonte de compreensão.
Mesmo que retomemos essas imagens, não podemos perder de vista que o cérebro não opera por meio de uma representação que espelha o mundo. Aquilo que chamamos aqui de padrões indica que o cérebro produz “a simplified, customized model of the world by encoding the relationships of events to each other” (Buzsáki, 2019). Não existe uma passagem da percepção a uma representação, para depois processar imagens e gerar ações. Os inputs externos e intrínsecos desencadeiam reações que geram outputs que determinam reações corpóreas, sem passar por um estágio representativo intermediário.
Seria equivocado dizer que, quando um motorista pressiona o acelerador, o carro compreende isso como um comando de acelerar e que, em consequência, ele injeta mais combustível nos pistões. Pressionar o acelerador determina uma reação da máquina-carro, sem qualquer estágio representacional, que deve ser evitado nas descrições do funcionamento tanto de automóveis quanto dos cérebros. Por isso, devemos compreender os outputs do cérebro como resultados mecânicos de sua própria estrutura, que determina que certos inputs elétricos terão como reação físico-química determinados estímulos que alteram a conformação do organismo.
O cérebro pode ser compreendido também como uma máquina, sendo totalmente dispensável entendê-lo como um elemento mágico, como manifestação de um espírito ou como algo diverso do resultado de uma complexa interação físico-química. Mas a máquina-cérebro é muito diferente da máquina-computador, pois eles trabalham com arquiteturas de processamento diversas. Nossos computadores são máquinas que operam com um sistema de símbolos predefinido e que os operam de forma também predefinida. Conhecer o modo como um computador processa inputs permite que um programador crie instruções que façam com que o processamento da máquina gere determinados resultados que o programador considera desejável.
Quando a máquina-computador entra em funcionamento, seu estado é transformado e é possível que o mesmo input gere diferentes resultados. O resultado de duas buscas pelo mesmo argumento (“neurociência”, por exemplo) no Google pode gerar resultados diferentes, na medida em que o navegador leva em conta o histórico de pesquisas anteriores e de páginas visitadas. Todavia, é sempre possível um retorno ao estado inicial, pois a operação do sistema não modifica a própria estrutura do computador, somente a organização efetiva dos seus elementos (como as informações gravadas na memória).
No cérebro, é impossível esse retorno ao estado inicial porque a sua arquitetura de processamento é feita por meio de alterações estruturais nas redes de neurônios: novas sinapses são criadas, reforçadas ou desfeitas. Quanto mais um neurônio é ativado, mais se reforçam as suas sinapses, de tal forma que cada operação do sistema altera discretamente a estrutura do nosso processador. Parafraseando Heráclito, não se sente duas vezes com o mesmo cérebro, pois a atividade de sentir altera as nossas estruturas cerebrais de modo definitivo. No caso do cérebro, não existe uma combinação entre software e hardware: somente existe o hardware, que é modificado por meio das operações do sistema e que, por isso, não pode executar diferentes programas.
O estado global do cérebro determina como ele vai responder aos estímulos ambientais (Nicolelis, 2020), mas o caráter dinâmico desse sistema faz com que nunca sejamos capazes de identificar em nosso córtex um estado origina, que poderia ser recomposto por uma “reformatação” do hardware. Essa é a condição de nossa vida, que se desenvolve no tempo de forma irremediável, embutindo informações na nossa massa orgânica por meio de um processo irreversível de dissipação de energia (Nicolelis, 2020).
A constante interação entre os estímulos ambientais e os estímulos intrínsecos promove uma harmonização entre eles, de tal modo que a estrutura cerebral se adapta aos padrões de impulsos que são gerados por nossos órgãos sensoriais. Para alguém que mora em uma fazenda, podem ser insones as primeiras noites no centro de uma cidade, com seus sons de carros freando, sirenes de ambulâncias e vozes na calçada. Para quem mora em Copacabana, o sono pode ser drasticamente interrompido pelo som dos passarinhos às 6 horas da manhã. Nossos cérebros são capazes de converter certos ruídos usuais em nossa rotina em um pano de fundo, contra o qual se destacam os sons atípicos, que fogem ao padrão a que estamos tipicamente submetidos.
Embora nossos sistemas auditivos e visuais somente consigam observar fenômenos particulares, nosso cérebro processa esses dados de forma contínua, gerando respostas constantes a esses estímulos ambientais. Ocorre que somente alguns desses impulsos conduzem à ativação de nossos circuitos neurais ligados à atividade consciente, pois contamos com uma série mecanismos capazes de inibir a propagação de impulsos decorrentes de estímulos visuais e auditivos. De forma mais específica, contamos com neurônios piramidais cuja ativação é inibida por uma série de inputs intrínsecos, recebidos por meios dos dendritos apicais, que fazem com que muitos estímulos ambientais não produzam atividade cortical. Essa capacidade de responder de forma diversa a estímulos ambientais semelhantes permite otimizar o uso de nossa limitada capacidade de processamento cerebral, a partir de critérios de seletividade: formulamos (e atualizamos) uma série de padrões de atenção consciente, que permitem a operação de uma dialética entre fundo e figura.
O que o cérebro faz não é avaliar inconscientemente a relevância de um dado (como o som das ondas do mar ou o canto das araras), mas ativar a nossa atenção consciente apenas com relação a estímulos ambientais que fogem do padrão geral ou que se enquadram em certos padrões específicos (como a memória de um evento especialmente traumático ou prazeroso). Não se trata de uma apreciação de importância, mas apenas da operação de nossa capacidade de processamento de padrões. Nosso inconsciente não conta com critérios abstratos avaliação, mas é capaz de (metaforicamente) comparar um determinado input com outros gravados em nossa memória, de forma a selecionar que elementos que serão deslocados para uma avaliação consciente.
No livro “The ravenous brain”, Daniel Bor (Bor, 2012) defende uma tese com implicações filosóficas interessantes: a de que a consciência é uma forma de processamento cerebral especialmente ligada ao reconhecimento de padrões. Quando um organismo é dotado de um sistema sensorial que produz mais informações do que ele é capaz de processar, seu funcionamento depende do desenvolvimento de sistemas de filtragem, que permitam identificar diferentes classes de fenômenos, que serão processados de forma diversa. Alguns deles se encaixam tão perfeitamente nos padrões contidos em nossa memória que o cérebro desencadeia reações automáticas, que não passam pelo processo lento e custoso de uma análise consciente.
Porém, quando nosso conjunto de percepções, memórias e sentidos linguísticos não forma um todo harmônico, que não aponta para qualquer dos padrões neurais que despertam reações estratificadas em nosso cérebro, poderíamos entrar em uma situação de indefinição comportamental que nos desperta reações emocionais como angústia e curiosidade, que nos impelem a tomar uma decisão. A decisão é uma situação limite: o cérebro não nos oferece uma solução claramente definida nos padrões neurais que despertam sentimentos positivos e circuitos de recompensa, o que ativa os elementos do nosso córtex pré-frontal que se ligam ao exercício consciente de uma mente capaz de avaliar a situação em termos linguísticos e abstratos.
A incompletude dos sistemas de reações inconscientes e automáticas, como aqueles que regulam nosso metabolismo, parece ser uma consequência direta da extrema riqueza das combinações possíveis entre os inputs que decorrem das interações com o ambiente e com as próprias configurações de nosso sistema nervoso. Decidir é sempre dar um salto no vazio, é optar por escolhas viáveis, o que tipicamente nos dá um frio na barriga. Mas este é o custo de uma mente complexa: a impossibilidade de ter padrões claros de reação, aos quais seja possível acoplar todos os inputs que são produzidos por nosso sistema nervoso.
A simplificada descrição que fizemos do funcionamento cerebral tem por finalidade subsidiar uma hipótese que não podemos confirmar empiricamente, mas que nos parece uma interpretação razoável do fato de que parece transversal às culturas a suposição de que existe uma ordem subjacente à natureza e que as relações sociais estão inseridas nessa organização geral da realidade.
Nossa mente produz padrões. Não se trata propriamente de uma escolha, mas do próprio funcionamento de nosso cérebro. Quando estamos frente a uma série de fenômenos que parecem incongruentes, o circuito de dopamina nos oferece uma recompensa química pelo fato de apresentarmos uma resolução para a angústia despertada pelo fato de que somos incapazes de articular nossas várias percepções em um padrão consistente, que possibilita a tomada de decisões. Essa é uma descrição consistente com o que Miguel Nicolelis chama de teoria relativística do cérebro, segundo a qual:
[...] o modo de operação geral do cérebro dos mamíferos é baseado em uma contínua comparação de um modelo interno do mundo (e do corpo do sujeito) com o incessante fluxo multidimensional de informação sensorial que alcança o sistema nervoso central a cada momento de nossa vida. (Nicolelis, 2020)
Revisitamos, aqui, uma intuição de Hume: a de que a mente humana tem certas formas de atuar que lhe são próprias e que, por isso, não podemos evitar. David Hume utilizou esse argumento para indicar que temos uma tendência inata a interpretar os fenômenos em termos de causas e efeitos, que não existem na própria natureza, mas que integram nossos modos inatos de interpretar o mundo (Hume, 2001). Retomamos essa intuição para acentuar que essa é uma percepção que pode ser revisitada, a partir dos conhecimentos atuais, que levam em conta um grau de unidade mente-corpo que não era possível antes da formulação das teorias atuais sobre a atividade cerebral. Um dos pensadores que chama atenção para nossa peculiar tendência a buscar padrões no mundo é Daniel Bor:
Perhaps what most distinguishes us humans from the rest of the animal kingdom is our ravenous desire to find structure in the information we pick up in the world. We cannot help actively searching for patterns—any hook in the data that will aid our performance and understanding. We constantly look for regularities in every facet of our lives, and there are few limits to what we can learn and improve on as we make these discoveries. (Bor, 2012)
Os seres humanos normalmente interpretam a multiplicidade de informações sensoriais, emocionais e linguísticas como se elas pudessem ser integradas em uma mesma ordem. Como afirma Nicolelis:
[...] para realizar qualquer tarefa – seja calcular um movimento do braço, seja mapear uma cadeia complexa de relações causais necessária para construir uma nave espacial –, o cérebro humano constrói continuamente abstrações mentais e analogias, procurando o melhor ajuste entre a sua simulação neural interna – a sua visão do mundo – e o trabalho a executar.
Essa tendência a buscar ordem é tão grande que uma parte relevante da metodologia científica é cultivar o controle sobre nossas generalizações apressadas. A insistência na tese de que “correlação não é causalidade” somente ressalta nossa inclinação a enxergar relações de causalidade toda vez que percebemos algumas sequências de fenômenos, propensão esta que é tão forte que David Hume chegou a considerá-la inevitável, como o amor e o ódio (2001).
Quando lidamos com sistemas determinísticos, essa generalização é justificada, visto que um mesmo padrão tende a repetir-se de modo estável: a água sempre ferverá à mesma temperatura e força da gravidade da terra é constante. Porém, na maioria dos sistemas complexos que observamos, os fenômenos ocorrem de forma menos regular e previsível, pois eles são determinados por uma complexa relação de fatores causais, que não pode ser apreendida em sua inteireza. Apesar disso, nossa mente tende a realizar generalizações variadas, a partir de conjuntos muito pequenos de elementos. Nas palavras de Tenenbaum e outros, nós “build rich causal models, make strong generalizations, and construct powerful abstractions, whereas the input data are sparse, noisy, and ambiguous—in every way far too limited” (Tenenbaum et al., 2011).
Esse descompasso entre inputs ambientais e outputs cognitivos se apresenta como um mistério enfrentado por vários campos. Ele está na base da ideia de que nosso cérebro precisa contar com circuitos inatos para o processamento da linguagem, sem as quais se tornaria incompreensível o ritmo em que as crianças aprendem os padrões linguísticos, a partir de exemplos insuficientes para construir uma compreensão gramatical suficiente. Impressões semelhantes têm movido o pensamento dos filósofos há muito mais tempo, sendo que podemos interpretar alegoria platônica do mundo das ideias como uma explicação para o fato de que os seres humanos organizam de modo semelhante suas impressões do mundo, tão semelhante que dificulta supor que essa convergência possa ser explicada apenas em função de uma organização dos estímulos ambientais: somente a suposição de que há ideias inatas poderia explicar o fato de que usamos categorias classificatórias semelhantes: árvores, cavalos, barcos ou nuvens.
De fato, parece haver algo estranho no fato de que nossas mentes produzam tanta ordem, a partir de dados tão escassos (Tenenbaum et al., 2011). Uma explicação plausível é a de que nossos cérebros têm uma estrutura tal que propicia certas elaborações, produzindo saltos que geram equívocos (mapeados na literatura sobre vieses cognitivos), mas cujos resultados positivos podem lhes conferir uma capacidade adaptativa. Não fazemos apenas a passagem injustificada de correlações para causalidades, mas fazemos isso a partir de amostras tão pequenas que sequer seriam hábeis para indicar com segurança que existe correlação entre os fenômenos estudados. Não é de todo incomum que tracemos relações de causalidade a partir da observação de um fenômeno apenas: se eu me curei de uma doença após tomar um medicamento, costumamos inferir que há causa e efeito entre fármaco e cura.
Quando um presidente da república sugere que há evidências no sentido de que hidroxicloroquina é um tratamento eficaz para COVID-19, essa afirmação parece plausível. Entretanto, estudos sugerem que mais de 95% das pessoas que tomam hidroxicloroquina se curam da COVID em poucos dias, sem ter quaisquer complicações, independentemente de tomarem qualquer medicamento. Apesar disso, a tese da eficácia da hidroxicloroquina se manteve no imaginário de muitas pessoas, reforçada pelo fato de que várias pessoas afirmam que tomaram esse fármaco e se curaram em poucos dias, o que parece formar um padrão geral.
Inspirado no movimento do Flying Spaghetti Monster, um amigo meu decidiu usar a mesma lógica afirmando que ele tomou sorvete e hambúrguer e que, portanto, acreditava que esse era um bom tratamento para COVID. Todavia, pessoas que acreditavam na eficiência da hidroxicloroquina (e de outros tratamentos com nomes respeitáveis, como azitromicina ou ivermectina) não eram propensas a admitir a potencial eficiência do sorvete. Empiricamente, parecia tratar-se de uma generalização igualmente inválida, pois não era baseada em uma metodologia capaz de isolar a influência da cloroquina ou do sorvete. Porém, parece que nossa mente não enxerga essa proximidade, visto que são argumentos distintos a generalização de efeitos de fármacos (cuja influência sobre doenças é esperada) e de comidas (cuja influência parece implausível).
A diferença não está na estrutura do argumento nem na metodologia de observação: ela se encontra nos pressupostos, implícitos ou explícitos, que guiam a generalização. Se nossa mente fizesse generalizações tipicamente inúteis, é difícil imaginar que esse tipo de cognição tivesse sobrevivido ao longo de milênios de seleção natural. Quando uma relação é percebida como plausível, nosso viés de confirmação exige poucos argumentos para aceitar que determinados elementos esparsos a confirmam. Quando a relação é percebida como implausível, somos muito mais exigentes em termos de fundamentação, ao ponto que muitas vezes rejeitamos conexões que são efetivamente baseadas nos fatos.
Essa observação sugere que não temos uma tendência geral a ver ordem em todo tipo de convergência, mas que utilizamos nossa experiência para avaliar se determinadas generalizações são plausíveis ou implausíveis. O viés de confirmação gera uma espécie de inversão do ônus da prova: onde eu intuo que existe ordem, qualquer indício reforça essa convicção e nos tornamos muito refratários a explicações que neguem nossa convicção de que existe uma organização imanente que permite explicar vários fenômenos a partir de uma matriz explicativa comum.
Outro índice dessa capacidade, ressaltado por David Bor, é o fato de que os cérebros humanos se deleitam com jogos de resolução de quebra-cabeças. Esses jogos envolvem o pressuposto de que existe uma ordem, sendo que o modismo atual dos jogos de palavras reforça essa percepção. Utilizaremos aqui dois exemplos: Wordle (cujo correspondente em português é o jogo Termo) e Semantle (cujo correspondente em português é o jogo Contexto).
No Wordle/Termo, o programa sorteia uma palavra de cinco letras (que permanece oculta), e nossas tentativas de identificá-la são respondidas com indicações sobre se as letras que usamos existem na palavra e se estão no termo sorteado. Partimos de um campo vazio: não sabemos qual é a palavra, mas sabemos que existe um padrão e sabemos as regras do jogo. Curiosamente, algumas tentativas estrategicamente calculadas nos mostram pistas importantes da estrutura da palavra oculta, que muitas vezes é descoberta após 4 ou 5 tentativas. O pressuposto do jogo é que existe um elemento oculto e o fato de que nossa mente se compraz em desvendar o quebra-cabeça está nas milhares de pessoas que jogam Wordle/Termo todos os dias e que depois postam nas redes sociais os seus resultados: gostamos de resolver enigmas e também de obter o prestígio social ligado a quem consegue encontrar rapidamente os padrões. Não é por acaso que essa capacidade de desvendar padrões rapidamente foi a estrutura básica do teste de inteligência durante muitos anos.
O outro jogo de que falamos é ainda mais abstrato e interessante para nosso argumento: partimos novamente de uma palavra oculta, mas as tentativas de encontrá-la não são sintáticas (pela existência e disposição das letras), mas semânticas (ligadas ao significado). Um dos instrumentos mais usados de machine learning é a biblioteca word2vec, na linguagem Python, que analisa séries de textos e retorna um índice de proximidade (chamado vetor) entre uma palavra e as demais. O jogo novamente começa do vazio, mas agora as jogadas são ilimitadas: em cada uma delas, apresenta-se uma palavra e obtém-se uma informação sobre o seu grau de proximidade com a palavra oculta.
O interessante é que cada palavra é ligada à oculta, mas o índice de proximidade não diz nada sobre a proximidade entre umas e outras. Papel pode ser próxima de lápis e também de barco (pelos barcos de papel) e de cisne (por causa dos origamis), mas pode se que lápis, cisne e barco sejam palavras muito distantes entre si. O desafio do jogo é que, pela sorte, vamos descobrindo palavras próximas, mas é muito difícil estabelecer o padrão, pois não sabemos a relação existente entre as várias palavras, o que nos força a explorar diferentes hipóteses de proximidade e diferentes clusters de palavras (animais, roupas, cores, etc.), para tentar chegar mais próximo da palavra oculta. Esse é um desafio cognitivo considerável e temos uma resposta emocional intensa quando alcançamos esse objetivo.
Voltando para a filosofia, vemos que esses jogos operam de modo convergente com as descrições que as abordagens hermenêuticas fazem sobre a nossa forma de compreender: nossa atividade está normalmente envolvida na busca de um significado intrínseco, que supomos que pode ser encontrado a partir de uma análise cuidadosa do texto, das várias pistas que ele nos oferece, das várias conexões com outros textos. Segundo Gadamer, nós observamos uma expressão linguística (uma frase, um nome, um verbo, etc.) e projetamos sentidos, que são avaliados em termos de sua conexão com a rede de sentidos que compõem o nosso horizonte de compreensão contido em nossas memórias.
Quando o sentido se mostra acoplado a esse contexto, ele é integrado a esse horizonte, de forma semelhante ao modo como os neurônios fazem novas sinapses. Não pensamos duas vezes com o mesmo cérebro aplicamos duas vezes o mesmo contexto, visto que cada processo de projeção e acoplamento gera novos elementos. Esse resultado não nos conduz a uma interpretação correta, mas a produção de sistemas cada vez mais ricos, no sentido que darão respostas diversas ao mesmo input. O que se chama de círculo hermenêutico é uma operação de feedback, tendo em vista que os resultados da interpretação alteram os critérios de interpretação, em um processo que não é linear nem previsível, tal como nosso processamento cerebral.
A mente que opera esse processo de interpretações e reinterpretações costuma vivê-lo como uma espécie de jogo, de um quebra-cabeça em que se busca o sentido imanente das coisas, a compreensão objetivamente correta de um texto. O pressuposto que guia a experiência é o de que existe um sentido a ser buscado, visto que a motivação para que se realize esse movimento é justamente nosso interesse em desvendar o mistério do sentido: e o mistério supõe a existência da resposta, mesmo que ela seja inalcançável (ao menos de forma plena). Porém, o que a hermenêutica nos oferece é uma visão externa a essa questão, ressaltando que esse processo que se vive como uma busca por sentidos consiste, efetivamente, em um processo que produz novos sentidos. A hermenêutica de Gadamer supõe que não existe um sentido objetivo a ser buscado, mas que a busca gera interpretações e amplia nossas capacidades de agir no mundo.
A hermenêutica é uma concepção que ressignifica nossa atividade interpretativa, mas seu impacto prático é limitado, na medida em que a maioria dos nossos esforços de interpretação é motivado pela crença (ao menos pela esperança) de que exista um sentido ali a ser desvendado. O deleite que os jogos de quebra-cabeça nos causam indica que somos movidos não apenas pela utilidade de nossas respostas, mas também pela recompensa intrínseca se desencadeia quando resolvemos um mistério.
Essa descrição hermenêutica é bastante compatível com a descrição física de como opera nosso sistema neural:
\1. um estímulo ambiental desencadeia uma reação em cadeia dos neurônios, ativando determinadas sinapses;
\2. sinapses que são ativadas se reforçam, liberando mais neurotransmissores e, com isso, reforçando o impacto de um impulso que ative os mesmos circuitos que foram utilizados, o que é entendido como a fixação de uma memória;
\3. um novo estímulo ambiental, semelhante ao primeiro, desencadeia novamente uma ativação da mesma rede neuronal, agora fortalecida, o que gera um feedback intenso para o córtex;
\4. esse feedback desencadeia respostas semelhantes, o que cria uma espécie de ressonância, que amplifica essas respostas ao ponto de se transformar em uma tempestade, cuja intensidade reforça todos os pontos dessa rede e manifesta uma convergência entre as reações dos neurônios de várias redes.
Uma tempestade intensa é o correspondente físico da operação interpretativa de acoplamento recíproco do texto ao contexto: o contexto é transformado pela incorporação das novas interpretações e pelo reforço dos elementos que foram usados para essa conclusão. Na concepção hermenêutica, o estranhamento provocado por elementos aparentemente desafiadores é sucedido por uma integração de todos os elementos na mesma ordem, e essa dinâmica de transformação dos contextos interpretativos a partir dessa incorporação de novos elementos não é tratada como um método de trabalho, mas como parte da condição de um ser que interpreta.
A convergência dessas percepções sugere que somos seres que organizam as informações em sistemas simbólicos, obtendo respostas de satisfação especialmente quando são capazes de integrar elementos que pareciam desconexos. Nós observamos o mundo como se houvesse uma ordem a ser desvendada, um mistério a ser descoberto, uma estrutura a ser conhecida.
Temos uma intensa convicção de que a organização que nosso cérebro realiza dos fragmentos do mundo corresponde a uma ordem natural imanente. Nossa observação dos variados fenômenos nos conduz a integrar cada um deles dentro dessa ordem, a tal ponto que mesmo os taoistas, pensadores extremamente céticos aos limites de nossa compreensão, insistiam na tese de que era preciso reconhecer a existência de um caminho interior, de uma organização imanente e necessária da própria natureza. Talvez essa seja uma ordem meramente ficcional, mas trata-se de uma ficção que produz uma prática interpretativa capaz de produzir repertórios de comportamentos que se mostraram adaptativos, ao longo do tempo.
Essa crença na ordem impessoal é substituída, em algumas culturas (como na judaico-cristã), pela crença em um poder absoluto, que determina a ordem natural das coisas. De um modo ou de outro, encara-se o mundo como se ele fosse regido por um conjunto de regras que operam simultaneamente na esfera cósmica (definindo as transformações da natureza) e no plano social (definido os padrões morais de interação entre as pessoas). Frente a e essa capacidade de identificar padrões onde eles não existem, Gershaman se perguntou:
The ability to detect patterns in ambiguous data is one of the most powerful tools in the arsenal of the human brain. Does this tool run amok, leading us into false beliefs about non-existent patterns? (Gershman, 2021)
Sua resposta é a de que sim, nossa tendência de identificar padrões nos conduz a perceber uma organização em conjuntos desorganizados de dados. Embora devamos reconhecer a dificuldade em extrair consequências cognitivas das formas de processamento cerebral reveladas pelas neurociências (Gershman, 2021), parece bastante compatível com organismos com um cérebro que funciona a partir de um mapeamento do mundo em sua vasta rede neuronal, a crença invertida de que o mundo interior espelha uma ordem natural, quando nosso conhecimento de neurociências indica que nossas descrições linguísticas do mundo externo espelham o funcionamento de nosso próprio sistema nervoso. Tudo isso nos leva a crer que o fluxo incessante do Tao parece mais ser um reflexo de nossos padrões cognitivos que um elemento efetivo da realidade.
2. Política e Natureza
1. Zoon politikon
Uma das frases mais repetidas de Aristóteles é a de que o homem é zoon politikon, ou seja, um animal político (Aristóteles, 2006). Essa afirmação parte da ideia de que existe uma ordem natural que confere a cada ente o modo de ser que lhe é próprio.
Os filósofos antigos perceberam que, quando observamos a realidade, o que percebemos são múltiplos objetos singulares, cada qual dotado de características particulares. Toda pessoa é única, assim como única é toda árvore e todo barco. Apesar dessa radical singularidade, nós agrupamos certos conjuntos de objetos dentro de classes: as palavras árvore, barco e pessoa não designam objetos individuais, mas conjuntos de objetos que compartilham certas características.
Uma abordagem nominalista descreve essas classificações ressaltando que a única coisa comum entre os vários objetos designados pela palavra árvore é que nós os chamamos pelo mesmo nome. Sucupiras, cajueiros e ipês seriam elementos que classificamos arbitrariamente em um mesmo conjunto, cujos limites são determinados pelas características que decidimos ligar ao conceito árvore. Nessa perspectiva, cada objeto-árvore pode existir independente de nossas culturas, mas o conceito de árvore é entendido como um produto cultural.
O mesmo se diga de sucupira, cajueiro e ipê, que também são nomes que designam conjuntos. Sucupira-branca e sucupira-preta são árvores bastante diversas, mas que são abrangidas pelo conceito de sucupira. Os ipês podem ter flores de cores diferentes e, por sua vez, há vários tipos de ipês-amarelos, que diferem entre si pela forma das flores e dos caules. Por mais que cada objeto-árvore seja um ser singular, nós os percebemos como uma ocorrência particular do padrão-árvore. Quando eu vejo a grande sucupira que existe no meu jardim, ao mesmo tempo que meus olhos observam um ser único, meu cérebro o classifica como um elemento das categorias planta, árvore e sucupira.
Esse processo envolve a percepção de que a minha sucupira (note que minha sucupira é um nome próprio, que designa um objeto específico) é uma sucupira (ou seja, um objeto que tem as características dos seres que classificamos como sendo sucupiras). Esse tipo de classificação é útil porque permite a construção de um conhecimento abstrato sobre sucupiras, que me possibilita fazer inferências dedutivas razoavelmente seguras acerca da minha planta. Temos um conhecimento geral sobre árvores (como a sua necessidade de água, de adubação e de sol), de tal forma que posso inferir certas informações sobre a minha árvore, sem ter de construir um conhecimento específico sobre ela.
Imagino que possa haver um saber especializado sobre técnicas de poda de sucupiras, que levem em conta as peculiaridades da densidade de sua madeira, dos seus ritmos particulares de crescimento ou das chances de ela ser atacada por cupins. Mas é provável que possamos aplicar a ela um conhecimento mais geral, sobre técnicas de poda de árvores, que foram desenvolvidas a partir da observação de outros tipos de plantas com caules grossos e pesados troncos de madeira. Essa possibilidade de fazer inferências sobre um objeto específico, a partir de nossos conhecimentos acumulados, é um elemento nuclear da cognição humana.
Mas o que nos permite fazer esse tipo de inferência? Talvez tudo o que eu saiba sobre adubação de plantas não se aplique às quaresmeiras (ao menos às três que já tentei plantar e morreram em menos de um ano). Talvez seguir as regras usuais de irrigação impeça que os ipês do meu jardim floresçam, visto que seus ritmos metabólicos são adaptados aos longos períodos de seca do cerrado. Talvez a correção da acidez, boa para árvores em geral, seja mortal para o pequizeiro que observo enquanto escrevo essas linhas.
Se as inferências feitas pelos cérebros humanos fossem mais perigosas do que úteis, nós não estaríamos aqui escrevendo e lendo essas frases. Porém, todas as pessoas que já foram surpreendidas por suas inferências incorretas (ou seja, todos nós) sabem que, por maiores que sejam nossos cuidados, as conclusões que projetamos por vezes se mostram equivocadas. Entretanto, apesar das dificuldades inerentes ao raciocínio dedutivo, é com base nessa passagem de conhecimentos gerais para afirmações particulares que enfrentamos as situações mais diversas: irrigar plantas, julgar pessoas ou enfrentar exércitos.
Eu escrevo essas linhas no quadragésimo dia da guerra desencadeada pela invasão russa no território ucraniano. A “operação militar especial” na Ucrânia é composta por várias batalhas, bombardeios, acusações, pressões, sítios, etc. A combinação de hostilidades deste pode gerar um conjunto que designamos pelo nome genérico de guerra. Mas cada guerra é diferente da outra, cada batalha é particular, cada morte é singular em sua ocorrência.
A experiência da invasão da Crimeia pela Rússia pode ter gerado expectativas razoáveis de que o exército ucraniano não arriscaria a vida dos soldados e civis frente a uma agressão promovida por um adversário com forças armadas tão poderosas quanto as russas. A projeção de que a Ucrânia cederia em poucos ao ataque russo mostrou-se rapidamente equivocada. Uma situação tão complexa quanto uma guerra é sujeita a tantas variáveis que nossas melhores previsões se mostram pouco seguras. Entretanto, a ausência de previsões nos deixa em uma situação ainda pior: o que nos restaria seria tomar decisões aleatórias ou permanecer inertes.
Todos os seres vivos precisam adotar cursos de ação baseadas em conhecimentos limitados. Além disso, temos uma premência temporal: mesmo quando não estamos frente a situações de emergência, raramente podemos adiar nossas decisões pelo tempo que seria necessário para conhecermos a fundo todas as variáveis que determinam as consequências de nossos atos.
Tendo em vista que precisamos tomar nossas decisões com base em conhecimentos e tempos bastante limitados, precisamos de estratégias cognitivas que viabilizem decisões razoavelmente rápidas e precisas. Nossas generalizações apressadas são um instrumento desse tipo, e não é por acaso que nosso cérebro produz inferências a partir de dados que seriam insuficientes para uma conclusão lógica rigorosa, mas que são percebidos como uma justificativa razoável. Uma das principais bases dessas inferências é o fato de que percebemos cada objeto como um ser único (com existência singular no mundo) e que também os percebemos como ocorrência de um padrão.
Mas este padrão, é algo que existe no mundo ou ele é apenas um artifício classificador da linguagem? A sensibilidade nominalista, como indicado nos parágrafos anteriores, aponta para essa segunda abordagem. Já a sensibilidade dos antigos lhes indicava uma solução diferente: os padrões não são apenas critérios classificatórios, mas designam certos modos de ser. Não lhes parecia uma descrição adequada de nossas atividades cognitivas a afirmação de que nós observamos certos objetos e os classificamos como humanos, dando um nome arbitrário a seres que têm certas características.
A abordagem típica dos gregos partia da intuição de que os nomes não são elementos arbitrários, visto que uma palavra somente seria um rótulo adequado quando ela apontasse para conjuntos de objetos que compartilham o mesmo modo de ser. Pode ser arbitrário que uma cultura chame árvore de tree ou de arbre ou de árbol, mas não parecia arbitrário a Platão e Aristóteles que as variadas culturas agrupassem oliveiras, carvalhos e figueiras dentro do mesmo conjunto: a nomeação deveria respeitar a ontologia, ou seja, o modo de ser próprio dos objetos.
Partindo da ideia de que existe uma ordem natural, os antigos consideravam que o que torna as árvores reconhecíveis como um grupo determinado (independentemente do nome que damos a ele) é o fato de que elas compartilham certas características fundamentais, que são definidas pela própria ordem natural. O padrão-árvore não seria uma construção linguística arbitrária, mas seria parte da própria ordem natural. Por trás da singularidade de cada objeto-árvore e de cada ente humano, devemos reconhecer o fato de que eles compartilham um certo modo de ser com os demais objetos que naturalmente compõem o mesmo conjunto.
Árvores não são o melhor exemplo porque não há um conteúdo moral na diferenciação entre uma árvore e um arbusto. Hibiscos serão árvores? E bananeiras? Podemos ter dificuldades classificatórias, mas elas não alteram fundamentalmente nossas vidas. O mesmo não ocorre com conceitos como justiça ou legitimidade, cuja definição impacta diretamente em nossos direitos e deveres, em nossa potencial submissão ou revolta perante os governantes. A existência de um conceito objetivamente correto de verdade ou de justiça nos ofereceria um parâmetro objetivo para guiar nossas condutas políticas e morais.
Nossa forte convicção no sentido de que existe uma ordem natural estimula a convicção de que esses conceitos objetivos devem fazer parte da ordem imanente das coisas. Se existe um tao, então existe um fluxo natural de cada tipo de coisa, que deve seguir o caminho que lhe é próprio. Se existe um rta, cada ser humano tem um dharma que lhe cabe cumprir. Se existe uma ordem imanente no mundo, nossas descrições da physis não devem usar conceitos arbitrários, mas categorias que reflitam o próprio modo de ser das coisas.
Se existe um deus criador que definiu para o mundo uma certa ordem, então as palavras não devem ser rótulos arbitrários: elas devem veicular conceitos racionalmente talhados para refletirem as características compartilhadas por objetos que têm a mesma forma de ser: gatos, homens, atos justos, pecados, deveres. Essa percepção estimula a construção de modelos descritivos que entendem que cada ser tem uma existência singular (com suas características singulares), mas que todo objeto tem uma essência compartilhada com os demais elementos que compõem um mesmo conjunto. Nesse contexto, descobrir a essência de um objeto é esclarecer o modo de ser que lhe é próprio: as características que definem um homem enquanto homem, um gato enquanto gato, uma verdade enquanto verdade.
Essa abordagem ontológica permitia afirmar que os variados seres humanos, apesar de suas particularidades idiossincráticas, compartilhavam uma essência comum. Os antigos gregos se perguntavam sobre o ser, sobre os modos de ser que são próprios de uma categoria natural de entes. Os nomes dessas categorias poderiam ser apenas rótulos arbitrários: direito, law, jus, droit, etc. Mas as próprias categorias designadas por estes rótulos deveriam corresponder a suas características naturais.
Esse tipo de construção revela que as estruturas de compreensão gregas são baseadas em uma primazia do ser e não do nomear. É o fato de os seres humanos serem assim como são que nos permite identificar que todas as pessoas têm uma característica essencial que podemos nomear como humanidade. As pedras têm uma pedridade, as árvores têm uma arvoridade e essas essências são parte da própria ordem natural cuja existência parece evidente a nossas culturas.
A ordem natural define as qualidades que conferem plantidade às plantas, avidade às aves e humanidade aos homens, sendo que este conjunto de propriedade sé percebido como imutável. Por mais que as organizações sociais e familiares se alterem ao longo do tempo, a humanidade das pessoas se apresenta como uma característica perene, que não pode ser alterada e que deve ser respeitada de modo universal.
Nas concepções que partem da intuição de que existe uma ordem natural subjacente ao mundo, o nominalismo parece uma hipótese absurda. Para Aristóteles, por exemplo, a ordem eterna e natural das coisas constitui-se de tal forma que os homens sempre foram e sempre serão animais cuja qualidade distintiva é serem políticos: somente dentro da polis é que os indivíduos podem alcançar a realização plena das características que integram a sua humanidade. Vivendo isoladamente, os indivíduos poderiam se tornar bestas ou deuses, mas não se tornariam propriamente humanos (Aristóteles, 2006). Tampouco havia espaço para que as pessoas alcançassem sua humanidade em organizações demasiadamente extensas, como o Império Aquemênida, em que todas as pessoas eram espécies de objetos submetidos aos desígnios do monarca persa. Para o Estagirita, somente existe poder propriamente político nos espaços em que a relação de autoridade não se exerce sobre escravos, mas sobre “pessoas livres e iguais”.
Mas não devemos aqui nos enganar pela interpretação moderna da natureza humana: Aristóteles não dizia que os seres humanos são indivíduos naturalmente livres e que, por isso, decidimos constituir sociedades políticas. A polis não é fruto de uma decisão, de um ímpeto associativo, mas uma decorrência necessária de nossa própria natureza. O ateniense é parte da polis assim como o estômago é parte de nosso organismo: ele é parte de um sistema naturalmente constituído, e não da agregação artificial de elementos autônomos. A afirmação aristotélica é a de que “é evidente que a polis é uma criação da natureza e que homem é, por natureza, um animal político” (Aristóteles, 2006).
Pensar na pessoa isolada da comunidade política é como pensar no olho, isolado do organismo que ele integra. Essa é uma abstração possível, mas as características próprias de qualquer órgão animal devem ser compreendidas a partir de suas relações com o todo. Na concepção grega, havia uma inscrição direta da ordem social na ordem natural, de tal forma que a cidade não era menos natural do que a pessoa: ambas eram parte da grande ordem cósmica. Enquanto os modernos acentuam a liberdade natural dos indivíduos, Aristóteles afirmava que na ordem da natureza, a cidade se coloca antes da família e antes de cada indivíduo, pois que o todo deve, forçosamente, ser colocado antes da parte (Aristóteles, 2006).
Esse primado da ordem natural fazia com que a filosofia grega fosse dotada de uma historicidade limitada. Havia mitos de origem, que indicavam o modo como os homens e as sociedades foram criados, e tais narrativas originárias encontram eco em filósofos como Aristóteles, que estabeleceu uma narrativa que até hoje integra o senso comum: as famílias são organizações naturais voltadas a suprir as necessidades das pessoas, sendo que as famílias se unem para formar aldeias multifamiliares e essas aldeias se reúnem naturalmente na forma de cidades, que têm a função natural de assegurar a vida de seus habitantes (Aristóteles, 2006).
Embora Aristóteles indique a existência de um período formativo anterior, não se trata de analisar com a condições ambientais e internas interferiram nos modos de constituição da polis grega, mas de uma narrativa de como era inevitável que a polis grega houvesse se tornado justamente o que ela é.
Além disso, admitir o caráter natural das organizações sociais não significa dizer que toda forma existente de comunidade siga os parâmetros naturais, pois é possível que as pessoas se organizem de forma contrária à ordem natural, o que fatalmente gera problemas. Inclusive, uma das formas mais comuns de introduzir vários tipos de sociedade em uma mesma ordem natural é identificar que elas representam diversos estágios, dentro de uma linha evolutiva. Nossa cultura está repleta de abordagens desse tipo, que analisam as culturas antigas como se fossem antecedentes das instituições atuais.
Esse é um tipo de narrativa que apresenta a origem das estruturas políticas como a realização necessária de uma essência natural. Trata-se de um exercício do que Hespanha chama de história retrospectiva (Hespanha, 1993), na qual partimos de uma análise da estrutura contemporânea de uma ordem social e reconstruímos o passado como se ele se tratasse de um caminho necessário para a constituição do presente. Como o passado é apresentado como uma espécie de preparação para o presente, as sociedades mais antigas são vistas como rascunhos, tentativas imperfeitas de realizar os modos de ser que viriam a ser concretizados de formas mais avançadas pelas nossas próprias organizações sociais.
O reconhecimento de que os seres humanos têm um conjunto de atributos essenciais não moveu Aristóteles a compendiar as várias formas pelas quais as pessoas organizaram suas comunidades. Seu ímpeto foi investigar quais são as formas de organização que podem realizar a essência humana e, por isso, estariam de acordo com a própria ordem natural. Quando escreveu A Política, Aristóteles não buscava apenas descrever os variados modelos de interação humana, mas de definir os limites em que uma comunidade poderia ser um espaço no qual os cidadãos poderiam exercer plenamente as qualidades que lhe definem com pessoas.
Quando se adota um marco essencialista, a investigação adequada das organizações sociais não pode ser meramente descritiva, visto que a função social da filosofia não é apenas produzir conhecimento: trata-se de propor alterações sociais que nos aproximem efetivamente dos padrões estabelecidos pela ordem natural. A filosofia clássica nunca teve a pretensão objetiva do discurso científico contemporâneo, que se contenta em oferecer explicações causais para fenômenos observáveis. Sua pretensão sempre foi normativa: desvendar as essências dos fenômenos e os valores inscritos na ordem do mundo não nos coloca em busca de compreender a realidade como ela é, mas na busca de identificar os padrões que deveríamos seguir.
Por mais que os filósofos divirjam acerca do que comporia efetivamente a ordem imanente do mundo, a filosofia que herdamos dos gregos esteve constantemente envolvida no desafio de descrever os elementos que compõem essa ordem natural e imutável, na qual as sociedades humanas deveriam sempre se espelhar.
2. Zoon politikon?
A historicidade retrospectiva e evolutiva dos antigos teve grande eco em uma modernidade que acreditava ter finalmente conseguiu determinar as formas naturais de organização política. No lugar da prioridade da polis, estabeleceu-se a prioridade dos direitos individuais e o caráter associativo do Estado, o que era incompatível com as teses políticas de Aristóteles. Nesse contexto, os velhos mitos de origem foram reeditados, na forma dos modernos mitos contratualistas, que nos contam o modo pelo qual as sociedades foram naturalmente constituídas e que, portanto, devemos obediência às autoridades estatais.
Essa abordagem retrospectiva marcou a filosofia moderna em sua curiosa jornada em busca de justificativas teóricas que permitissem uma autocompreensão das formas de organização política europeias como o ápice de um processo evolutivo social, por meio do qual construímos ordens políticas cada vez mais adequadas a nossa própria racionalidade. Ao longo da modernidade, surgiram várias teorias de caráter evolutivo, que estudavam a história antiga em busca de compreender os vários patamares que precisariam ser trilhados, no sentido de uma sociedade sair do estágio atrasado dos povos selvagens e construir, gradualmente, uma civilização.
A estrutura dessas narrativas, que ainda permeiam o senso comum, é baseada em uma releitura particular da metafísica grega, na qual os seres humanos são dotados de uma natureza determinada e a história pode ser lida como a decorrência necessária dessa natureza primordial. Esse tipo de abordagem está mesmo nas versões mais reflexivas da modernidade, como em Hume, para quem as estruturas de nossa racionalidade definem partes relevantes de nossa sociabilidade, tornando inevitável a emergência cultural de determinados traços.
No século XIX, fixou-se a tese de que existe uma linha evolutiva que representa uma progressão, desde sociedades mais primitivas até sociedades mais evoluídas. Uma das teorias mais célebres é a tese de Augusto Comte de que passamos por três estágios civilizacionais: teológico, metafísico e científico (Comte, 1982). Essa particular leitura da história como progresso, muito presente nas várias versões do positivismo, gerou uma especial fixação na tentativa de identificar os patamares evolutivos a serem trilhados de forma linear.
A imagem otimista de uma modernidade que se realizava como progresso rumo à plena realização de nossa natureza foi amplamente difundida e inspirou o engajamento das pessoas em um ideal modernizador que seguiu vigorosamente até a Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra é um marco de revisão da relevância social do progresso científico, pois tornou-se patente que as novas técnicas embutidas uma possibilidade ampliada de destruição e sofrimento. Os resultados da II Guerra Mundial acirraram essa ambiguidade, colocando em risco a interpretação moderna de que a história humana como a realização gradual de uma racionalidade. O que havia de racional em elevar o poder destrutivo de nossas armas até o ponto de colocar em risco a sobrevivência da humanidade?
Os desafios sociais que emergem no final do século XX colocaram em perspectiva a autoimagem de um ocidente triunfante. Em 1929, Sigmund Freud escreve um texto no qual identificou que se ampliava, na sociedade europeia, o reconhecimento de que o avanço científico “não elevou o grau de satisfação prazerosa que esperam da vida, não os fez se sentirem mais felizes” e que, por isso, “seríamos bem mais felizes se a abandonássemos e retrocedêssemos a condições primitivas”(Freud, 2010).
A ideia de que a verdadeira felicidade envolveria o retorno a uma condição primitiva é tudo menos nova. A antiga mitologia cristã já era baseada na ideia de houve uma condição paradisíaca original, rompida pelo fato de que os desejos humanos eram incompatíveis com este paraíso, que permanece como horizonte de uma situação social desejável. Um elemento relevante do confucionismo era a afirmação de que a sociedade estava se desviando da ordem natural e que, portanto, era preciso um esforço voltado a evitar que as tradições se desagregassem.
Podemos chamar de restaurador esse sentimento de que existe um descompasso entre sociedade e natureza, que exige de nós um esforço de promover uma restauração dessa unidade perdida. No final do século XVIII, o processo de modernização da sociedade europeia foi sentido como uma espécie de ruptura das sensibilidades tradicionais, sendo denominando romantismo o movimento restaurador que apontava como desejável um retorno às virtudes primitivas, mais ligadas à própria natureza que os desvios impostos por uma sociabilidade artificialmente construída.
A percepção de que a modernidade representaria a realização inevitável de uma natureza humana racional foi a ser criticada em várias frentes, por visões que podemos chamar de conservadoras, na medida em que defendem a necessidade de preservar os valores naturais, contra os desvios decorrentes das pressões contemporâneas. O longo século XIX promoveu uma ruptura de vários modelos tradicionais de organização, no qual as sociedades que ganharam maior projeção foram transformadas por uma revolução industrial que alterou as formas de produção, por uma urbanização que alterou as relações sociais. Nesse processo, continuou a se desenvolver a antiga dialética entre a pretensão de que os governos organizem a sociedade de forma eficiente, mas que ao mesmo tempo respeitem a ordem natural em que estamos inseridos. Essa foi uma tensão que caminhou para uma crescente historicização de nossas percepções, no qual a ideia de uma ordem imanente de valores foi sofrendo golpes cada vez mais duros.
Uma das críticas mais mordazes à noção de ordem natural decorreu das pesquisas de Charles Darwin, que colocou em cheque a antiga e respeitável noção de natureza humana. Após Darwin, a ideia de zoon politikon pôde adquirir um novo significado, pois o reconhecimento de que nossa espécie evoluiu a partir de outras é incompatível com a antiga tese de que as ordens sociais devem espelhar a ordem natural porque elas devem realizar a natureza imutável dos seres humanos. Não existe uma natureza humana inscrita em uma ordem eterna de valores, pois todas as características dos Homo sapiens decorrem do longo processo histórico pelo qual a nossa espécie se formou.
Essa é uma perspectiva histórica que se radicaliza com a concepção da relação gene-cultura, que nos indica a inviabilidade de pensar que os seres humanos primeiro surgiram como entes isolados e somente depois decidiram se unir. O processo de seleção natural que definiu nossa conformação genética não ocorreu antes de nossa organização social, mas paralelamente a ela. Os seres humanos descendem de espécies que já viviam em comunidade e que somente deixaram descendentes na medida em que sua organização social permitiu a sobrevivência dos indivíduos.
Como a sociabilidade é uma das características de nossa espécie, podemos manter a expressão aristotélica do animal político, mas invertendo seu significado: não somos políticos por causa de nossas características essenciais; somos políticos porque a ação coordenada de vários indivíduos sem mostrou adaptativa ao nosso contexto ecológico. Nossas formas específicas de sociabilidade não decorrem de nossas habilidades linguísticas ou de nosso universo simbólico, pois todos esses elementos foram desenvolvidos ao mesmo tempo.
A seleção natural não é um processo que descreve a evolução de indivíduos, mas de espécies. A acumulação de variações individuais gera uma modificação na prevalência de certas características e nas estruturas sociais decorrentes da interação entre os indivíduos. Os Homo sapiens são uma espécie gregária, como os demais primatas.
Reconhecer que a sociabilidade é uma das características estruturais de nossa espécie pode justificar a qualificação dos Homo sapiens como zoon politikon, mesmo que abandonemos a ideia filosófica de que existe uma ordem imanente. Contudo, é preciso inverter os termos da investigação aristotélica: não faz sentido buscar as formas naturais de organização social, pois nossa sociabilidade não é a expressão de certos princípios imutáveis.
Temos um cérebro plástico, que pode elaborar universos simbólicos muito diversos e, com isso, estabelecer padrões muito variados de organização social. Nenhum deles é natural, nenhum deles é eterno, nenhum deles revela a nossa essência imutável. O reconhecimento da historicidade de nossa condição exige que controlemos nossa tendência a enxergar uma ordem imanente em tudo o que observamos. Em vez de procurar uma essência humana, na base de nossa sociabilidade, nos dedicaremos a compreender melhor os processos que nos levaram a construir as formas de organização social que temos hoje no mundo.
As abordagens jurídicas normalmente seguem uma estrutura metafísica, inspirada na essência política dos homens e que afirma o antigo adágio de que "ubi societas, ibi jus", ou seja, de que onde existe sociedade, há direito. Essa percepção parte do pressuposto de que a existência de sociedades é algo natural e, portanto, o direito corresponde a uma decorrência necessária da natureza humana. A teoria jurídica moderna não se pergunta sobre a necessidade de haver um governo, nem sobre as origens efetivas das relações de dominação política: a existência de governos é entendida como uma decorrência necessária da natureza humana, e o que nos cabe é apenas conformar os governos à natureza, garantindo que eles sejam legítimos.
O governo é legítimo quando segue a ordem natural, cuja existência não é sequer problematizada. Rousseau, por exemplo, é um dos maiores críticos da naturalização que Aristóteles, Hobbes e Grócio fazem do poder político, mas ele próprio afirma que "a mais antiga de todas as sociedades e a única natural é a família". A família é natural, o poder dos pais sobre os filhos é natural, a submissão da mulher é natural.
Para os gregos, não havia alternativa à sociabilidade porque os homens eram "animais políticos" (Aristóteles, 2006). Portanto, as pessoas precisam viver dentro de organizações sociais e, por isso, têm o dever de submeter-se à lei da cidade: nessa perspectiva, a relação de governo (ou seja, a existência de governantes e governados dentro de uma organização social) era entendida como natural. Tão natural quanto a autoridade dos pais sobre os filhos.
Os modernos inovaram essa equação desnaturalizando o governo. Embora a família tenha permanecido no âmbito da ordem natural, a submissão a governantes concretos somente poderia ser compreendida como resultado de uma escolha: a escolha de instituir um governo. Assim, o governo seria uma estrutura artificial, mas cuja existência era apresentada como necessária para a vida das pessoas, pois só em comunidades bem coordenadas é que as pessoas podem alcançar a paz e a segurança que elas almejam.
Para os antigos, o governo era imediatamente natural. Para os modernos, os governos eram mediatamente naturais: embora a instituição de um determinado governo decorresse da escolha deliberada das pessoas artificiais, a existência de alguma autoridade governante respondia a uma necessidade natural dos seres humanos, que precisam viver dentro de uma coletividade organizada.
Mas será mesmo que os seres humanos somente podem subsistir em comunidades nas quais há uma diferença entre governantes e governados? Uma forma de responder a esta questão seria investigar como se organizavam as sociedades mais antigas, para verificar se as estruturas mais arcaicas já contavam com a distinção entre governantes e governados.
Na impossibilidade de retornar ao passado, esse tipo de exame tem sido feito por meio da análise de registros arqueológicos, que nos digam algo acerca de civilizações que há muito desapareceram. Trata-se de uma estratégia evidentemente limitada, já que as formas humanas de organização não deixam vestígios diretos. Para reconstruir uma rede abstrata de relações, precisamos fazer inferências (sempre arriscadas) sobre o significado simbólico dos elementos que podemos avaliar ainda hoje: disposição das casas, distribuição de ornamentos, tamanho relativo das construções, objetos contidos em sítios funerários, idade das pessoas enterradas, etc.
Outra estratégia possível é a de analisar as sociedades contemporâneas que mais se aproximam dos modelos que acreditamos ser os das sociedades arcaicas. Desde que os povos europeus conheceram os povos ameríndios, existe uma tendência a compreender que a organização destes povos seria mais próxima das sociedades antigas, que nos precederam e que não deixam restos arqueológicos claros.
Essa intuição levou observadores europeus a estabelecer uma ordem evolutiva, que passa de um estado de natureza (em que não existem governos, como é o caso das tribos consideradas primitivas) para um estado de sociedade (em que há um governo centralizado). A observação direta das sociedades ameríndias permitiu supor que as primeiras sociedades humanas não tinham governantes nem governados, situação esta que foi compreendida como signo de um desenvolvimento insuficiente, visto que ela era incompatível com o pleno desenvolvimento humano, na medida em que as pessoas são animais políticos. Durante muito tempo essa ausência foi lida no registro da falta: faltava aos povos primitivos um governo, e por isso mesmo eles eram primitivos.
Essa é uma interpretação que se consolidou no célebre Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, de 1755, em que Rousseau defendeu que inicialmente as sociedades eram igualitárias, mas que a emergência da agricultura exigia a divisão das terras e, consequentemente, instituiu uma divisão desigual das riquezas (2013). Essa distinção entre ricos e pobres gerava uma dependência mútua entre essas classes, pois o cultivo de alimentos exigia uma série de interações desiguais, fundadas na propriedade privada da terra, cuja manutenção culminou na criação contratual de um governo encarregado de estabilizar essas relações sociais (2013).
Uma novidade introduzida por Rousseau foi que, diversamente de outros contratualistas, ele não caracterizou essa passagem para o estado de sociedade como um progresso, pois a propriedade instaurou sistemas de dominação do homem pelo homem e engendrou uma desigualdade moral e política que se afigurava contrária à lei da natureza. A criação dos governos instituía opressões e escravidão que constituem uma situação que poderia ser pior fque a que os homens tinham antes de se organizarem em sociedades.
Essa inversão coloca o selvagem como igualitário, em oposição aos regimes de desigualdades ilegítimas que estrutura toda pretensa civilização. A descrição rousseauniana do bom selvagem teve impactos relevantes no modo como os europeus avaliavam a sua própria sociedade, especialmente a superioridade das formas modernas de organização social.
Essa é uma interpretação que rompe com a ideia do zoon politikon, pois a emergência das formas sociais contemporâneas passa a ser entendida historicamente: não se trata da realização de uma natureza intrínseca dos homens, mas do resultado de certos desenvolvimentos contingentes que aconteceram no passado. Para Rousseau, a desigualdade não é um fenômeno necessário e não existe uma legitimidade natural da autoridade política, cuja instituição é interpretada como resultante de uma espécie de contrato entre governantes e governados, no sentido de organizar a dependência mútua que decorria do estabelecimento de sociedades agrícolas.
3. Autoridade política e revolução agrícola
Desde Rousseau, a adoção da agricultura tem sido reconhecida como um marco importante na passagem dos povos primitivos, entendidos como essencialmente igualitários, para civilizações baseadas em uma forte centralização governamental. Essa imagem foi secundada pela antropologia de meados do século XX, que analisou diversas sociedades de caçadores-coletores que sobreviveram até então e identificou que não havia nelas uma distinção entre governantes e governados. Tal constatação fez com que se consolidasse a interpretação de que as sociedades humanas arcaicas eram também igualitárias, visto que elas também tinham uma economia baseada na caça e na coleta (McCall & Widerquist, 2015).
Nessa abordagem economicista, a ideia de um bom selvagem foi substituída pela noção de que as sociedades primitivas não tinham uma estrutura econômica que viabilizasse o desenvolvimento de um governo centralizado, que a tradição europeia identificava como a base de todos os avanços civilizacionais. A tese de que não havia governos antes da agricultura era justificada pelo fato de que as sociedades de caçadores-coletores anteriores ao Holoceno não tinham as condições materiais necessárias para o surgimento de uma classe governante.
Para que pudesse existir um grupo de pessoas dedicadas exclusivamente ao governo, seria necessário o desenvolvimento de uma economia em que o trabalho de uma parte da comunidade gerasse alimentos suficientes para suprir as necessidades de toda a população. Entendia-se que as comunidades de caçadores-coletores tinham uma economia de subsistência em que toda a capacidade de trabalho era consumida em atividades imprescindíveis, como a produção (ou coleta) de alimentos, o cuidado com as crianças, a produção de ferramentas, a preparação das refeições, etc.
Em sistemas econômicos que exigem a participação de todas as pessoas nos trabalhos que garantem a subsistência da comunidade, inexiste o excedente produtivo que torna viável que um grupo determinado de pessoas se dedique exclusivamente ao gerenciamento do trabalho dos outros integrantes ou à guerra. Portanto, parece razoável esperar que o surgimento de uma classe específica de governantes esteja ligado a alterações nos modos de produção, que gerassem o excedente necessário ao afloramento de governos estáveis.
Na história da humanidade, a produção desse tipo de excedente é normalmente ligada ao que Gordon Childe chamou de Revolução Neolítica: a aquisição da agricultura, que “deu ao homem controle sobre suas fontes de alimentos” (Childe, 1958). A narrativa padrão é a de que, há cerca de 10.000 anos, em certas áreas propícias do planeta, os Homo sapiens aprenderam a cultivar algumas plantas de forma bastante produtiva, o que gerou um excedente de alimentos que mudou para sempre as organizações humanas. Como narra Yuval Noah Harari com base livro Armas, Germes e Aço, de Jared Diamond: chamado):
Durante 2,5 milhões de anos, os humanos se alimentaram coletando plantas e caçando animais que viviam e procriavam sem sua intervenção. [...] Por que fazer outra coisa se seu estilo de vida fornece alimento abundante e sustenta um mundo repleto de estruturas sociais, crenças religiosas e dinâmica política?
Tudo isso mudou há cerca de 10 mil anos, quando os sapiens começaram a dedicar quase todo seu tempo e esforço a manipular a vida de algumas espécies de plantas e de animais. Do amanhecer ao entardecer, os humanos espalhavam sementes, aguavam plantas, arrancavam ervas daninhas do solo e conduziam ovelhas a pastos escolhidos. Esse trabalho, pensavam, forneceria mais frutas, grãos e carne. Foi uma revolução na maneira como os humanos viviam – a Revolução Agrícola. [...]
Acadêmicos um dia declararam que a Revolução Agrícola foi um grande salto para a humanidade. Eles contaram uma história de progresso alimentado pela capacidade intelectual humana. A evolução, pouco a pouco, produziu pessoas cada vez mais inteligentes. As pessoas acabaram por se tornar tão inteligentes que foram capazes de decifrar os segredos da natureza, o que lhes permitiu domar ovelhas e cultivar trigo. Assim que isso ocorreu, elas abandonaram alegremente a vida espartana, perigosa e muitas vezes parca dos caçadores-coletores, estabelecendo-se em uma região para aproveitar a vida farta e agradável dos agricultores. (Harari, 2012)
Harari afirma que toda essa história não passa de fantasia e que a chamada Revolução Agrícola foi “a maior fraude da história”, porque o trânsito para a agricultura não tornou melhor a vida das pessoas envolvidas nas atividades agrícolas (2012). Com relação às populações de caçadores-coletores, o tempo de trabalho aumentou e foi alocado em atividades mais repetitivas, sendo que o aumento na quantidade de alimentos não se traduziu em uma dieta melhor nem em uma vida mais prazerosa. O que ocorreu foi uma explosão populacional e a concentração de poder em uma elite favorecida, que se cristalizou na forma de governos hereditários (2012).
Segundo Harari, as mudanças introduzidas pela Revolução Agrícola trouxeram um ganho para a espécie Homo sapiens, que se tornou mais numerosa, mas houve uma perda de qualidade de vida no nível individual, pois as pessoas enfrentaram condições piores de vida durante vários séculos, até se acumularem desenvolvimentos tecnológicos capazes de assegurar melhorias efetivas na vida das pessoas.
Enquanto Harari critica o fato de que consideramos acriticamente a “Revolução Neolítica” como um fenômeno positivo para as pessoas, Graeber e Wengrow vão além e contestam a própria ocorrência dessa pretensa ruptura, designando-a como “a revolução que nunca aconteceu” (2021). Eles não negam que houve uma emergência de sociedades baseadas na agricultura, mas argumentam que esse processo ocorreu ao longo de quase 3.000 anos de experiências com o cultivo de grãos e de adaptações sociais que viabilizaram o estabelecimento de unidades políticas que cultivavam seus alimentos. Ao adotarem uma visão processual, que apresenta o domínio da agricultura como um desenvolvimento gradual, colocam em xeque abordagens como a de Rousseau, que se baseiam na ideia de que houve um momento específico no qual aprendemos a cultivar alimentos e que esse conhecimento promoveu uma ruptura com os modos anteriores de organização social.
Embora seja pensar a história humana em termos de alguns eventos disruptivos, Graeber e Wengrow acentuam que esse tipo de abordagem simplificadora não é adequado para descrever ao ritmo pelo qual esses fenômenos efetivamente se desenvolvem. Falar em termos de revoluções (cognitiva, neolítica, agrícola, etc.) chama atenção para certas descontinuidades que podem ter ocorrido, mas que não podem ser descritos como decorrentes de uma ruptura localizada no tempo. Tal como nas abordagens evolutivas da biologia, é mais razoável adotar uma perspectiva gradualista, tendo em vista que as modificações nas estruturas sociais (ou biológicas) dependem de uma acumulação de pequenas diferenças, o que faz com que demore bastante tempo até que um sistema acumule tantas alterações que seja razoável indicar que houve uma mudança estrutural relevante.
Além disso, Graeber e Wengrow conferem centralidade ao reconhecimento de que a emergência de sociedades agrícolas não implica apenas uma mudança nas formas de produção, pois o cultivo eficiente de alimentos exigia novas formas de organização social: adaptações na divisão do trabalho, nos mitos fundantes, nas relações políticas, nos papéis de gênero, nas aspirações sociais. O longo processo em que a agricultura se tornou a base da produção econômica de algumas sociedades não deve ser compreendido como uma transição econômica ou tecnológica, mas como um desenvolvimento no qual transformações sociais acumuladas ao longo de séculos permitiram a emergência de sociedade organizadas em torno do cultivo de alimentos.
Uma percepção semelhante levou Clive Gamble a afirmar que emergência da agricultura não teve os impactos que lhe são comumente atribuídos: ela não deu origem às sociedades como nós a conhecemos nem à mentalidade moderna, pois essas características têm raízes muito anteriores, visto que o exercício humano de criar relações sociais é bastante anterior a nossa capacidade de cultivar alimentos (Gamble, 2007).
A emergência de sociedades preponderantemente agrícolas é apenas uma das possibilidades de organização econômica, que somente se torna viável depois de um longo desenvolvimento de técnicas agrícolas, realizadas em sociedades cuja sobrevivência inicialmente dependia da caça e da coleta. O exemplo dos povos indígenas brasileiros mostra que é possível desenvolver estratégias alimentares mistas, em que são fundamentais tanto o cultivo como a caça e a pesca. Essa percepção reforça a tese de que não houve uma Revolução Agrícola, mas o desenvolvimento gradual de técnicas de cultivo, que ocuparam um lugar central em certas sociedades, em um movimento que envolvia longos processos de adaptação social.
4. Zoon antipolitikon
Em meados do século XX, a tese predominante era a de que o igualitarismo típico das sociedades arcaicas seria ligado a sua incapacidade de produzir excedentes, o que tornaria inviável a constituição de grupos sociais voltados exclusivamente ao governo e a guerra, pois todos os integrantes do grupo precisariam se dedicar às atividades de produção de alimentos. Essa concepção apresentava a inexistência de excedentes econômicos como uma espécie de entrave evolutivo, que não permitia às sociedades arcaicas um avanço na escala civilizatória.
Tal diagnóstico envolvia uma espécie de determinismo tecnológico: a pressuposição de que a introdução da agricultura teria como resultado necessário a produção de excedentes econômicos que, fatalmente, impeliriam a sociedade arcaica rumo ao seu desenvolvimento civilizacional. Dado que um avanço tecnológico fatalmente acarretaria um processo de modernização, essa narrativa justifica plenamente as intervenções coloniais europeias, no sentido de introduzir as sociedades autóctones no mundo civilizado, visto que esse movimento apenas acelerava um desenvolvimento evolutivo que decorreria necessariamente das novas formas de produção.
Devemos reconhecer que a relação entre governo e excedente faz parte até hoje das reflexões da antropologia política, pois a existência do excedente parece ser uma condição para a emergência de governos. Todavia, desde meados da década de 1960, houve uma série de críticas que se contrapuseram à tese de que as sociedades arcaicas permaneceriam em um estado primitivo por causa de sua incapacidade econômica e de que elas representavam etapas anteriores em um processo de desenvolvimento civilizacional.
Uma das contestações mais contundentes desta narrativa evolutiva (ou involutiva, a partir do quanto se valoriza os direitos de igualdade e liberdade) foi formulada em 1969 pelo antropólogo francês Pierre Clastres, que, em um ensaio chamado Copérnico e os Selvagens, refutou a tese de que a inexistência de uma distinção entre governantes e governados seria índice de um estágio primitivo de desenvolvimento, marcado pela incapacidade de produção de excedentes.
A observação dos modos de vida de povos ameríndios fez com que Clastres sugerisse que os indígenas não eram sociedades a que faltava o governo (e que por isso seriam primitivas), mas eram sociedades que tinham instituições especificamente voltadas a impedir o surgimento de um governo: elas não eram sociedades sem Estado, mas sociedades contra o Estado (Clastres, 2003). Para ele, a falta de uma divisão entre governantes e governados não resulta da incapacidade de produzir excedentes, mas trata-se do resultado de uma dinâmica política própria. Clastres criticou o fato de que os antropólogos de sua época interpretassem a inexistência de subordinação política como a falta de um poder político, identificando que essa compreensão decorria de um conceito equivocado de poder político, que se reduzia ao exercício do direito de comandar. Contrapondo-se ao etnocentrismo que baseava esse diagnóstico, Pierre Clastres indicou que era preciso reconhecer que o igualitarismo das sociedades ameríndias era o resultado de ordem política que produzia ativamente a indistinção entre governantes e governados (Clastres, 2003).
Não se tratava de uma releitura do mito do bom selvagem, que apresentava o surgimento dos governos como signo de uma degradação social que decorreria da imposição de um vínculo de subordinação entre pessoas que eram naturalmente iguais. A inovação teórica de Clastres foi o fato de que ele acentuou que a igualdade nas sociedades ameríndias não decorria continuidade inercial de uma condição natural originária, mas uma característica construída e mantida pela ordem política, tratando-se “simultaneamente um modo de funcionamento da máquina social e desejo coletivo ou intencionalidade sociológica” (Lima & Goldman, 2003).
Pierre Clastres defendeu que as sociedades arcaicas não eram incapazes de institucionalizar a distinção entre governantes e governados, mas que elas tinham mecanismos especificamente voltados para impedir a concentração de poder, visto que esse tipo de modificação atentaria contra o equilíbrio político das sociedades arcaicas, que era baseada em uma coordenação social incompatível com a existência de um governante capaz de impor suas decisões à coletividade.
As conclusões de Clastres foram corroboradas pelos trabalhos de outros antropólogos de sua época, como Woodburn, cujos estudos sobre os povos Hadza, da Tanzânia, contribuiu para que se consolidasse a percepção de que a existência de excedentes produtivos apropriáveis de modo seletivo era a condição para a instauração dos governos. Woodburn defendia que o igualitarismo somente era possível nas sociedades com economias de retorno imediato, em que toda a produção fosse consumida ou distribuída (Graeber & Wengrow, 2021) e, tal como Clastres, apontava que a ausência de excedentes não era decorrente de uma falha ou de uma incapacidade, mas da presença de variadas estratégias sociais que impediam a acumulação dos excedentes produzidos. Com isso, mesmo em sociedades que tinham capacidade técnica de produzir mais alimentos do que os necessários para a subsistência, a impossibilidade de acúmulo desestimulava a produção de excedentes.
Em seu influente ensaio Sociedades Igualitárias, publicado em 1982, Woodburn apontou que o igualitarismo social não era uma marca necessária das sociedades de caçadores-coletores, pois muitas delas tinham uma estrutura mais desigual do que algumas comunidades simples de pastores e agricultores. Nas seis sociedades nomádicas que chamou de igualitárias, entre as quais se destacam os Hadza e os !Kung, Woodburn identificou a presença de modos de vida que eliminavam as distinções sociais e que sistematicamente impediam a acumulação de riquezas e o desenvolvimento de uma autoridade política (Woodburn, 1982).
O fato de que vivemos há séculos os desafios e as opressões ligadas às sociedades com Estado pode gerar em nós uma idealização do igualitarismo antigo, mas devemos tomar cuidado com a possibilidade de repaginar o mito do bom selvagem. Não podemos perder de vista que uma das características das sociedades igualitárias é justamente o seu conservadorismo político e moral: a manutenção de uma estrita equidade parece associada a um reforço das regras e dos valores tradicionais. A estabilidade de uma sociedade desse tipo é baseada na unidade cultural e na convergência valorativa, o que deixa um espaço muito restrito para qualquer tipo de diferenciação. Não se trata apenas de uma sociedade contra o estado, mas de uma sociedade dotada de um conservadorismo estrutural (Woodburn, 1982), que mantém sua identidade a partir de instituições que consideram qualquer desvio como indicador de uma indignidade.
Aparentemente, a intolerância à desigualdade política é acompanhada pela intolerância com outros processos de diferenciação, o que faz com que os ideais de uma sociedade com igualitarismo forte possam soar demasiadamente restritivos para pessoas educadas em uma estrutura social moderna, que se propõe a integrar politicamente indivíduos que têm uma relativa pluralidade de valores morais e religiosos.
Além disso, devemos ressaltar que o igualitarismo político das sociedades arcaicas era relativo, pois as sociedades que Woodburn chama de igualitárias tinham várias fundadas no sexo. Woodburn aponta que, nas sociedades igualitárias, todas as pessoas (inclusive mulheres e crianças) têm uma independência maior do que nas sociedades baseadas na acumulação de excedentes, mas todas as sociedades que ele identificou contém distinções que conferem mais autonomia aos homens que às mulheres, bem como uma proeminência no processo de tomada de decisão dentro das famílias (Woodburn, 1982).
As ideias de antropólogos como Clastres e Woodburn abriram espaço para identificarmos o que se veio depois a ser chamado de sociedades com um igualitarismo forte (McCall & Widerquist, 2015): grupos sociais que não apenas eram igualitários, mas institucionalizavam a igualdade e criavam mecanismos capazes de suprimir a desigualdade política. Essa é uma categoria que renovou a nossa capacidade de interpretar a oposição clássica entre ordem natural e autoridade política, pois nos indicou que é possível constituir sociedades estáveis com estruturas que impedem a emergência da distinção entre governantes e governados.
O reconhecimento de que várias sociedades tinham instituições voltadas a impedir a cristalização de uma diferença entre governantes e governados nos oferece uma possibilidade de reescrever a história política, em termos de uma continuidade desse embate entre a vinculação social a uma ordem natural de nossa profunda aversão a nos encontramos submetidos às ordens impostas por uma autoridade política. Essa é uma interpretação que nos faz perceber que oposições do tipo direito natural e direito positivo talvez sejam partes de uma dinâmica em que as sociedades com governo buscam limitar os riscos envolvidos na adoção de estruturas governativas.
Subjacente a essa interpretação estava o entendimento de que a constituição da autoridade política seria uma decorrência indesejável de certas modificações sociais inevitáveis (como a agricultura e a metalurgia), pode então ser lida como a ruptura de uma ordem igualitária, fundada na proteção dos valores tradicionais contra os riscos inerentes a qualquer autoridade política centralizada. Esse tipo de compreensão muda a pergunta sobre a origem do governo e do direito positivo: não se trata de entender as condições em que foi possível a constituição de um governo, mas de compreender como foi possível que certas pessoas ou grupos assumissem um papel de autoridade que lhes era vedado pelas instituições igualitárias das sociedades arcaicas.
3. Arqueologia da desigualdade política
1. O enigma da desigualdade
De Rousseau a Clastres, mudaram as concepções dominantes sobre a desigualdade social, mas a questão subjacente permanece inalterada: dado o reconhecimento de que as primeiras comunidades eram igualitárias, como foi possível a cristalização de sociedades politicamente desiguais?
Essa é uma pergunta que não tem correspondente em uma filosofia clássica que considerava a distinção entre governantes e governados como parte da ordem natural imutável. A modernidade reinterpreta a relação entre as pessoas e as sociedades, a partir do pressuposto de que a igualdade entre os sujeitos é que faz parte da ordem natural. Como os modernos compreendem os vínculos comunitários como decorrências da associação voluntária de indivíduos livres, eles são levados a supor que houve uma passagem da igualdade política (no estado de natureza) para uma desigualdade política (no estado social).
Esse tipo de abordagem faz com que os modernos tratem o trânsito da igualdade para a desigualdade como um enigma a ser resolvido: por que as pessoas admitiriam essa perda de direitos? Nossa experiência sugere que a submissão nunca é pacífica e causa espanto o fato de a dominação política ter se tornado um fenômeno tão abrangente. Nós sabemos explicar a conquista e a dominação, que decorrem da guerra, mas temos dificuldade em compreender os motivos que nos conduzem a institucionalizar uma servidão que parece ser voluntária.
O fato de que pressupomos que os seres humanos são livres e iguais converte a desigualdade política consentida em um arranjo improvável, o que converte a instituição dos governos em um enigma que demanda explicação. Dentre as diversas obras que tentaram esclarecer esse mistério, destaca-se o livro The Creation of Inequality, fruto da consolidação de décadas de estudos e pesquisas dos antropólogos Kent Flannery e Joyce Marcus (2012).
Como a maioria das obras relevantes, este livro desafia a narrativa dominante em seu tempo de escrita, que ainda era a de que a descoberta da agricultura teria acarretado mudanças sociais que tornaram inescapável a constituição sociedades atravessadas por desigualdades. Flannery e Marcus articulam uma resposta diferente: a desigualdade não decorreria de inovações tecnológicas, mas dos desafios sociais envolvidos na estruturação de sociedades multifamiliares (2012).
Esses autores partem do reconhecimento de que comunidades compostas por várias famílias coordenadas somente podem ser estabilizadas por meio do desenvolvimento de uma ordem simbólica tão complexa quanto algumas das que existem no mundo contemporâneo. Essa é uma abordagem que remete nossa atenção para um ponto da história em que identificamos comunidades dotadas de uma grande riqueza cultural, mas que não têm as marcas típicas da desigualdade política. Por esse motivo, Flannery e Marcus sugerem que devemos iniciar nossas reflexões mirando nas sociedades humanas imediatamente posteriores à Era Glacial, há cerca de 15.000 anos, período correspondente às culturas madalenianas, que ocuparam as cavernas de Lascaux na França e de Altamira na Espanha (2012). Tal como nas sociedades indígenas descritas por Clastres, os achados arqueológicos sugerem que poderiam existir nessas comunidades distinções de prestígio entre as pessoas, que conduzem a que certos indivíduos desempenhem um papel de liderança, mas essa liderança não pode ser confundida com a autoridade política que vieram a ter os chefes, reis e imperadores.
Não há dúvidas de que, bem antes de os madalenianos executarem suas célebres pinturas rupestres, os seres humanos já tinham desenvolvido cultura e linguagem. Datam de 80.000 anos os primeiros indícios arqueológicos que indicam a presença inequívoca de cultura. Manifestações artísticas como esculturas de pessoas datam de cerca de 25.000 anos. Porém, Flannery e Marcus indicam que apenas nos sítios arqueológicos de cerca de 15.000 AEC encontramos vestígios semelhantes aos que são produzidos pelas culturas que sobreviveram até os nossos dias. Segundo eles, “mesmo o mais cauteloso dos arqueólogos entende que os madalenianos devem ser considerados como equivalentes aos grupos de caçadores-coletores do passado recente” (2012), que foram descritos pelos antropólogos do século XX. Portanto, tratava-se de grupos humanos que tinham um desenvolvimento técnico e cultural compatível com os de organizações sociais que se mantiveram estáveis nos milênios posteriores.
As pesquisas arqueológicas sugerem que os elementos que formam as nossas sociedades estavam presentes entre os madalenianos e que, portanto, faz sentido perguntar os motivos pelos quais grupos posteriores desenvolveram formas de sociabilidade na qual houve a introdução de uma diferença entre governantes e governados que rompia a relativa igualdade das comunidades do fim do período Paleolítico. Flannery e Marcus argumentam que, embora culturas anteriores à madaleniana também fossem igualitárias, não faz sentido compará-las com as sociedades atuais porque a sua complexidade cultural não era compatível com a de grupos que sobreviveram no Holoceno, cujo início é marcado pela chamada revolução agrícola (2012). Já no caso dos madalenianos, uma análise comparativa é justificada porque o comportamento desses grupos “reflete uma mente tão moderna como a dos arqueólogos que escavam os seus vestígios” (2012).
Por maiores que sejam as diferenças entre as organizações sociais madalenianas e as nossas, ambas envolvem culturas nas quais a integração social de pessoas que não fazem parte do mesmo núcleo familiar é realizada por meio de rituais, da religião e da arte. De acordo com Flannery e Marcus, a explicação mais comum para esse desenvolvimento cultural é a sua correlação com o crescimento populacional das comunidades posteriores à Era do Gelo, que gerou grupos sociais com uma densidade superior à de períodos anteriores (2012).
Inicialmente, as comunidades humanas mantinham uma densidade baixa porque seu comportamento levava à constante cisão dos grupos, gerando novas unidades, que podiam deslocar-se para ocupar espaços inabitados. A continuidade multigeracional desse processo de fragmentação conduziu à gradual ocupação de todos os espaços ecológicos disponíveis. Em determinado ponto, a inexistência de territórios habitáveis inexplorados fez com que o crescimento populacional não pudesse mais ser contrabalançado pela expansão territorial, o que conduziu a um incremento na densidade demográfica e, consequentemente, no acirramento das tensões existente dentro dos grupos e também entre comunidades vizinhas.
Embora reconheçam que houve um incremento populacional acentuado no fim da Era Glacial, Flannery e Marcus indicam que a explicação dos desenvolvimentos culturais dessa época precisam levar em conta outros elementos, ligados mais propriamente às formas de organização social. A ideia de que houve um adensamento populacional e que essa demografia passou a exigir ordens simbólicas mais ricas para definir os limites dos grupos sociais não leva suficientemente em conta que esse próprio adensamento somente é viável dentro de grupos capazes de estabelecer uma atividade coordenada desses grupos ampliados.
Caso o desenvolvimento das ordens simbólicas fosse uma resposta automática ao adensamento, seria razoável esperar uma emergência mais contínua dos comportamentos simbólicos, mas as evidências apontam que ele ocorreu de forma heterogênea. Flannery e Marcus sugerem que esse desenvolvimento simbólico está ligado não apenas a mudanças demográficas, mas principalmente ao fato de que certos grupos de caçadores coletores começaram a se organizar em grupos populacionais maiores do que a família extensa (2012).
Nos quadros dessa formulação, o enigma da desigualdade envolve uma retomada da questão de Rousseau: se começamos iguais e se nossa espécie é compatível com organizações igualitárias, como pudemos construir sociedades baseadas na diferença política entre governantes e governados? Graeber e Wengrow reconhecem que esse tipo de questionamento passou a ter especial repercussão em um mundo globalizado que, ao longo do presente milênio, passou a se questionar constantemente sobre a legitimidade das desigualdades sociais e a se perguntar sobre as alternativas de que dispomos (Graeber & Wengrow, 2021).
Uma das expressões dessa mudança é o fato de que, em 2001, foi inaugurado o Fórum Social Mundial, constituído em contraponto ao Fórum Econômico Mundial, e que reúne anualmente integrantes de movimentos sociais que se aglutinam em torno da convicção compartilhada de que Um mundo novo é possível. Após a crise de 2008 e os movimentos que ela desencadeou, como o Occupy Wall Street (ocorrido em 2011 e cujo lema era nós somos os 99%), a questão da desigualdade e de suas origens passou a ser ainda mais visível, ocupando um lugar proeminente no debate público mundial (Graeber & Wengrow, 2021). Esse debate se concentra na estrutura desigual das sociedades atuais e nas possibilidades de construir alternativas políticas que alterem esse panorama, dando origem a obras como a Breve história da desigualdade, de Thomas Piketty (Piketty, 2022). A centralidade dessa questão também renovou nossos questionamentos acerca das origens históricas da desigualdade, que nos remetem ao momento em que passamos de comunidades relativamente igualitárias para sociedades com ordens simbólicas que cristalizaram desigualdades sociais e políticas.
2. A igualdade originária
Embora Flannery e Marcus sugiram começarmos nossas reflexões a partir das sociedades madalenianas, parece conveniente dar um passo ligeiramente para trás, para refletirmos sobre a constituição de sociedades anteriores aos grupos multifamiliares e multiclânicos do final do período Paleolítico.
Nas comunidades mais simples de caçadores-coletores, os grupos são compostos por famílias extensas, que habitam o mesmo local. Aparentemente, esse é o menor tamanho viável das comunidades humanas, pois a fragmentação em unidades ainda menores levaria grupos compostos pelas famílias nucleares, que são demasiadamente reduzidas para realizarem certos trabalhos e enfrentarem certas contingências ambientais. Por um lado, somos uma espécie que precisa dedicar um tempo muito grande ao cuidado das crianças, o que faz com que “a wide range of helpers to tend to children’s nutritional and behavioral needs, would have helped to relieve mothers from the energetic burden of raising overlapping, dependent children” (Apicella & Crittenden, 2016). Além disso, grupos pequenos são muito suscetíveis a fatores imprevistos que podem inabilitar alguns membros para o trabalho (como acidentes ou doenças) e não otimizam as capacidades humanas de estabelecer comportamentos coordenados, que estão na base do sucesso ecológico de nossa espécie. Os Homo sapiens têm cérebros com alto custo energético, que consomem 20% das calorias que obtemos do ambiente, sendo que esse tipo de investimento só gera benefícios quando somos capazes de mobilizar nossas capacidades cognitivas para produzir as complexas redes de interação que são viabilizadas quando constituímos sociedades mais amplas.
Robin Dunbar sugere que nossos cérebros são adaptados para organizar uma interação simbólica suficiente com até cerca de 150 pessoas, que conseguimos conhecer e monitorar continuamente (Dunbar, 1993). Embora esse número seja por vezes usado de forma acrítica, o próprio Dunbar esclarece que não devemos esperar que as sociedades humanas sejam próximas a esse número, que é calculado a partir da média populacional de várias espécies, porque vários fatores ambientais podem estimular a formação de grupos mais reduzidos e, além disso, também devemos esperar grupos menores nos casos de grande dispersão populacional, pois esta é uma situação que reduz o contato entre as pessoas as pessoas, o que resulta em uma menor familiaridade (Dunbar, 1993).
As projeções para as populações dos primeiros grupos de caçadores-coletores sugerem que sua população deveria estar 20 e 50 indivíduos (Hayden, 1972), o que corresponde basicamente ao número de pessoas que compõem uma família extensa. O fato de este número ser bastante inferior aos limites projetados por Dunbar sugere que havia fatores ecológicos ligados à manutenção de grupos humanos menores. Porém essa diferença também pode ser lida a partir de outra chave interpretativa: a identificação de que esses grupos reduzidos devem ser compreendidos como parte de uma coletividade mais ampla, o que exigia de cada pessoa o monitoramento constante tanto dos integrantes de sua comunidade quanto de indivíduos que compunham as comunidades vizinhas.
A existência de pequenos grupos política e economicamente autônomos não significa que se tratasse de comunidades isoladas, sem contato relevante umas com as outras. Durante muito tempo, mostrou-se adaptativa essa subdivisão das populações humanas em grupos com algumas dezenas de pessoas, que se mostravam capazes de explorar eficientemente os recursos naturais disponíveis e de manter a sua unidade interna, ao mesmo tempo que promovia a ocupação de novos territórios, por meio da constante segmentação das comunidades que alcançavam uma população que viabilizaria a sua divisão em grupos sustentáveis.
Cada um desses grupos deve ser percebido como parte desse ecossistema social mais amplo, que não era organizado por meio da subordinação a um centro de poder, mas na forma de uma rede horizontal de vínculos. Mesmo nos casos em que não houvesse mecanismos consolidados de compartilhamento de alimentos ou de alianças inter-grupais, a existência de vínculos mínimos entre as comunidades vizinhas parece inafastável no contexto de sociedades tão pequenas que somente poderiam evitar a procriação consanguínea por meio de exogamia. Pesquisas recentes acerca da variação genética em uma sociedade paleolítica datada de 34.000 anos indicam que existiam estratégias que evitavam uniões consanguíneas próximas, o que indica serem bastante antigas tanto a prática da exogamia quanto a existência das redes de interação entre grupos vizinhos, que viabiliza essa prática social (Sikora et al., 2017)
MacCluer e Dyke, a partir de projeções acerca das possíveis composições de grupos de caçadores coletores, calcularam que uma comunidade igualitária endógama precisa ter uma população mínima de 100 a 200 pessoas, para que seja sustentável a longo prazo (MacCluer & Dyke, 1976). Abaixo desse patamar, toda sociedade precisa de estratégias exogâmicas, o que implica o estabelecimento de vínculos mínimos com os grupos circundantes, que provavelmente decorrem da fissão de grupos culturalmente similares e que, portanto, partilham uma língua comum e contam com uma ordem simbólica suficientemente convergente para que os membros de uma comunidade possam ser inseridos na outra.
As pesquisas Walker sobre comunidades modernas de caçadores-coletores indicam que, diversamente do que ocorre com outros primatas, existe a formação de redes de exogamia recíproca, em que diferentes grupos realizam casamentos entre seus membros, o que contribui para o estabelecimento de vínculos entre diferentes unidades políticas (Walker et al., 2011). Embora seja evidente a dificuldade de extrapolar essas conclusões para comunidades paleolíticas, a necessidade de estabelecer casamentos exógamos certamente exigia algum nível de vínculo entre comunidades próximas, para que esse intercâmbio fosse viabilizado.
É previsível que a necessidade de contatos entre grupos vizinhos culturalmente próximos tenha sido acompanhada pelo afloramento de afinidades e rivalidades. Se cada comunidade estabelecer laços mínimos com grupos próximos, é possível que populações que compartilham uma mesma cultura ocupem grandes espaços territoriais e atuem de forma relativamente coordenada, mesmo que elas não fossem submetidas a lideranças comuns. Flannery e Marcus descrevem detalhadamente como as redes de reciprocidade, constituídas por trocas constantes de alimentos, viabilizaram a ocupação de áreas inóspitas do ártico por comunidades de esquimós Caribou, que foram estudados pelo antropólogo Kaj Birket-Smith entre 1921 e 1924 (2012). A comparação dessas populações com as madalenianas é interessante porque ambas tinham uma dieta baseada na caça de grandes animais e os Caribou não contavam nem com unidades políticas maiores que a família extensa nem com lideranças políticas definidas.
Men built igloos in winter, hunted, fished, and drove sled dogs; women built tents in summer, tended fires, and tailored clothing from skins. As with so many foragers, no one amassed a surplus. No one claimed exclusive rights to the land. Traps and weirs were communal property. During famines, all food was shared with neighbors. After a successful hunt, the actual slayer of each caribou was identified by the markings on his arrow. The meat was then divided by rule, with the slayer receiving the frontal portion and his hunting companions the rest.
So crucial was food sharing that the Eskimo used ridicule to prevent hoarding and greed. Anyone who has seen Eskimos singing satirical songs about greedy individuals or dancing in masks to ridicule stingy neighbors realizes the crucial role that humor plays in human society. [...]
Life in the Arctic was stressful, but the behaviors just described are not unusual for a clanless society. It was a truly egalitarian society in which the slightest attempt to hoard or put oneself above others was discouraged.
O exemplo dos Caribou mostra a relevância da partilha de alimentos, mas outros povos, como os Netsilik, desenvolveram sistemas ainda mais complexos de compartilhamento (Flannery & Marcus, 2012):
We come now to a very important Netsilik social strategy called niqaiturasuaktut. That awesome word is the name of a Netsilik meat-sharing partnership [...]. Early in the life of a Netsilik boy, his mother chose for him a group of male partners, ideally 12. Close relatives and members of the group who camped with the boy’s family were not eligible; his mother’s goal was to choose individuals who, under ordinary circumstances, would have no close relationship with her son.
Eventually the time came when the boy in question had become a hunter. Waiting silently by a breathing hole in the ice, he saw his chance and harpooned a seal. Ritual demanded that the animal be placed on a layer of fresh snow before being carefully skinned. [...] Next, the harpooner’s wife cut the seal open lengthwise and divided the meat and blubber into 14 predetermined parts. Twelve of these parts would go to the partners chosen for him. The last two parts, the least desirable, would go to the harpooner himself. The first partner—addressed by the term okpatiga, “my hindquarters”—would receive the okpat or hindquarters of the seal. The second partner—addressed by the term taunungaituga, “my high part”—would receive the taunungaitok or forequarters. Subsequent partners received the lower belly, the side, the neck, the head, the intestines, and so on. […]
Let us now consider the implications of seal-sharing partnerships. The Netsilik did not have clans or, for that matter, any social grouping larger than the extended family. Clearly, however, they felt the need for a widespread network of allies on whom they could rely to share resources when they were scarce. They created such a network using only their language and the magical power of the name, choosing respected acquaintances to be their sons’ “hindquarters”, “kidneys,” and so forth. And once that network was operating, they allowed parts of it to become hereditary.
Twelve meat-sharing partners is admittedly a small group compared to a clan. But when we consider how many partnerships there were, and the likelihood that a set of brothers might belong to several, we can picture a mutual aid network covering thousands of square miles.
Tanto Flannery e Marcus como McCall e Widerquist indicam que esse tipo de organização proporcionava uma redução dos riscos inerentes à caça de grandes animais, atividade em que o sucesso é inconstante, mas oferece à família do caçador uma quantidade de alimento maior do que ela é capaz de consumir imediatamente. Nesse contexto, as estratégias de compartilhamento mitigam os riscos decorrentes de doenças ou de má-sorte, permitindo que a população permaneça alimentada, apesar da ocorrência pontual de insucessos individuais. As redes de compartilhamento eram proveitosas inclusive para os caçadores mais aptos, visto que a sua manutenção tinha grande utilidade no longo prazo (inclusive, para as próximas gerações) e que o prestígio alcançado pelos indivíduos capazes de compartilhar muito alimento tinha um impacto positivo na capacidade de acasalamento dos caçadores (McCall & Widerquist, 2015).
Esse arranjo rizomático dos grupos populacionais, construído por meio de múltiplas relações de coordenação, mostrou-se bastante eficiente para os Homo sapiens. Em cada uma das comunidades paleolíticas, é possível que tenha havido uma situação desigual de dominância, mas a sobrevivência desses grupos dependia de sua inserção no conjunto horizontal de relações estabelecidas entre várias pequenas comunidades.
Mesmo considerando a necessidade de monitorar indivíduos de outras comunidades, para o estabelecimento dessas redes de interação, o fato de cada um dos grupos autônomos ter uma população reduzida não parece decorrer de limitações de nossa capacidade de processamento cerebral, mas por fatores ecológicos e sociais, que desafiam a formação de grupos maiores. Um desses elementos é que o crescimento populacional tende a gerar conflitos pelo exercício da dominância, especialmente entre os machos da mesma comunidade. Coletividades que se tornam maiores veem crescer suas tensões internas, o que dificulta a manutenção da unidade, especialmente nos momentos em que falece o casal que exercia a dominância sobre os demais membros. Existe, portanto, um desafio político na estabilização de grupos maiores que a família extensa, dentro da qual cada pessoa foi socializada.
Ao mesmo tempo, grupos sociais mais amplos enriquecem as possibilidades de ação coordenada entre os indivíduos, já que existem mais combinações possíveis de interação. Além disso comunidades com um número razoável de indivíduos que competem pelo prestígio são mais capazes de manter os padrões culturais do que famílias nucleares, em que a dominância do patriarca pode resultar em comportamentos que desviem dos padrões definidos culturalmente. A existência de múltiplos indivíduos que competem pela dominância estimula que cada um deles permaneça fiel aos padrões culturais, que servem como parâmetro para angariar prestígio com os demais integrantes da coletividade.
Mas ocorre que, para além dos ganhos em termos de acumulação cultural e de poder bélico, na maior parte dos ambientes existem limites econômicos estreitos para que sociedades mais amplas que a família extensa consiga angariar os recursos necessários para a sobrevivência do grupo. Toda expedição para buscar alimentos consome energia e é preciso haver um equilíbrio entre a energia gasta nas atividades de caça e coleta e a energia obtida.
Uma comunidade pequena possibilita que os alimentos e demais recursos necessários para a sobrevivência sejam conseguidos a partir de expedições curtas, que consomem pouca energia. À medida que os grupos crescem, é preciso explorar um território maior, em expedições que são menos eficientes, em termos energéticos. Um núcleo populacional demasiadamente grande consome todos os recursos disponíveis em sua proximidade e passa a exigir um trabalho de caça e coleta que, a partir de certo limite (que varia em função da riqueza do ambiente), exige um investimento energético que não compensa o benefício obtido.
Por mais que o incremento populacional gere uma série de benefícios, ele também acarreta custos, de tal forma que somente sobreviveram sociedades capazes de ajustar o tamanho de sua população às variáveis ambientais. Embora pareça plausível a intuição malthusiana de que as populações cresceriam até o limite suportado pelo ambiente (e pela capacidade de processamento cerebral), Brian Hayden indica que os dados disponíveis não confirmam essa expectativa, pois as comunidades de caçadores-coletores não se expandem até o limite da utilização dos recursos disponíveis, mas limitam o seu tamanho para que exista uma abundância de recursos (1972). Hayden sugere que isso ocorre tanto porque o alimento não é igualmente disponível ao longo do ano quanto porque há fenômenos específicos que podem limitar periodicamente os recursos (como secas e enchentes), o que torna mais eficiente permanecer no patamar populacional compatível com os momentos de carestia.
Explorar o ambiente até o limite poderia aumentar temporariamente o número de integrantes do grupo, mas também acarretaria uma flutuação populacional mais intensa, pois não haveria alimentos suficientes para enfrentar os momentos com baixa disponibilidade de recursos. Frente a esse cenário, é mais produtivo investir em uma prole menor, com recursos assegurados, do que promover um incremento populacional que exige um cuidado intensivo de uma prole que sobreviverá apenas parcialmente. No caso dos Homo sapiens, esse benefício é amplificado porque a sobrevivência das crianças depende de um investimento muito grande de tempo e cuidado, ao longo de muitos anos, especialmente para transferir toda a cultura acumulada. Portanto, as populações humanas precisam de sistemas de controle populacional que permitam equilibrar um número suficiente de descendentes com a capacidade social de manter e ampliar a cultura acumulada (Hayden, 1972).
Ao levar em conta todos esses elementos, Hayden projeta que a população ótima desses grupos variava entre 20 e 50 indivíduos (Hayden, 1972), o que corresponde basicamente ao número de pessoas que compõem uma família extensa.
Flannery e Marcus indicam que, em tais comunidades, é provável que haja estabilização na forma de um igualitarismo, seja ele fraco (estimulado pela cultura) ou forte (reforçado por sanções) (2012). Trata-se de sociedades compostas por apenas uma linhagem e na qual supomos que não inexiste hierarquia entre as várias famílias nucleares que a compunham porque existem evidências arqueológicas que indiquem que alguns de seus membros tinham acesso privilegiado aos recursos da comunidade, pois há nelas uma homogeneidade nos adornos, nos funerais, nas habitações.
O fato de que essas comunidades são tipicamente chamadas de igualitárias remonta a uma influente classificação formulada por Morton Fried, que diferenciou as sociedades em: igualitárias, hierarquizadas e estratificadas (1967). É curioso que o próprio Fried comece o capítulo sobre sociedades igualitárias afirmando que “a igualdade é uma impossibilidade social” (Fried, 1967), pois as pessoas são radicalmente diversas e têm status diferenciado dentro de todo grupo social. Porém, ele opta por utilizar essa palavra para designar comunidades nas quais as funções de prestígio são abertas a quaisquer pessoas, e não apenas aos membros que integram certos grupos com direitos especiais. Apesar disso, Fried concordaria com a afirmação orwelliana de Anatolii Khazanov: mesmo nas sociedades chamadas de igualitárias, “alguns membros são mais iguais do que os outros” (Khazanov, 1985).
O conceito de sociedade igualitária apresenta uma dificuldade que é diagnosticada por Graeber e Wengrow na literatura antropológica do século XX: há uma certa tendência a avaliar a igualdade entre homens adultos, sem qualquer consideração sobre a subalternidade feminina ou sobre o grau de violência doméstica a questão submetidas as mulheres, crianças e adolescentes (Graeber & Wengrow, 2021). O fato de que Fried reconhece expressamente que as sociedades igualitárias somente aceitam distinções estáveis com base em sexo e idade (1967) termina por naturalizar a dominância masculina, que é típica tanto nos Homo sapiens como em outros primatas.
Por mais que a bibliografia insista em qualificar que a igualdade da qual se fala é política, afigura-se incompatível com as concepções contemporâneas a ausência da tematização de uma dominância masculina, que é inclusive apontada como um dos principais motores que promove o controle populacional em bandos nos quais os conflitos são resolvidos por meio da fissão, e não da violência entre os membros. De acordo com os critérios valorativos contemporâneos, em uma sociedade liberal, não parece razoável qualificar como politicamente igualitária uma coletividade em que somente os homens podem ocupar os espaços de maior prestígio.
Cabe reconhecer que, nessas sociedades, pode existir o que o próprio Fried destinou como uma “relativa igualdade”, decorrente do fato de que os espaços de poder e de status estão abertos a todos os (poucos) homens adultos que a integram. Apesar de ser evidente que tais grupos não eram igualitários no nível individual, visto que havia uma distribuição desigual de poder entre homens e mulheres, podemos considerar tais comunidades como efetivamente igualitárias quando mudamos o nível de análise: em vez de avaliar a igualdade dos indivíduos, avaliar a igualdade dos subgrupos.
A família extensa não é composta diretamente por indivíduos, mas por uma série de sublinhagens: grupos que descendem de um dos membros da comunidade, cujo tamanho mínimo é o de uma família nuclear. Cada uma dessas sublinhagens é internamente desigual, na medida em que opera sob a dominância patriarcal, mas elas não têm uma hierarquia estabelecida entre si. Em outras palavras, a pertinência a quaisquer das famílias que integra a comunidade não altera o status social dos homens nem das mulheres que a integram, o que gera uma espécie de igualdade segmentada: mulheres são politicamente iguais entre si, homens são iguais entre si, jovens são iguais entre si. Definida assim a igualdade política entre os grupos, seria razoável qualificar como igualitárias as comunidades correspondentes a famílias extensas.
3. A emergência das sociedades clânicas
Numa sociedade de caçadores-coletores, se os laços entre os descendentes dos mesmos antepassados permanecessem estáveis ao longo de grandes períodos, grupos bem adaptados ao ambiente apresentariam um crescimento populacional contínuo. Em algumas gerações, a população alcançaria a cifra de algumas centenas, o que representaria um desafio organizacional e econômico impossível de ser enfrentado com base nas estruturas de uma coletividade relativamente igualitária, organizada em termos de laços familiares.
Flannery e Marcus apontam que, no final do período Paleolítico, algumas comunidades de caçadores-coletores ultrapassaram essa barreira da família estendida e desenvolveram relações que se mantinham sólidas de forma multigeracional. Em vez de cada família extensa constituir-se em um núcleo independente, foi possível desenvolver sociedades compostas por redes de famílias, que se percebiam unidas por laços de parentesco. De alguma forma, comunidades que se teriam fracionado em grupos menores conseguiram manter uma coesão multigeracional. É de se esperar que esse fenômeno tenha ocorrido múltiplas vezes ao longo do tempo, pois sabemos dos vínculos emocionais intensos que são gerados pela socialização comum em um grupo coeso. Porém, os indícios que temos apontam que esses arranjos maiores não sobreviviam no longo prazo, visto que os vestígios de grupos antigos não indicam a formação de coletividades mais amplas.
Apesar dos desafios econômicos e culturais envolvidos nesse processo, houve um momento no qual certos grupos sociais conseguiram manter a coesão entre várias linhagens, ou seja, de vários conjuntos de pessoas que se reconheciam como descendentes de um ancestral comum. Dentro de culturas orais, uma sociedade que mantém seus vínculos durante várias gerações perde a memória da genealogia exata de seus antepassados, mas seus membros podem ser capazes de capaz de se identificar como pessoas que compartilham uma ancestralidade comum.
Para designar essas sociedades compostas de múltiplas linhagens que se percebem vinculadas por uma ancestralidade compartilhada, a antropologia utilizou a palavra clã. A emergências dos clãs é importante para compreender a riqueza cultural das sociedades humanas porque, enquanto as pessoas nascem em uma família ou linhagem, elas são iniciadas em um clã, por meio de rituais que estabelecem um vínculo de pertinência e reproduzem as narrativas e crenças compartilhadas pelos membros.
A mesma falta de diferenciação entre os vestígios que nos chegam das sociedades limitadas às famílias extensas também é encontrada em várias das primeiras sociedades clânicas. Porém, Flannery e Marcus acentuam que houve nessa constituição uma ruptura com organizações anteriores: multiplicam-se os vestígios de uma vida cultural intensa, mediada por complexos sistemas de crenças, de representações pictóricas, de rituais comunitários.
Quando um grupo populacional permanecia unido por várias gerações, os vínculos deixavam de ser mediados pela memória efetiva de ascendentes comuns e passavam a ser estabelecidas em termos de outros elementos simbólicos, ligados ao modo como o grupo conta para si mesmo a sua história. Nas linhagens, o vínculo entre as pessoas é definido em termos de sua ligação a um antepassado comum bem definido. Nos clãs, o vínculo com ancestralidades que se perdem na memória é tipicamente redesenhado em termos de ascendentes legendários, de antepassados mitológicos, de narrativas sagradas cujo compartilhamento em ritos bem definidos define a pertinência ao grupo.
Diferentemente das sociedades limitadas à família extensa, a sociedades clânicas conseguem integrar uma quantidade substancialmente maior de indivíduos, por meio de um processo que é baseado no fortalecimento dos vínculos simbólicos existentes entre eles. Os laços de pertinência ao clã precisam ser estabelecidos de forma sólida e reforçados ao longo da vida, o que exige o desenvolvimento de uma ordem simbólica mais desenvolvida, como aquela que as pinturas rupestres dos madalenianos nos deixam entrever.
Como sintetizam Flannery e Marcus, essas estratégias simbólicas permitiam a criação de “grandes grupos de pessoas que acreditavam estar relacionadas entre si, fosse isso verdadeiro ou não” (Flannery & Marcus, 2012). Tal como ocorre nas sociedades contemporâneas, as sociedades clânicas eram atravessadas por elementos simbólicos permitiam a união multigeracional estável de várias linhagens. Esse é o motivo pelo qual Flannery e Marcus estabelecem nos povos madalenianos o ponto de partida para suas reflexões sobre uma desigualdade que não é natural, mas que é mediada justamente pelas conformações de uma cultura.
Mas qual seria o motivo que explicaria o fato de, em certo momento, unidades políticas compostas por múltiplas linhagens terem se tornado estáveis? Uma das respostas típicas é a de que esse trânsito foi movido por um aumento na densidade populacional das comunidades humanas.
Proponents of this view argue that the ability to generate art, music, and symbolic behavior was probably there throughout the Ice Age but remained latent as long as people were expanding into unoccupied wilderness. Once the world had become more extensively occupied by groups of hunters and gatherers, or so the argument goes, there would have been increasing pressure to use symbolism in the creation of ethnic identities and cultural boundaries. After all, one of the activities that regulate interaction among neighboring ethnic groups is ritual, and ritual often involves art, music, and dance. (Flannery & Marcus, 2012)
Flannery e Marcus se opõem a essa explicação porque consideram que os impactos dessa pressão demográfica são superestimados e são incompatíveis com o fato de que as evidências arqueológicas de comportamento simbólico ocorrem de modo descontínuo demais para que seja correlacionado com uma pressão demográfica relativamente homogênea (2012). Invertendo a mirada do argumento, esses autores defendem que foi a gradual consolidação dos clãs que impulsionou os desenvolvimentos culturais que viabilizam a manutenção desse tipo de sociedade.
Why would the creation of multigenerational lineages and clans during the late Ice Age have escalated the use of art, music, dance, and bodily ornamentation? The answer is, although one is born into a family, one must be initiated into a clan. That initiation requires rituals during which clan secrets are revealed to initiates, and they undergo an ordeal of some kind. To be sure, even clanless societies have rituals, but societies with clans have multiple levels of ritual, requiring even more elaborate symbolism, art, music, dance, and the exchange of gifts. […]
We suggest, therefore, that even without the pressures of growing Ice Age populations, the creation of larger social units would have escalated symbolic behavior — in effect, launching the humanities. This scenario could explain why the archaeological evidence for symbolic behavior appears at different moments in different regions. Simply put, not all Ice Age societies made the transition to units larger than the extended family. [...]
The advantages of clan-based society may even tell us something about the disappearance of the Neanderthals. Neanderthals displayed low population densities and show no archaeological evidence for social units larger than the extended family. In face-to-face competition for territory, they probably stood little chance against archaic modern humans organized into clans. We find this likely because by the twentieth century, most hunting-gathering societies without clans had been relegated to the world’s most inhospitable environments. They were pushed there by groups with more complex social organization. (Flannery e Marcus, 2012)
Segundo Flannery e Marcus, os grupos humanos da Era do Gelo não eram divididos entre governantes e governados, mas já era possível identificar nela o germe da desigualdade política, que viria a aflorar posteriormente em sociedades multiclânicas.
Before we begin congratulating our Ice Age ancestors for creating clans, however, bear in mind the fact that they had taken a step with unintended consequences. Clans have an “us versus them” mentality that changes the logic of human society. Societies with clans are much more likely to engage in group violence than clanless societies. This fact has implications for the origins of war. Societies with clans also tend to have greater levels of social inequality. Later in this book we will meet societies in which clans are ranked in descending order of prestige and compete vigorously with each other. (Flannery e Marcus, 2012)
O que os vestígios acentuados por Rebecca Schwendler indicam é que houve, entre os madalenianos, sociedades multiclânicas de caçadores-coletores que eram divididas em grupos com hierarquia social diferenciada.
Embora o estudo de vestígios arqueológicos sejam uma evidência limitada, é uma das nossas poucas ferramentas para estudar as sociedades pré-históricas. Schwendler indica que "different kinds of social organization generally involve the use of certain distinguishing kinds of visual displays" e que uma das diferenças encontradas entre vários sítios arqueológicos é o da existência de uma multiplicidade de adornos pessoais, ferramentas decoradas e outros elementos visuais (visual display). Segundo Rebeca Schwendler :
Through such tangible items, people demonstrate their individual identities and skills, group membership, social standing, social ties, and other roles and relationships. At a larger scale, households, settlements, and whole societies may distinguish themselves from others by using different colors, decorative motifs, and/or object forms. (Schwendler, 2012)
Pesquisas etnográficas indicam que sociedades com igualitarismo forte, chamados por Schwendler de enforced equality, desencorajam a competição inter-individual, tendem a usar poucos sinais visuais e os adornos são heterogêneos, fortemente individualizados, sem indicação de que eles servem para indicar prestígio ou status (2012). Já as sociedades que se aproximam das sociedades indígenas descritas por Clastres, não possuem governo, mas contam com intensas dinâmicas de prestígio social, estando ligadas ao que Schwendler designa como achievement inequality e que Flannery e Marcus chamam de achievement based leadership: liderança baseada nos "feitos" individuais que conferem prestígio a uma determinada pessoa. Em sociedades desse tipo, um dos meios de adquirir (ou apenas demonstrar) um status social diferenciado é o de investir suas riquezas em bens não-essenciais, como adornos especialmente difíceis de se conseguir ou produzir.
Além dessas formas de organização, Schwendler indica que antigas sociedades de caçadores-coletores, como os madalenianos, podiam desenvolver arranjos com hierarquia institucionalizada, algo que Flannery e Marcus datam em um momento posterior. De toda forma, Schwendler não indica a existência de uma diferenciação entre governantes e governados no Neolítico, mas apenas a emergência do que ela chama, seguindo Owens e Hayden, de sociedades transigualitárias (transegalitarian). Esses são grupos nos quais a existência de desigualdades socioeconômicas são muito grandes para que sejam considerados igualitários, mas não existe a emergência de chefes que centralizem o exercício da atividade política.
Esse tipo de organização seria possível em situações nas quais a combinação de alta densidade populacional e riquezas naturais poderiam ter hierarquias que instituíssem a divisão entre diferentes linhagens, com a segmentação social em grupos de ornamentos que não são apenas diversos, mas diversamente desejáveis. A presença de grupos estáveis de ornamentos com níveis muito diversos sugere que certos grupos teriam autorização para utilizar ornamentos que manifestam sua pertinência a um grupo de níveis sociais mais altos. Outra manifestação desse tipo de sociedade é a existência de enterros muito elaborados de pessoas jovens demais para alcançar prestígio pessoal, o que indica que eles participam do prestígio de um grupo institucionalizado. De fato, a identificação de grupos transigualitários desafia a compreensão comum de que os enterros de crianças seriam marcadores de sociedades politicamente estratificadas, pois essa classificação permite identificar grupos em que a existência de desigualdades econômicas e sociais que não se traduz necessariamente em uma desigualdade política.
Com esses critérios, Schwendler analisa vários assentamentos madalenianos e mostra que, em períodos distintos, houve não apenas sítios de igualdade imposta e de lideranças baseadas em prestígio, mas também sociedades com hierarquia social estabelecida. A interpretação indicada é a de que as sociedades baseadas em prestígio conduzem a uma competição constante entre as pessoas que pretendem ocupar espaços de liderança e que a estabilização desse tipo de tensão pode ser conseguida, em certos casos específicos, por meio da diferenciação de estamentos sociais. Essa interpretação é coerente com o fato de que sinais de hierarquia institucionalizada tendem a ocorrer em locais com populações estáveis durante longos períodos, o que conduz a uma densidade maior (Schwendler, 2012).
Schwendler (2012) indica que o reconhecimento de uma grande variabilidade de formas de organização dos povos arcaicos e da coexistência entre coleta e agricultura, em regiões próximas, desencadeou uma nova chave de interpretação: o igualitarismo não deveria ser pensado como uma característica necessária das sociedades de caçadores coletores, mas como uma espécie de variação cultural que era adaptada a certos contextos ecológicos e demográficos. Uma das teses que vem ganhando espaço é a de que, em ambientes com baixa disponibilidade de recursos, as redes igualitárias são uma forma de organização bem adaptada, mas que em ambientes com uma disponibilidade excepcional de recursos naturais favoreceria formas de organização social hierarquizada (Schwendler, 2012), que parece estar na base da estratificação política. Portanto, diversamente das interpretações típicas de meados do século XX, devemos reconhecer que a organização igualitária não decorre diretamente das estruturas sociais ligadas à caça e à coleta, mas da interação entre as estruturas próprias da sociedade e o contexto ambiental.
Essa é uma percepção coincidente com os argumentos de Graeber e Wengrow, que acentuam o fato de que as formas de organização social são muito ricas e que várias sociedades antigas tinham estruturas que se modificavam ao longo do ano, de forma acoplada com o ciclo das estações. Vários exemplos históricos desafiam nossa tendência de descrever as sociedades como se fossem arranjos estáticos, como é o caso da descrição de Lévi-Strauss sobre o povo Nambikwara, do Mato Grosso.
Nos anos 1940, os Nambikwara viviam efetivamente em duas sociedades de tipo diverso. Durante a estação chuvosa, eles ocupavam vilas compostas por centenas de pessoas, que se localizavam nos topos dos montes e nos quais praticavam horticultura; no restante do ano, eles se dispersavam em pequenos grupos de coletores. (Graeber & Wengrow, 2021)
O reconhecimento de que as sociedades podem ter formas de organização que se alteram ao longo do ano, para se adaptarem às mudanças ambientais, tem uma capacidade ampla de alterar nossa interpretação acerca dos vestígios arqueológicos (2021), pois sugere que devemos tomar cuidado com certos pressupostos injustificados: as ideias de que cada sociedade tem uma estrutura única (e não formas que se alteram de acordo com as mudanças ambientais) e de que a agricultura substituiria as formas econômicas anteriores (em vez de se integrar a elas, chegando a arranjos particulares a cada cultura).
Nosso conhecimento sobre as sociedades novas e antigas indica que esse tipo de transformação enfrenta as dificuldades típicas de toda mudança cultural. Assim como Clastres diagnosticou que as sociedades indígenas não eram sem estado, mas contra o estado, Graeber e Wengrow sugerem que as antigas sociedades de caçadores e coletores devem ter tido muita reticência a incorporar as mudanças sociais envolvidas na adoção da agricultura como forma básica de produção de alimentos, especialmente no início do processo, quando a eficiência da produção agrícola era muito limitada. O reconhecimento dos desafios envolvidos no desenvolvimento conjunto de técnicas agrícolas e de organizações sociais capazes de se utilizar delas reforça o ceticismo acerca da tese de que houve uma influência causal da agricultura na instituição da desigualdade política.
As respostas usuais ao enigma da desigualdade política têm sido confrontadas diretamente pelas pesquisas da última década. A repetida tese de que a revolução agrícola teria gerado o acúmulo de riquezas que viabilizou a concentração de poder político parece incompatível com os achados que mostram a existência de sociedades com hierarquias em grupos de caçadores coletores muito antigos, como os madalenianos de cerca de 20.000 AEC (Schwendler, 2012). Embora tais sociedades não fossem necessariamente estratificadas em grupos governantes e governados, esse é um desenvolvimento possível de sociedades transigualitárias de caçadores-coletores, em que a existência de um ambiente especialmente rico em recursos naturais viabiliza o estabelecimento de segmentações sociais que a intuição de Rousseau ligava com o surgimento da agricultura (Owens & Hayden, 1997).
As pesquisas recentes apontam que os marcadores que ligamos tipicamente com a emergência de sociedades politicamente estratificadas são anteriores à emergência do governo. Ricos enterros de crianças e adolescentes são compatíveis com sociedades neolíticas transigualitárias (Owens & Hayden, 1997). A presença de templos, que arqueólogos como Flannery e Marcus entendem como marcadores de sociedades politicamente hierarquizadas, como a presença de templos, tem sido encontrados também em sítios arqueológicos anteriores ao surgimento da agricultura, como é o caso de Gölbeki Tepe, na Turquia (Graeber & Wengrow, 2021).
As pesquisas contemporâneas também coincidem em indicar que a transição das primeiras sociedades sem governo para as sociedades com governo não foi uma decorrência necessária das características biológicas dos seres humanos (as quais são compatíveis com outras formas de organização política) nem podem ser explicadas apenas por questões demográficas, inclusive porque a própria a existência de governos parece ter sido um dos elementos que viabilizou a expansão demográfica das comunidades humanas ao longo do Holoceno (Acemoglu & Robinson, 2012; Flannery & Marcus, 2012).
4. O mito da igualdade originária
Durante décadas, a afirmação de que as sociedades Paleolíticas de caçadores-coletores tinham um caráter igualitário não sofreu contestações veementes. Porém, como indicam McCall e Widerquist, essa concepção passou contestada ao longo dos anos 1980 e 1990, quando se consolidou a percepção de que as relações políticas das sociedades de caçadores-coletores apresentam uma variação maior do que a suposta pelos estudos etnográficos anteriores. Essas críticas se basearam em pesquisas que indicaram que várias sociedades de caçadores-coletores (tanto contemporâneas quanto antigas) tinham graus consideráveis de desigualdade e que elas tinham contatos com sociedades de agricultores que eram suas contemporâneas (McCall & Widerquist, 2015).
Esses novos achados deixaram claro que “igualdade originária” decorria de uma projeção retrospectiva, baseada no pressuposto de que os grupos atuais de povos sem escrita (indígenas, caçadores-coletores, etc.) seriam similares às sociedades antigas. Em especial, McCall e Winderquist sugerem que o igualitarismo forte (reforçado por normas sociais e punições) talvez seja um fenômenos recente, ligado ao desafio de manter estruturas igualitárias em contextos nos quais haveria uma pressão demográfica e ecológica que favorecesse a instauração de governos (McCall & Widerquist, 2015).
Enquanto críticas desse tipo colocaram em dúvida a possibilidade de supor que as sociedades paleolíticas tinham um igualitarismo institucionalizado, Graeber e Wengrow vão além e sustentam que “the only thing we can reasonably infer about social organization among our earliest ancestors is that it’s likely to have been extraordinarily diverse” (2021). A extrema plasticidade comportamental humana torna improvável que culturas paleolíticas não tenham explorado possibilidades de uma organização centralizada de poder, mesmo que esse formato não tenha adquirido uma posição hegemônica. De fato, Graeber e Wengrow não afirmam que há indícios suficientes para concluir que houve sociedades politicamente centralizadas antes do Holoceno, mas apenas que não é possível rejeitar essa possibilidade com segurança.
Ao admitir que as sociedades antigas podem ter tido estruturas muito variadas, Graeber e Wengrow buscam dissolver o próprio enigma da desigualdade, rejeitando a idealização de que houve no passado humano um Éden igualitário, que foi rompido pela inevitável evolução das nossas sociedades. Isso permite a esses autores propor que enfrentemos uma pergunta um pouco diversa: em vez de buscar as origens da desigualdade (o que supõe a existência de uma ruptura da desigualdade originária), podemos investigar os motivos pelos quais as comunidades humanas terminaram por cristalizaram certas formas de dominação política, que se tornaram permanentes, reduzindo a fluidez e a flexibilidade dos laços sociais mais antigos.
How did some human societies begin to move away from the flexible, shifting arrangements that appear to have characterized our earliest ancestors, in such a way that certain individuals or groups were able to claim permanent power over others: men over women; elders over youth; and eventually, priestly castes, warrior aristocracies and rulers who actually ruled? (Graeber & Wengrow, 2021)
Apesar de ser tentadora essa forma de colocar a pergunta, parece que Graeber e Wengrow não levaram suficientemente em conta que as sociedades anteriores aos madalenianos eram constituídas por pequenos grupos de caçadores coletores, uma demografia incompatível com a emergência de uma sociedade com grupos hierarquicamente diferenciados. Por mais plásticas que sejam as formas de organização política dos Homo sapiens, não temos indícios de que sociedades antigas adotaram o formato de uma centralização política cuja estabilização exige uma ordem simbólica, cujos vestígios não parecem estar presentes nos sítios arqueológicos disponíveis.
Nese ponto, a narrativa de Flannery e Marcus parece mais sólida, ao indicar que a formação dos clãs envolveu o desenvolvimento de ordens simbólicas mais ricas e que essa complexificação da cultura viabilizou a estabilização de sociedades formadas por uma pluralidade de linhagens. Todavia, há um ponto ressaltado em pesquisas mais recentes que converge com a tese de Graeber e Wengrow de que as sociedades antigas eram mais variadas do que se supõe. Flannery e Marcus afirmam que os povos madalenianos tinham clãs e culturas, mas não tinham ainda a instituição de uma desigualdade estruturada. Entretanto, as pesquisas atuais apontam que os povos madalenianos se organizavam segundo modelos muito variados e que alguns deles já tinham estruturas sociais compatíveis com a divisão da sociedade em clãs com hierarquia social diferenciada (Schwendler, 2012).
Isso faz com que possamos nos perguntar: o que permitiu que, há cerca de 15.000 anos, emergissem sociedades com ordem simbólicas que atribuíam a seus membros um status social diferenciado, a partir de sua pertinência a determinadas linhagens? Essa abordagem não coloca a desigualdade como uma decorrência automática da agricultura (como em Rousseau), nem como um atributo desenvolvido por sociedades posteriores aos madalenianos (como em Flannery e Marcus). Ela tampouco se concentra na distinção entre governantes e governados, central para a preocupação de Clastres, e que pode ter aflorado somente em um momento posterior.
O modo como colocamos a questão se aproxima da metáfora da prisão social (social cage): a consequência de elaborar estruturas sociais para além das famílias extensas dos grupos de caçadores-coletores coloca os humanos em “uma prisão social que eles próprios construíram”(Gamble, 2007).
5. A ordem imaginada
Os clãs constituem grupos marcados pelo compartilhamento de uma ordem imaginária, de mitos fundantes, de formas culturais que servem como marcadores sociais. Dentro da unidade cultural do clã, é possível acoplar uma série de famílias, o que deu origem a unidades sociais maiores, que poderiam chegar a centenas de indivíduos. Na célebre classificação de Elman Service, as sociedades unifamiliares eram chamadas tipicamente de bandos, enquanto as sociedades clânicas comporiam o que se chama tipicamente de tribos.
Um passo seguinte de complexidade ocorre quando uma comunidade enfrenta o desafio de acoplar diferentes clãs, o que pode ser feito a partir de várias estratégias. Flannery e Marcus mostram que algumas dessas organizações davam predomínio a uma relação de coordenação, em que poderia haver líderes dotados de prestígio pessoal, mas não havia uma divisão da sociedade em níveis hierárquicos. Ocorre que outras sociedades passaram por processos históricos nos quais o prestígio migrou do nível individual para o clânico, visto que os membros de um determinado clã passaram ser reconhecidos como dotados de uma posição especial na sociedade. Esse tipo de processo conduz à formação do que Olwen e Hayden chamam de sociedades transigualitárias, em que há grupos hierarquicamente diferenciados, com marcadas posições de liderança, embora não exista uma divisão entre governantes e governados (Owens & Hayden, 1997).
Flannery e Marcus mostram que várias sociedades multiclânicas atravessaram longos períodos em que se alternavam ciclos de concentração de prestígio em um clã e de difusão do prestígio pelos demais grupos, quando a liderança voltava a ser definida em termos dos atributos individuais do líder. O surgimento das primeiras sociedades hierarquizadas é identificado com a cristalização do prestígio de um determinado clã, o que permite o estabelecimento de uma autoridade hereditária. Portanto, a consolidação da estratificação política envolve uma alteração substancial da ordem imaginada, com a introdução de uma figura antes inexistente: a autoridade política com direito hereditário de comando.
Devemos ressaltar que os chefes não devem ser confundidos com os líderes de sociedades baseadas em prestígio, como era o caso dos povos indígenas brasileiros. Clastres sustenta que os caciques indígenas não poderiam ser considerados chefes porque eles não eram dotados de autoridade política, mas apenas exerciam uma função social de liderança (2003).
As pesquisas mais recentes apontam que essa transição não ocorreu depois da emergência da agricultura, pois há vestígios de sociedades de caçadores-coletores com estruturas que apontam para a existência de divisões hierárquicas. As abordagens contemporâneas também coincidem em afirmar que a origem dos governos depende mais da organização interna das próprias sociedades do que de sua demografia, de nossa carga genética ou mesmo de certos avanços tecnológicos (Acemoglu & Robinson, 2012; Flannery & Marcus, 2012; Graeber & Wengrow, 2021).
Não há nada de natural na segmentação da sociedade em pessoas superiores e pessoas inferiores nem na a distinção entre governantes por natureza e governados por natureza. Considerando que a criação dos governos representa uma ruptura com relação aos modos de organização anteriores como é possível manter essa superioridade artificial?
A resposta típica a essa pergunta é: por meio de uma alteração substancial no sistema de crenças que organiza a sociedade. Temos indícios de que as comunidades humanas praticam rituais complexos há cerca de 70.000 a 80.000 anos, quando ocorreu o que Yuval Harari (2012) denomina de Revolução Cognitiva, e que está ligada com o desenvolvimento de uma linguagem abstrata, que não diz coisas apenas sobre entidades concretas, mas também sobre entidades abstratas. Nas palavras de Harari, a característica particular de nossa linguagem é justamente a nossa capacidade de falar sobre coisas que não existem e, com isso, criar ordens ficcionais imaginadas (2012).
Lendas, mitos, deuses e religiões apareceram pela primeira vez com a Revolução Cognitiva. Antes disso, muitas espécies animais e humanas foram capazes de dizer: “Cuidado! Um leão!”. Graças à Revolução Cognitiva, o Homo sapiens adquiriu a capacidade de dizer: “O leão é o espírito guardião da nossa tribo”. Essa capacidade de falar sobre ficções é a característica mais singular da linguagem dos sapiens. (Harari, 2012)
Como é possível manter a coesão social de uma comunidade na qual a superioridade de um certo grupo? Por meio de uma crença social compartilhada que afirma essa superioridade. Supomos que os seres humanos tenham desenvolvido várias narrativas mitológicas acerca da origem do mundo, nos últimos 70.000 anos, e que esses sistemas simbólicos eram fundamentais para permitir a coordenação das várias comunidades.
A introdução dos governos não mudou a nossa dependência dessas ordens simbólicas, mas introduziu novas formas de descrição, que não apontavam simplesmente para o primado da tradição, mas precisavam justificar a ruptura representada pela cisão social entre governantes e governados.
Todas essas redes de cooperação – das cidades da antiga Mesopotâmia aos impérios Qin e Romano – foram “ordens imaginadas”. As normas sociais que as sustentavam não se baseavam em instintos arraigados nem em relações pessoais, e sim na crença em mitos partilhados. (Harari, 2012)
Ocorre que a ordem imaginada das sociedades com governo precisava ser articulada com a mitologia anterior, de uma ordem natural (também imaginada) consuetudinária que sustentava os modos de vida tradicionais dos caçadores-coletores. É preciso estabelecer que a nova ordem é a verdadeira ordem, sendo que a introdução da desigualdade parece ter sido justificada em termos religiosos: os governantes são favorecidos pelos deuses e, por isso, têm autoridade para exercer seu poder.
Essa naturalidade tem raízes muito antigas, depois atravessa filosofia grega, inclusive (Aristóteles postula que é natural a submissão da mulher ao homem, do escravo ao senhor e dos indivíduos à cidade) e até hoje é usada como critério válido para julgar a possibilidade de o Estado regular assuntos moralmente controvertidos. Para muitos discursos contemporâneos, o respeito aos papéis naturais das pessoas (como homens, filhos, mulheres, pais etc.) ainda são a base fundamental da legitimação da ordem social.
Nas comunidades antigas, e em boa parte das contemporâneas, é preciso apresentar a ordem social como uma parte da ordem natural. Nas palavras de Harari:
Como você faz as pessoas acreditarem em uma ordem imaginada como o cristianismo, a democracia ou o capitalismo? Primeiro, você nunca admite que a ordem é imaginada. Você sempre insiste que a ordem que sustenta a sociedade é uma realidade objetiva criada pelos grandes deuses ou pelas leis da natureza. (Harari, 2012)
Essa inscrição do social no natural é que confere autoridade aos governantes, que não são apresentados como tiranos que submetem a população a sua vontade, mas como autoridades que legitimamente servem como garantidores da tradição, do bem e da justiça. Ocorre que a, tal como as ordens simbólicas mais antigas (que cederam lugar às ordens simbólicas que justificam a posição especial dos governantes e de certos estamentos superiores), as ordens novas estão sempre sob o risco de entrar em colapso, pois as concepções hegemônicas em uma sociedade estão em constante mudança.
Para salvaguardar uma ordem imaginada, são necessários esforços árduos e contínuos. Alguns desses esforços assumem a forma de violência e coerção. Exércitos, forças policiais, tribunais e prisões estão o tempo todo em ação, forçando as pessoas a agirem de acordo com a ordem imaginada. [...]. No entanto, uma ordem imaginada não pode se sustentar apenas por meio da violência. Requer também que algumas pessoas realmente acreditem nela. O príncipe Talleyrand, que começou sua carreira camaleônica sob Luís XVI, para posteriormente servir o regime revolucionário e o napoleônico e enfim trocar sua lealdade a tempo de terminar seus dias trabalhando para a monarquia restaurada, resumiu décadas de experiência governamental afirmando que “podemos fazer muitas coisas com baionetas, mas é muito desconfortável sentar sobre elas”. Um único padre muitas vezes faz o trabalho de uma centena de soldados – só que é muito mais barato e eficaz. Além do mais, não importa quão eficientes sejam as baionetas, alguém precisa empunhá-las. Por que os soldados, carcereiros, juízes e policiais manteriam uma ordem imaginada em que não acreditassem? De todas as atividades humanas coletivas, a mais difícil de organizar é a violência. Dizer que uma ordem social é mantida por força militar imediatamente levanta a pergunta: o que mantém a ordem militar? É impossível organizar um exército unicamente por meio de coerção. Pelo menos alguns dos comandantes e soldados precisam acreditar realmente em alguma coisa, seja Deus, honra, pátria, coragem ou dinheiro. (Harari, 2012)
O direito, a moralidade e a religião desempenham um papel muito importante na manutenção dessa ordem imaginada que não apenas nos oprime, mas que modela os nossos próprios desejos.
A maioria das pessoas não quer aceitar que a ordem que governa sua vida é imaginária, mas na verdade cada pessoa nasce em uma ordem imaginada preexistente, e seus desejos são moldados desde o nascimento pelos mitos dominantes. Nossos desejos pessoais, portanto, se tornam as defesas mais importantes da ordem imaginada. (Harari, 2012)
Essas reflexões nos trazem um dos elementos constantes da filosofia do direito, ao longo dos últimos milênios: a busca de identificar, dentro da ordem social, o que é natural e o que não é. A ordem natural é um elemento simbólico muito anterior à filosofia. Como será analisado no próximo capítulo, cada cultura interpreta essa ordem natural de forma diversa. Os hindus a viam como uma ordem de obrigações impostas, que todos precisariam seguir, nomeando-a como Dharma. Na tradição chinesa, muitas vezes essa ordem é entendida de forma impessoal, como um fluxo natural ao qual devemos nos adaptar: o Tao. A lei natural dos Romanos, inspirado na ordem natural dos gregos, representa também uma ordem normativa que determina os nossos papéis.
Longe de se opor à ideia de ordem natural, a herança filosófica dos gregos está ligada à garantia de um primado da natureza sobre a tradição. A ideia de ordem natural permeia as explicações tradicionais contra as quais a filosofia se voltou. De fato, a filosofia iniciou na Grécia como uma forma particular de questionar a relação direta entre tradição e natureza, mas sem contestar a existência de uma ordem natural nem questionar a autoridade objetiva dos valores naturais. Críticas mais radicais à própria ideia de ordem natural (como as que foram feitas pelos sofistas) não eram bem recebidas pelos filósofos, justamente porque a filosofia buscava fundamentos racionais na natureza, para contrapor-se à autoridade tradicional.
Essa ideia de ordem natural, de uma ordem imanente do mundo, é o pano de fundo da filosofia do direito. Ela permeia toda a filosofia de matriz grega, acompanhando o renascimento e todas as concepções da modernidade: o iluminismo, o constitucionalismo, o liberalismo. Não seria exagero entender a filosofia do direito como uma história dessa ordem natural: seu desenvolvimento nas culturas antigas, sua reinterpretação medieval, sua pseudo-racionalização na modernidade e as críticas que foram dirigidas a essa noção pelo historicismo que se construiu na passagem do século XIX para o século XX.
4. Arqueologia da autoridade política
1. A emergência do governo
No capítulo anterior, discutimos a passagem das sociedades sem governo para as sociedades com governo, convertendo as diferenças sociais das comunidades transigualitárias (também chamadas de hierárquicas ou de rank societies) em distinções propriamente políticas, entre governantes e governados. A partir de agora, cumpre avaliar um outro fenômeno: a passagem de sociedades com uma divisão simples entre governantes e governados para modelos mais complexos, que envolvem a articulação de vários níveis hierárquicos dentro do próprio governo.
A existência de chefes implica a distinção entre governantes e governados, numa configuração social em que existe uma hierarquia política consolidada. Trata-se de unidades políticas que têm um centro de poder e que exerce sua autoridade em um território composto por alguns centros populacionais diversos. Nas primeiras vilas, poderia haver apenas um nível de governo, o que implicaria o exercício direto da autoridade do chefe sobre os seus súditos. Todavia, como indicam Flannery e Marcus, a hierarquia política não emerge numa separação entre o chefe e os demais membros, mas entre o clã (ou linhagem) dominante e os demais grupos: o chefe nunca é chefe sozinho, pois ele é o membro central de um grupo dominante, hierarquicamente diferenciado do restante da comunidade.
Cada estrutura multiclânica dotada de uma autoridade política central é chamada de chefatura (chiefdom), sendo que elas envolve dois níveis de hierarquia política: um chefe central, que habita a vila principal (nível 1), e que exerce seu poder de modo articulado com os vários subchefes (nível 2), que integram o seu clã e habitam os núcleos periféricos (Flannery & Marcus, 2012).
Cabe aqui ressaltar que chefatura (chiefdom) é um conceito aparentado ao de reino (kingdom), na medida em que designa o território dominado por uma autoridade política determinada. Chefaturas e reinos não designam formas abstratas de organização política, como é o caso da palavra “monarquia”, mas unidades políticas concretas, que podem compartilhar algumas características.
A emergência de chefaturas é potencialmente explicável por fatores internos: a combinação de aumento demográfico com o desenvolvimento de uma ordem simbólica que legitima a distinção política entre governantes e governados. A instituição de uma monarquia normalmente envolve o que os antropólogos designam como estratificação social: não se trata da mera hierarquização entre os clãs, em função do seu prestígio, mas do estabelecimento de estratos sociais com acesso privilegiado aos recursos básicos da sociedade (Fried, 1967). Nas sociedades hierarquizadas (ou transigualitárias), a existência de grupos com maior prestígio não implica o acesso exclusivo à propriedade da terra ou o exercício de funções de liderança.
De acordo com Fried, as sociedades estratificadas são raras porque o tipo de diferenciação estamental que elas instituem somente pode ser garantido, no longo prazo, pela sua conversão em um estado, ou seja, em uma comunidade na qual existe uma distinção entre governantes e governados e uma série de instituições sociais voltadas a manter a estabilidade dos padrões de estratificação (1967).
Esse tipo de segmentação entre governantes e governados somente é viável em sociedades inseridas em um ambiente com riquezas suficientes para que a concentração de bens não coloque em risco a sobrevivência de todos, o que viabiliza a construção de distinções sociais que podem ser convertidas em uma efetiva hierarquia política. Após ciclos de concentração e desconcentração do prestígio, algumas unidades políticas se cristalizam no formato de uma chefatura hereditária, que é uma das possibilidades de auto-organização de uma comunidade de algumas centenas ou até milhares de pessoas.
Devemos ressaltar que isso não significa que os seres humanos têm uma natureza (metafísica ou genética) que os destina fatalmente às monarquias. Durante vários milênios, vivemos em pequenas sociedades sem governo, algumas das quais deviam ter mecanismos que a tornavam propriamente sociedades contra o Estado, e a ruptura desse padrão não decorre da realização inevitável de nossas características humanas, mas da combinação de fatores ambientais que tornaram os grupos centralizados mais eficientes que os descentralizados.
A concentração de poderes em uma pessoa dotada de autoridade suprema é apenas uma das possíveis configurações políticas, ao lado das sociedades sem governo e também do governos exercidos de forma coordenada, por conselhos formados por pessoas que não têm hierarquia política entre si. A experiência da polis grega, por exemplo, sugere que unidades de porte médio, formadas por uma cidade central e vários núcleos populacionais periféricos, podem ter uma longevidade razoável. Ainda que certas cidades gregas antigas tenham tido populações de dezenas de milhares de habitantes, o tamanho ideal da cidade arquetípica era aquele no qual os cidadãos poderiam ao menos se reconhecer uns aos outros.
A filosofia política grega acentua o fato de que há muitas formas de organizar uma cidade e que o poder concentrado em uma autoridade máxima (a monarquia) é apenas uma das estratégias possíveis de organização. Já o pensamento político contemporâneo tende a caracterizar as monarquias como formas ilegítimas, que devem ceder espaço a organizações políticas estruturadas em torno de uma constituição que estabelece limites ao poder governamental, além de instituir governos com poderes distribuídos entre vários órgãos.
Embora a limitação do poder político seja um elemento central do pensamento político moderno e contemporâneo, devemos ter em mente que esse não foi um movimento inaugurado pela modernidade. Devemos ter em mente que, desde a instauração dos primeiros governos, é conflituosa a determinação dos limites da autoridade política. A autoridade dos chefes das antigas unidades políticas poderia ser suprema, mas não era absoluta. Por mais que o chefe fosse o ápice uma comunidade culturalmente coesa e politicamente centralizada, é pouco provável que eles tivessem a força política necessária para impor reformas na estrutura social.
Nas sociedades pré-modernas, os governantes exerciam uma autoridade que era percebida como sagrada e que, nessa medida, estava submetida às regras consuetudinárias que definiam os direitos e obrigações entre as pessoas. A instituição dos governos possibilitava que várias decisões sociais fossem tomadas a partir de uma racionalidade estratégica, capaz de gerir os recursos comunitários de modo eficiente, mas isso não significava que fosse socialmente reconhecido o direito os chefes e reis de alterar as estruturas sociais, que eram entendidas como parte de uma ordem cósmica. Os chefes que se afastassem dos costumes de sua cultura, e com isso colocassem em risco a ordem simbólica que organiza a interação política entre as pessoas, poderiam ter a sua própria autoridade contestada.
A tensão entre o exercício do governo e as regras sociais estratificadas deu origem a um pensamento político que tipicamente afirmava que o poder dos governantes deveria ser exercido com o objetivo de fazer prevalecer a ordem natural. Várias categorias foram desenvolvidas para organizar essas tensões, sendo que algumas delas serão abordadas próximo capítulo, que tratará das ontologias políticas desenvolvidas para permitir o acoplamento entre o exercício do governo e a ordem imaginada que organiza as percepções de uma comunidade. Mas antes de passar a uma análise da ontologia política desenvolvida na antiguidade, precisamos compreender melhor os processos que levaram à constituição das cidades, reinos e impérios nos quais esse pensamento foi formulado.
2. Das cidades aos reinos
Uma vez que a criação dos primeiros governos pode ser explicada como uma decorrência das dinâmicas internas de sociedades multiclânicas capazes de produzir excedentes de bens, é tentador pensar que o crescimento demográfico das chefaturas poderia conduzir a grupos e territórios tão extensos que somente poderiam ser governados a partir da emergência de um novo nível de governo.
Por mais que esse trânsito pareça plausível, e possa ter ocorrido em alguns lugares, o conhecimento atual sugere que a instituição de unidades políticas maiores que as chefaturas foi um fenômeno que ocorreu de maneira mais restrita do que o aumento populacional. Uma dos primeiros estudos que apontou esse fenômeno e buscou delinear explicações plausíveis para ele foi o influente artigo de Robert Carneiro intitulado “A theory of the origin of the State” (1970).
Carneiro parte do reconhecimento de que, a priori, nada impediria que a transição das chefaturas para os estados decorresse de uma adaptação do governo a uma sociedade que viu seu número de habitantes aumentar ao longo de várias gerações. Todavia, ao levantar informações sobre os locais em que se formaram os primeiros reinos, Carneiro notou que a emergência de novos níveis de governo não era um fenômeno que decorria da natureza humana nem da transformação voluntária das comunidades agrícolas que tiveram substanciais aumentos de população. Ao observar os padrões de emergência desses governos mais complexos, ele apontou que o surgimento de organizações políticas altamente centralizadas estava ligado a certos ambientes extremamente propícios à agricultura, cercados por espaços de baixa produtividade, que ele chamou de áreas agricultáveis circunscritas, como os vales do Nilo, o crescente fértil e os vales agricultáveis dos Andes.
Carneiro identificou que os primeiros estados surgiram em espaços agricultáveis circunscritos nos quais que há vestígios de uma atividade bélica intensa. “Historical or archeological evidence of war is found in the early stages of state formation in Mesopotamia, Egypt, India, China, Japan, Greece, Rome, northern Europe, central Africa, Polynesia, Middle America, Peru, and Colombia, to name only the most prominent examples” (Carneiro, 1970). Embora a existência de conflitos armados fosse comum a todos os contextos humanos, Carneiro indica que ela teve resultados diferentes nos espaços circunscritos, visto que a sobrevivência das populações que cultivavam essas terras somente era viável na própria região que foi dominada belicamente por outro grupo, criando assim uma nova fonte de desigualdade: a conquista.
Nos locais nos quais a população invadida poderia transitar para outros espaços, sem comprometer sua capacidade de sobrevivência, a guerra não gerava a submissão dos vencidos. Em ambientes como o da planície Amazônica, não haveria motivo para as populações vencidas em conflitos armados se submeterem politicamente aos vencedores, visto que elas poderiam migrar para outras áreas, em que seu modo de vida seria também sustentável. Além disso, os custos envolvidos em submeter outras populações ao mesmo chefe somente poderiam valer a pena em locais com uma produção tão intensa que fosse justificável a mobilização dos recursos necessários a promover o domínio do conquistador.
Segundo Carneiro, no contexto particular dos espaços agricultáveis circunscritos, a submissão das populações conquistadas era economicamente viável e factível, na medida em que os povos conquistados tinham um modo de vida muito dependente das peculiaridades da região por eles habitada e explorada economicamente. Nesses contextos particulares é que foi possível observar uma transição das organizações baseadas em pequenas chefaturas, com apenas uma cidade, para unidades políticas maiores, compostas pela submissão de várias chefaturas a um mesmo centro.
O prestígio contínuo de um clã podia gerar internamente uma segmentação social estratificada (e o surgimento de um clã governante), mas esse processo não explica o surgimento de entidades sociais mais amplas, que não se organizavam apenas em termos de clãs, mas em termos de vilas periféricas submetidas a uma vila central. Frente a esses elementos, Carneiro propôs uma teoria que se tornou muito influente: o reconhecimento de que a emergência dos estados decorria de um processo de conquista e assimilação, que é “uma resposta previsível a certas condições culturais, demográficas e ecológicas” (Carneiro, 1970).
Quando os múltiplos núcleos populacionais passaram a se condensar em chefaturas cada vez mais amplas, as guerras existentes entre chefaturas possibilitaram a submissão política de um chefe a outro, o que conduziu à formação dos primeiros reinos. A existência desse novo nível de hierarquia política somente ocorre em unidades bastante extensas, sendo essas grandes unidades políticas centralizadas que, seguindo a tipologia de Fried (1967), Carneiro chamou de estados. Para ele, essas unidades não se formam pelo crescimento demográfico de uma comunidade, e sim por processos de conquista, que conduzem à agregação de “villages into chiefdoms, and of chiefdoms into kingdoms” (Carneiro, 1970).
Carneiro indica que os processos de estratificação decorreriam desse sistema de conquista, na qual os conquistadores ocupariam um estrato superior e os vários povos conquistados ocupariam estratos sociais mais baixos. Eventualmente, essa sociedade segmentada geraria sistemas simbólicos que cristalizassem essa situação, como o sistema hindu de castas, nas quais a posição superior foi conferida aos conquistadores arianos e os estamentos mais baixos foram conferidos às populações locais dominadas.
Flannery & Marcus coincidem com a explicação de Carneiro, pois consideram que somente a dominação de um povo por outro explicaria esse trânsito para unidades tão complexas como os reinos. Além disso, indicam que as pressões que favorecem esse tipo de transformação podem ser explicadas pelos modelos do arqueólogo Charles Spencer, que fez projeções baseadas na constatação de que a curva de crescimento de uma população sofre um rápido incremento, até que ela consegue explorar todos os recursos naturais disponíveis em seu território. Uma vez que os tais recursos são levados ao seu limite, a população tende a se estabilizar, sendo previsível o afloramento de tensões decorrentes do fato de que os recursos disponíveis não conseguem oferecer qualidade de vida compatível com a configuração demográfica anterior. Quando as estruturas sociais não conseguem manter a densidade populacional em patamares compatíveis com os recursos existentes no ambiente, os governantes de cada unidade se viam na necessidade de fazer escolhas complexas que podem ser agrupadas em 3 estratégias fundamentais:
\1. Step up demand for resources from their own subjects, which may lead to revolt.
\2. Intensify production through technological improvement, which will likely increase wealth but not necessarily sociopolitical complexity.
\3. Expand the territory from which they get their resources, which will probably require the subjugation of neighbors. (Flannery & Marcus, 2012)
Quando a escolha da terceira alternativa conduzia a conflitos bélicos exitosos, a expansão territorial para além dos limites administráveis por um chefe estimulava a alteração das formas de governo e da ideologia política, de forma a viabilizar a criação de um novo nível hierárquico (Flannery & Marcus, 2012). Esse é um tipo de modificação das estruturas sociais que não ocorreria nas unidades que optaram pelas duas primeiras alternativas, que não exigem uma reorganização mais radical das estruturas de governo.
A submissão de grandes contingentes de pessoas a um mesmo chefe implicava a assimilação de uma diversidade cultural crescente a uma mesma unidade política, o que criava uma dificuldade especial de organizar as sociedades com base no reforço das tradições locais. A construção gradual de reinos maiores implicava a formulação de novas ordens imaginadas, mas devemos reconhecer que nosso conhecimento sobre essa transição é muito limitado.
Was there a logical connection between a particular type of monarchy and the chiefly societies out of which it was created? Did divine monarchs result from the unification of rank societies in which religious authority was paramount? Did secular kings result from the unification of largely militaristic rank societies, where religious specialists were little more than witch doctors? Or could any type of monarchy be created by uniting rank societies of any type? We have no answer to this question, because social anthropologists and archaeologists are not working on it. But they should be. (Flannery & Marcus, 2012)
De toda forma, temos indicações sólidas de que a constituição dos primeiros reinos (em espaços diversos como os da Mesopotâmia, Antiga China e da América Pré-Colombiana) conduziu a uma série de conflitos, visto que a lógica expansionista que conduziu as chefaturas mais poderosas a invadir as chefaturas vizinhas foi acentuada pelo sucesso militar, que formava unidades políticas dotadas de territórios e exércitos cada vez maiores.
Once having created the apparatus of a kingdom, they expanded against neighboring groups. Expansion was facilitated by the fact that many groups could not defend themselves against the centralized control and military strategy of a newly formed monarchy. (Flannery & Marcus, 2012)
Flannery & Marcus indicam que, uma vez cristalizados os primeiros reinos, um desenvolvimento que exigiu uma complexa interação de novas tecnologias, novas estruturas de governo e novas ordens simbólicas, era de se esperar uma reação em cadeia que conduzisse à formação de uma multiplicidade de novos reinos, já que a única forma de se opor à força expansionistas das primeiras monarquias era a construção de unidades políticas maiores, seja pela aliança de chefes ou pela formação de novos reinos. Na história que se segue ao surgimento dos reinos de primeira geração, encontramos inúmeras repetições dessas duas estratégias de gerar unidades cada vez maiores: a formação de alianças que geram unidades coordenadas ou a submissão a um reino mais forte, por conquista ou vassalagem, que gera unidades subordinadas**.
Thirty years ago, Southern Mesopotamia was considered “the cradle of civilization.” Today we know that proto-states were also forming in Northern Mesopotamia and southwest Iran at about the same time. These three regions were all in contact with each other, providing us with another example of a chain reaction: the rise of multiple early states in response to the first aggressive one. The title of this chapter reflects our belief that when you have three cradles, it is a nursery. (Flannery & Marcus, 2012)
A reação em cadeia na qual a formação de reinos foi estimulada fez com que a resposta ao processo expansionista dos novos estados gerasse novas formas organizativas capazes de se opor à conquista externa. Como disseram Flannery & Marcus, não se trata do berço de um reino apenas, mas de um berçário de reinos, que nasceram desse conflito e cuja dinâmica dominou o espaço político durante milênios.
Whatever its timing, we doubt that city life began at one community and spread like an oil slick. It likely grew out of long-term competitive interaction, not only between neighbors such as Susa and Chogha Mish but among regions such as Susiana, Southern Mesopotamia, and Northern Mesopotamia. Competitive interaction drives ambitious leaders to take unprecedented measures. In addition to transforming whole societies, of course, it produces winners and losers. We flock to the winners like paparazzi, forgetting that the competition itself was the real engine of change. (Flannery & Marcus, 2012)
Uma das principais mudanças implementadas por essas novas unidades políticas é que as identidades clânicas se tornaram pouco eficientes como formas de gerar unidade política. O desafio dos reis da antiga Suméria era semelhante ao que foi descrito por Hobbes: como gerar unidade e obediência a um Estado quando sua população envolvia diversas culturas?
The creators of first-generation kingdoms had no template to follow. They did not know that they were creating a new type of society; they simply thought that they were eliminating rivals and adding subordinates. Only later did they discover that they had created a realm so large that they would need new ways to administer it. (Flannery & Marcus, 2012)
Uma das respostas foi a de deslocar cada vez mais poder da tradição para os governantes, capazes de otimizar o uso dos recursos naturais e dos recursos humanos, viabilizando que uma unidade política pudesse ser vencedora na corrida expansionista que caracterizou esse ambiente inicial de múltiplos reinos. Um dos primeiros reinos que desenvolveu essa institucionalização política foi a Suméria, assim descrita por Flannery & Marcus:
Many early states had strong, highly centralized governments with a professional ruling class. Politically based social units began to replace the clans and ancestor-based descent groups of earlier societies. One can still detect clanlike units in Sumerian society, but many people in the cities were beginning to live in residential wards based on shared occupation or social class.
One of the most dramatic innovations of states is that the central government monopolizes the use of force, dispensing justice according to rules of law. Achievement-based and rank societies tended to respond to theft or assault at the level of the individual, family, clan, or village. For the Sumerians, most crimes were treated as crimes against the state. It then became the state’s responsibility to implement one of a series of punishments, which were codified in order to give the appearance of fairness. This required a system of judges and bailiffs, who were also called upon to decide disputes.
While individuals in Sumerian society were constrained from violence and revenge, the state had the right to draft soldiers and wage war. During the Early Dynastic period, commoners were rounded up to serve as foot soldiers when needed. [...] Bureaucracies are expensive to maintain, and one Sumerian solution was to levy taxes. Every official transaction had to be witnessed and archived, and an official took his cut. [...]
Finally, the Sumerian state supported what amounted to an official religion. Each city had a patron deity whose temple was larger than that of any other. Temple activities and staff were supported by an estate on which crops were grown, livestock was raised, and artisans labored. The wealth of the largest estates was staggering. (Flannery & Marcus, 2012)
Essas novas formas de organização se distanciaram cada vez mais das estruturas em rede que compunham a cultura da maioria das antigas populações coletores. No lugar de uma população dispersa em pequenas unidades, cuja coordenação decorria do compartilhamento de uma ordem simbólica que permitia redes de exogamia, passamos a adotar formas cada vez mais concentradas de organização social, que exigiam governos locais centralizados. Quando várias cidades eram submetidas a uma autoridade central, as demais unidades políticas precisavam se reorganizar, de tal forma que fosse possível fazer frente ao potencial bélico de uma chefatura expansionista.
Quando algumas unidades se expandiram ainda mais, gerando as unidades complexas que chamamos de reinos, a mesma lógica se aplicou em níveis territoriais maiores, estimulando a utilização de estratégias de coordenação (formando Ligas, Federações, Uniões, etc.) e de subordinação gerada pela expansão bélica. Esse processo deu margem à construção de unidades políticas cada vez mais amplas e que, no limite, poderiam conduzir a um governo unificado em nível global. Mas ocorre que toda expansão territorial acarreta desafios organizacionais intensos, que ultrapassavam os limites econômicos e políticos das estruturas de governos existentes. Grandes conquistas territoriais eram possíveis, mas a dificuldade de governar territórios extensos e plurais estabelece limites às dimensões possíveis de um estado que precisa dedicar parte substancial de suas riquezas para manter o equilíbrio político de suas províncias. Alcançados esses limites, é previsível que todo estado enfrente dificuldades sociais e econômicas, que ameaçam a capacidade do governo de manter a unidade política.
Avanços tecnológicos e mudanças ambientais podem favorecer a capacidade bélica e econômica promovida por grandes estados, mas os grandes custos envolvidos na manutenção de unidades políticas extensas podem deixar espaço para o florescimento de unidades políticas menores e mais homogêneas. Um ambiente mutável e complexo, composto pela interação de múltiplas estratégias políticas, faz com que as estratégias organizativas mais eficientes possam variar ao longo do tempo.
Essa complexa dinâmica de interações termina por desencadear ciclos de centralização e descentralização, em que unidades coordenadas se transformam em unidades subordinadas por processos de centralização de poder, e nos quais as unidades altamente centralizadas se tornam coordenadas na medida em que as autoridades locais ganham autonomia com relação ao governo central.
Flannery & Marcus descrevem a ocorrência desse tipo de ciclos na Mesopotâmia, no Egito, no México e no Peru: "strong centralization, separated by political breakdown and regional autonomy" que se sucedem a partir da lógica de que "for every leader seeking greater territory and power, there are others seeking to bring him down" (Flannery & Marcus, 2012). Longe de encontrarmos uma resposta única aos desafios da integração social e da coordenação política, vivenciamos até hoje o desenvolvimento de estratégias organizativas inovadoras, em que nenhum modelo de dominação política logrou estabelecer-se como estável a longo prazo. Em certos momentos, pode ser estabelecido um equilíbrio dinâmico, no qual determinados modelos de organização parecem constituir-se como uma resposta ótima aos desafios políticos de sua época.
Depois da formação dos primeiros reinos, por exemplo, a longa subordinação de várias populações às mesmas dinastias tinha a capacidade de gerar, com o tempo, um nível razoável de identidade cultural. Era reconhecida uma autonomia dos reis para governarem, mas era esperado um respeito às tradições, cuja modificação tendia a gerar tensões sociais capazes de desagregar as unidades políticas, tornando-as sujeitas à insurreição interna ou à conquista externa. Porém, o duradouro equilíbrio entre reinos de dimensões e poderes similares foi rompido em vários locais do globo, ao longo dos últimos 5.000 anos.
3. Dos reinos aos impérios
Primeiramente na Mesopotâmia, mas depois na China e (de forma independente) no México e no Peru, houve a ascensão de certos reinos especialmente poderosos e que foram capazes de introduzir alterações nos costumes que sustentavam o equilíbrio político dos reinos circundantes. Esse movimento gerou uma nova forma de organização política: o império, formado pela conquista de vários reinos.
Se os reinos já representavam um desafio organizacional de grande monta, os impérios levaram ao limite as possibilidades de submeter grandes e diversas populações ao mesmo governo central, o que radicalizou a experiência da desigualdade.
Few of the rulers who created kingdoms were content with the territories they controlled. Whenever a new state was surrounded by weaker neighbors, the temptation to expand was great. Sometimes, as in the Mexican state of Oaxaca, this expansion set off a chain reaction that created multiple fortified kingdoms. In other cases, as on the north coast of Peru, expansion created a multiethnic empire. The key to expansion lay in knowing which neighbors were vulnerable and which were best left alone. (Flannery & Marcus, 2012)
A diferença entre os reinos e os impérios não é somente quantitativa, mas também qualitativa, visto que os impérios são conglomerados multiétnicos, que abrangem sob o mesmo governo uma multiplicidade de grupos muito diferentes em termos de crenças, de religião e de valores. O desafio de coordenar entidades tão heterogêneas envolve o desenvolvimento de novas estratégias políticas, visto que se mostram limitadas as antigas estratégias de unificação cultural que mantiveram a grande homogeneidade das chefaturas e a relativa homogeneidade dos reinos.
Empires, in other words, are probably more than 4,300 years old. And along with empires came ethnic stereotyping, an escalation of simpler societies’ long-standing ethnocentrism. The precedent for racial, religious, and ethnic intolerance had been set. (Flannery & Marcus, 2012)
O maior desafio dos impérios nã0 costuma ser externo, mas interno: cada novo nível de hierarquia implica uma competição interna pelos pretendentes a ocupar essas posições de poder; cada nova província aumenta a complexidade dos equilíbrios de poder, pois todas elas são possíveis focos de insurreição. Esse intensificado desafio de coordenação explica porque a formação dos impérios esteve correlacionada a mudanças tecnológicas que permitiram uma comunicação mais rápida (como os cavalos ou as redes de estradas dos Incas) e estratégias governamentais inovadoras.
Os impérios são mantidos por uma supremacia bélica intensa, que exige um investimento muito grandes em exércitos, que pode não ser sustentável em momentos de crise. Instabilidades políticas podem resultar na incapacidade de o centro manter sua autoridade sobre províncias distantes ou sobre grupos insurgentes. A opção por conferir maior autonomia às províncias diminui a necessidade de supervisão central, mas também pode estimular movimentos de independência. Em cada momento histórico, as vantagens de um estado maior podem ser eclipsadas pela capacidade que uma unidade menor, cuja homogeneidade pode propiciar um uso mais eficiente dos recursos disponíveis.
Situações de crise podem dissolver rapidamente a capacidade dos impérios de integrar polos tão diversos. Além disso, impérios que têm grande força no momento de expansão, por sua capacidade de incorporar as riquezas dos reinos submetidos, podem enfrentar desequilíbrios quando chegam ao tamanho máximo permitido pelos limites técnicos e políticos de sua época. Os poderosos exércitos criados no movimento de expansão somente são sustentáveis enquanto conseguem manter o ritmo de conquistas e pilhagens que viabilizaram a sua própria construção. A estagnação do crescimento tipicamente coloca os impérios frente aos limites do ciclo expansionista que permitiu o surgimento desse tipo de unidade política heterogênea e complexa.
São recorrentes os casos de impérios que declinam pela sua incapacidade de produzir um equilíbrio estável entre os interesses dos vários elementos que o compõem. Essa crise não é tipicamente um colapso imediato, mas um longo processo de desagregação, cujo enfrentamento mobiliza toda a criatividade política dos seus agentes. Crises desse tipo podem afetar toda unidade política em que as pessoas começam a perceber que as estratégias cristalizadas na prática política passaram a gerar resultados inesperados. Seja em reinos, impérios ou repúblicas, quando as pessoas começam a ter dúvidas sobre a eficácia de suas abordagens tradicionais de governo e de organização social, abre-se espaço para uma crítica da tradição, que normalmente ligamos com a atividade filosófica. Por isso, tais momentos de crise são fundamentais para a filosofia política, em sua constante tentativa de avaliar criticamente as ordens simbólicas de um povo e produzir modelos alternativos de organização social e novos discursos de legitimação política.
5. Ontologia política antiga
1. Governo x Tradição
Desde a antiguidade, acompanha-nos a percepção de que as relações sociais estão inscritas na ordem natural, fomentando a noção de que os padrões de organização social devem espelhar as formas naturais de organização. As descrições que fazemos da ordem natural são partes integrantes do que Harari designou como ordem imaginada: um conjunto de categorias linguísticas a partir das quais construímos nossos modelos descritivos e explicativos sobre a realidade e que, nessa medida, determinam as nossas formas de organização social.
A equivalência entre ser legítimo e ser natural é um dos núcleos das ideologias conservadoras, que buscam justificar a existência de diferenças sociais e privilégios estratificados com base em estratégias de naturalização. Em várias culturas, tanto antigas como atuais, a identificação de que certas estruturas sociais refletem a ordem natural permite a construção de narrativas voltadas a conferir valor objetivo a instituições como o casamento, a autoridade política e a escravidão.
Quando inscrevemos a ordem social em uma ordem natural, na qual as nossas sociedades devem se espelhar, criamos a ideia de que certas relações humanas têm um caráter necessário, o que faz com que as tentativas de alterar essas estruturas sejam percebidas como uma violação das leis da natureza. A conservação de certas estruturas sociais depende do desenvolvimento de estratégias ativas que impeçam certos tipos de variação venham a se consolidar, ainda que elas tragam ganhos estratégicos imediatos. Se algumas sociedades antigas eram contra o Estado, isso não ocorria porque a hierarquização política trazia inconvenientes, mas porque esse tipo de transformação violava a ordem natural na qual o grupo social imaginava estar imerso. Além disso, nas culturas que entendem que as leis da natureza foram instituídas por entidades de caráter divino (Olodumaré, Brahma, Jeová, etc.), a ordem natural se confunde com a ordem sagrada, cuja violação caracteriza uma ofensa aos próprios deuses.
Essa estratégia de naturalização é especialmente mobilizada por abordagens conservadoras, que afirmam a necessidade de observar as tradições consolidadas em uma cultura. Porém, ela também se encontra presente em abordagens revolucionárias, que se utilizam da naturalização de certos princípios para justificar que a ordem política hegemônica está baseada em uma corrupção dos padrões naturais, situação que precisa ser corrigida por meio de um retorno à verdadeira natureza.
A ideia de que a organização social deve espelhar a ordem natural é repetida em tantas culturas que se torna razoável pensar que houve um tempo no qual não havia sequer uma oposição clara entre ordem natural e social: havia apenas a ideia geral de uma ordem sagrada dentro da qual a vida se desenvolvia. A organização das sociedades era apenas uma das dimensões dessa grande ordem imanente, não havendo uma fronteira clara que distinguisse elementos religiosos, costumeiros e morais. Nas culturas em que existe essa equivalência das várias ordens do mundo, as relações socialmente instituídas (ou parte delas) podem ser vividas como se elas fossem uma realização da ordem sagrada.
A continuidade indiferenciada entre as ordens social e natural parece ter sido rompida pelo surgimento dos governos, que emergiram da divisão dos membros de uma sociedade em clãs governantes e governados. Tal estratificação faz aflorar uma forte tensão entre a ordem política (centrada nos governos) e a ordem natural (permeada pelos valores tradicionais).
Existem traços dessa distinção nos textos de diversas tradições antigas, especialmente na China, na Índia e na Grécia. Nessas culturas, categorias que apontam para a ordem natural (Tao, Rta e Physis) parecem ganhar importância simultaneamente à percepção de que os seres humanos estão submetidos a duas ordens que podem entrar em contradição: aquela constituída pelo conjunto de suas obrigações tradicionais e aquela formada pelos comandos dados pelos governantes.
O modo tradicional de compreender essas tensões é promover uma unificação: a relação governante/governado costuma ser apresentada como parte da própria ordem natural. A ordem sagrada do mundo estabelece a necessidade de que existam, em cada grupo humano, certas pessoas investidas de autoridade política. Essa inscrição da hierarquia política (artificialmente criada) na própria ordem natural é condizente com as percepções tradicionais, que colocam o governo como instituição garantidora e promotora dos valores que integram a tradição hegemônica.
A função dos governantes não seria criar o novo, não seria legislar ou promover transformações na sociedade: seria apenas garantir a estabilidade social. Essa configuração parece basear-se na intuição de que as sociedades humanas dependem de uma coordenação entre seus membros que somente é viável quando existe alguma forma de domínio, ou seja, uma submissão de muitos governados a alguns governantes. Sem uma autoridade política capaz de garantir a observância da ordem natural, as narrativas tradicionais indicam que as sociedades tenderiam a se dissolver: seja pela conquista externa de uma nação enfraquecida, seja pela desagregação decorrente de uma guerra civil.
Essa combinação fez com que, nas narrativas das antiguidades grega, chinesa e indiana, a organização social fosse apresentada como parcialmente natural e parcialmente política, sendo que o papel primordial dos governantes seria o de garantir a coerência entre esses dois elementos. Os governos eram exercidos em nome da ordem sagrada e tinham como objetivo (ao menos declarado) reforçar e proteger a ordem natural.
Uma velha ideia, ainda presente nas sociedades contemporâneas, é a de que a ordem social está sob constante ameaça de pessoas que se afastam dos valores corretos, o que gera uma desagregação que somente pode ser revertida por meio de um constante de recomposição dos laços sociais. Quando se trata de um desvio individual localizado, é preciso que a pessoa se submeta a punições e ritos de purificação capazes de reintegrá-lo na ordem rompida. Quando se trata de um desvio social mais amplo, é preciso desencadear um processo de restauração da sociedade, com ritos coletivos de purificação que reconstitua a ordem perdida.
Esta caracterização dos governos como elementos de garantia da ordem parece se chocar com a percepção de que os próprios governantes são os atores sociais que trazem mais risco para a ordem natural, visto que existe sempre a possibilidade de que os governantes atuem em seu próprio proveito. O pensamento político antigo é organizado em torno desse caráter paradoxal da autoridade política, que é necessária para promover a ordem social, mas que representa também um grande risco para essa própria ordem. O grande fantasma da teoria política antiga era a tirania, ou seja, o governo exercido por uma autoridade que busca o seu benefício pessoal em vez de promover o interesse coletivo e garantir a observância da lei natural.
Para conter o perigo de que o governo se desnaturasse em tirania, várias culturas desenvolveram narrativas que reforçam a existência de um poder natural legítimo (do pai, do monarca, da cidade, do profeta), mas que precisa ser exercido em estrita observância da ordem natural. De toda forma, era reconhecido que tal risco poderia ser limitado, mas nuca totalmente afastado. Essa tensão entre natureza e autoridade política é a forma pela qual as sociedades antigas percebem e descrevem a tensão subjacente entre os interesses dos governantes e os valores tradicionais, visto que o que uma sociedade chama de lei natural não são leis existentes na natureza, mas são deveres culturais tão importantes que a coletividade os considera sagrados (e, portanto, naturais).
2. O dilema de Antígona
Uma das expressões clássicas da tensão entre governo e ordem natural está na tragédia Antígona, escrita pelo dramaturgo grego Sófocles (~496 AEC. a ~406 AEC). Na tragédia Édipo Rei, Sófocles conta como Laio, rei de Tebas, entregou seu filho para ser morto quando recebeu o vaticínio de que o destino dele era matar o próprio pai (Sófocles, 1998). O bebê foi deixado para morrer, mas foi resgatado por um pastor e posteriormente adotado pelo rei de Corinto. Quando se tornou adulto, Édipo (que não sabia de sua real origem) recebeu o vaticínio de que era seu destino matar o pai e esposar a própria mãe, o que fez com que ele abandonasse Corinto. Em suas andanças, terminou por matar um homem com o qual ele discutiu na estrada (e que era seu verdadeiro pai, Laio) e por se tornar rei de Tebas quando ele conseguiu livrar a cidade da Esfinge, onde terminou se casando com Jocasta (que era sua verdadeira mãe).
Édipo teve com Jocasta quatro filhos (os homens Polinices e Etéocles e as mulheres Antígona e Ismênia) e, quando soube de sua verdadeira história, furou os próprios olhos e partiu em exílio. Além disso, amaldiçoou os filhos varões, afirmando que eles morreriam às mãos um do outro. Essa maldição veio a cumprir-se no cerco de Tebas, quando os irmãos lutaram entre si pelo trono e terminaram por matar-se no duelo que colocou fim à batalha.
Com a morte dos dois herdeiros de Édipo, o governo da cidade passou a Creonte, irmão de Jocasta, sendo neste ponto que começa a tragédia Antígona (Sófocles, 2005). O novo rei editou um decreto dispondo que o Etéocles fosse enterrado com todas as honras de quem defendeu a cidade e que Polinices permanecesse insepulto. Para garantir o cumprimento dessa ordem, Creonte determinou que quem enterrasse o corpo do irmão que se voltou contra a cidade seria condenado à morte. Apesar dos riscos, quando Antígona tomou conhecimento do referido decreto, ela procurou Ismênia, pedindo que ela a ajudasse na celebração dos ritos funerários do falecido irmão. Frente a essa proposta, Ismênia responde que:
É preciso lembrarmo-nos de que nascemos para ser mulheres, e não para combater com os homens; e, em seguida, que somos governadas pelos mais poderosos, de modo que nos submetemos a isso, e a coisas ainda mais dolorosas. Por isso eu rogo aos que estão debaixo da terra que tenham mercê, visto que sou constrangida, e obedeço aos que caminham na senda do poder. Atuar em vão é coisa que não faz sentido. (Sófocles, 2005)
Apesar da negativa da irmã, Antígona realiza o funeral de Polinices, o que a levou a ser presa e conduzida à presença de Creonte, que a interrogou:
Creonte: Sabias que fora proclamado um édito que proibia tal ação?
Antígona: Sabia. Como não havia de sabê-lo? Era público.
Creonte: E ousaste, então, tripudiar sobre estas leis?
Antígona: É que essas não foi Zeus que as promulgou, nem a Justiça, que coabita com os deuses infernais, estabeleceu tais leis para os homens. E eu entendi que os teus éditos não tinham tal poder, que um mortal pudesse sobrelevar os preceitos, não escritos, mas imutáveis dos deuses. Porque esses não são de agora, nem de ontem, mas vigoram sempre, e ninguém sabe quando surgiram. Por causa das tuas leis, não queira eu ser castigada perante os deuses, por ter temido a decisão de um homem. Eu já sabia que havia de morrer um dia —como havia de ignorá-lo? —, mesmo que não tivesses proclamado este édito. E, se morrer antes do tempo, direi que isso é uma vantagem. Quem vive no meio de tantas calamidades, como eu, como não há de considerar a morte um benefício? E assim, é dor que nada vale tocar-me este destino. Se eu sofresse que o cadáver do filho morto da minha mãe ficasse insepulto, doer-me-ia. Isto, porém, não me causa dor. E se agora te parecer que cometi um ato de loucura, talvez louco seja aquele que me condena. [...]
Antígona: Intentas algo mais do que prender-me para me matar?
Creonte: Eu não. Com isso me dou por satisfeito.
Antígona: Então por que hesitas? Assim como das tuas palavras não me vem nenhum deleite, nem poderá jamais vir, assim também o meu parecer te é desagradável por natureza. E, contudo, onde podia eu granjear fama mais ilustre do que dando sepultura ao meu próprio irmão? Todos os que aqui estão diriam também como aprovam este ato, se o medo não lhes travasse a língua. Mas é que a realeza, entre muitos outros privilégios, goza o de fazer e dizer o que lhe apraz. (Sófocles, 2005)
Apesar da defesa de Antígona e do fato de ela ser noiva de seu filho Hêmon, Creonte ordenou que ela fosse presa em uma caverna. Quando Tirésias soube do ocorrido, o célebre adivinho procurou o novo rei e o alertou que seus atos trariam grandes desgraças para Tebas. Temeroso do destino que os deuses lhe reservariam, Creonte decidiu soltar Antígona e oferecer ao corpo de Polinices os ritos que lhe eram devidos. Todavia, já era tarde, pois quando abriram a gruta, descobriram que Antígona havia se matado. Ao ver o corpo da jovem, Hêmon matou-se na frente de seu pai. Além disso, ao ver o cadáver do filho, Eurídice também comete suicídio. Assim, o castigo dos deuses é deixar Creonte vivo e consciente de que seus atos conduziram à morte de seu filho e de sua esposa, o que serve como uma grave advertência contra todo aquele que busca contrapor-se aos ditames sagrados dos deuses.
Na tragédia Antígona, o enredo criado por Sófocles gira em torno do dilema existente entre obedecer aos mandamentos da tradição religiosa e obedecer às ordens impostas pelo rei. Essa tensão é muitas vezes descrita como um choque entre o direito natural, representado pelas regras religiosas, e o direito positivo, representado pelas ordens do rei. Porém, creio que essa caracterização é equivocada por desconsiderar que se trata do choque entre as obrigações impostas a Antígona por dois dos papéis naturais que ela desempenha: enquanto irmã, ela tinha um dever natural de promover o sepultamento de Polinices; enquanto cidadã, ela tinha o dever natural de obedecer às ordens do rei. O caráter trágico da história de Antígona vem justamente da impossibilidade de cumprir simultaneamente os dois papéis que seu destino lhe reservou.
Embora Antígona afirme a prioridade das regras estabelecidas por Zeus, com relação às regras estabelecidas por Creonte, o texto não indica que as regras impostas pelo rei de Tebas seriam inválidas. Nem mesmo Tirésias afirmou que as regras impostas pelo rei seriam ilegítimas, mas apenas que sua conduta atrairia desgraças na medida em que tinha estabelecido leis que colidiam com os deveres impostos pelos deuses.
No pensamento grego clássico, a submissão de um tebano a Tebas (e a seu governante) fazia parte da ordem natural, assim como a necessidade de seguir os ritos religiosos. Não havia como impedir o choque entre essas duas ordens e, por isso, Antígona não tinha como evitar descumprir uma delas e, com isso, arcar com consequências terríveis. Por mais que situação aporética tenha sido criada pelo próprio Creonte, Sófocles não se colocou em dúvida a autoridade dos reis para comandar seus súditos, mas apenas explorou o fato de que o choque entre a ordem humana e a ordem divina conduz a resultados trágicos.
O romancista Milan Kundera chama atenção para o fato de que a peça Antígona foi encenada repetidas vezes no século XX como se Creonte fosse um vilão e Antígona fosse uma heroína, lutando contra a opressão imposta por um governante que impõe obrigações ilegítimas (Kundera, 2003). Essa luta do bem contra o mal reduz o caráter humano das tensões entre Creonte e Antígona e proporciona a leitura da história como um drama (a luta de Antígona contra a opressão) e não como uma tragédia. Contra essa interpretação, escreveu Kundera:
After painful experiences, Creon, a ruler of a Greek city, understood that personal passions not brought under control pose a mortal danger to that city; convinced of this, he confronts Antigone, who wishes to bury her brother and who is protecting the no less legitimate rights of the individual. She dies, and Creon, shattered by his guilt, determines "never to see another day". The story of Antigone inspired Hegel to his magisterial meditation on tragedy: two antagonists face to face, each of them inseparably bound to a truth that is partial, relative, but, considered in itself, entirely justified. Each is prepared to sacrifice his life for it, but can only make it prevail at the price of total ruin for the adversary. Both are at once right and guilty. Being guilty is to the credit of great tragic characters, Hegel says. Only a profound sense of guilt can make possible an eventual reconciliation.
Freeing the great human conflicts from the naive interpretation of a battle between good and evil, understanding them in the light of tragedy, was an enormous feat of mind; it brought forward the unavoidable relativism of human truths; it made clear the need to do justice to the enemy. But moral manicheism has an indestructible vitality. I remember an adaptation of Antigone I saw in Prague shortly after the second world war; killing the tragic in the tragedy, its author made Creon a wicked fascist confronted by a young heroine of liberty.
Such political productions of Antigone were much in fashion then. Hitler had not only brought horrors upon Europe but also stripped it of its sense of the tragic. Like the struggle against nazism, all of contemporary political history was thenceforth to be seen and experienced as a struggle of good against evil. Wars, civil wars, revolutions, counter-revolutions, nationalist struggles, uprisings and their repression have been ousted from the realm of tragedy and given over to the authority of judges avid to punish. Is this a regression? A relapse into the pre-tragical stage of humankind? But if so, who has regressed? Is it history itself? Or is it our mode of understanding history? Often I think: tragedy has deserted us; and that may be the true punishment. (Kundera, 2003)
A leitura maniqueísta da Antígona está ligada a uma concepção moderna, inspirada pela visão dos antigos filósofos de que seria possível diferenciar a verdade do simulacro: no embate de Creonte e Antígona, somente um dos lados poderia ter razão, e deveria ter toda a razão (por estar do lado de uma ordem natural sistemática e cognoscível).
Seguindo a intuição de Kundera, creio que a construção trágica de Sófocles nos retrata um ponto mais interessante de nossa vida social: o fato de que não é possível unificar todos os papéis que compõem uma sociedade complexa. A divisão da sociedade em governante e governado gera uma tensão inevitável entre o governo e a tradição. Essa tensão é lida como uma forma de limitação ao poder dos reis, que deveriam respeitar as tradições, sob pena de gerarem consequências sociais adversas. A ideia de que os reis devem respeitar as tradições e não devem buscar modificá-las é uma tônica do pensamento antigo, que é focado no respeito à ordem natural.
As tensões entre a ordem natural e a autoridade política foram tematizadas por artistas, como Sófocles, mas também foram objeto de reflexões explícitas, contidas em tradições tão diversas como a chinesa, a indiana e a grega. Em um período histórico semelhante, pensadores dessas três culturas refletiram sobre essa questão e desenvolveram categorias capazes de diagnosticar e resolver esses conflitos. As categorias formuladas nessas três tradições são diversas e apontam para diferentes percepções dos elementos em tensão e das estratégias mais adequadas para seu equacionamento, motivo pelo qual considero que seja produtivo observar as ontologias que emergiram nessas três culturas.
3. Rta & Dharma
No pensamento político da antiguidade, a autoridade dos governantes não é apresentada como absoluta, porque a ordem natural que justifica o poder do governo também serve como um limite ao seu exercício. Não se reconhece aos governantes um amplo poder legislativo, pois o que se espera deles é o exercício de um poder que observe estritamente a ordem natural que estaria na base de sua própria autoridade.
Os governantes decidem impor penas e declarar guerras, mas não são eles que estabelecem as obrigações religiosas, os deveres dos filhos com relação aos pais, as regras de herança, os papéis dos homens e das mulheres. As relações fundamentais que organizam uma sociedade integram uma cultura e não estão à disposição da vontade governamental. Tal como os pais devem exercer seus poderes nos limites da tradição (sem ter o poder de modificá-la), os antigos monarcas não eram legisladores, mas garantes de uma ordem social que se percebia como parte da própria natureza.
Embora as tradições se apresentem tipicamente como imutáveis, elas nunca são estáticas. A imutabilidade indica somente que não existem instituições sociais que têm autoridade para decidir sobre alterações nas regras que definem a estrutura de direitos e obrigações de uma sociedade. Nas culturas anteriores à escrita, era mais fácil modificar as relações sociais por estratégias consuetudinárias, visto que era possível trabalhar dentro da ilusão de que os costumes atuais eram uma continuidade dos costumes antigos.
As estruturas sociais seguiam os ritmos de mudança que temos ainda hoje em instituições consuetudinárias, como a língua portuguesa. Falamos português com a convicção de que existem certas regras objetivas que definem as formas corretas de construir as nossas frases. Cada falante desenvolve a habilidade de distinguir expressões bem construídas de usos inadequados da língua, mesmo que não tenha conhecimentos específicos da gramática normativa. Os gramáticos, inclusive, não se apresentam como criadores da língua, mas como pessoas que identificam os padrões discursivos dominantes na sociedade e os descrevem de forma sistematizada.
Nas primeiras sociedades, a estrutura social deveria ser semelhante à estrutura linguística: as pessoas tinham uma sensibilidade para distinguir o justo do injusto, mas a normatividade era mais implícita do que explícita. É provável que antigo sentido do justo se aproximasse das nossas intuições de correção gramatical: podemos identificar os erros, mas isso não implica a adoção de um sistema explícito de regras.
O fato de um governante decidir alterar as regras sociais deveria causar tanto estranhamento como um governo atual que resolvesse criar novas palavras ou alterar as formas de conjugação verbal. Os governos atuais têm um amplo espectro de atuação política, mas não têm autoridade para rever os padrões de uma língua que continua sendo uma construção coletiva, que opera por padrões consuetudinários. O que conhecemos das sociedades antigas sugere que os governantes não tinham um poder legislativo amplo, visto que os padrões de organização social tinham um formato consuetudinário.
Em locais em que essa tradição consuetudinária se estabeleceu de forma muito estável, não era possível aflorar uma organização da política que atribuíssem funções legislativas mais amplas para o governo. Esse grau de estabilidade é uma das marcas da cultura política da tradição hinduísta, construída a partir do movimento de migração invasiva, por meio do qual tribos arianas provenientes da região central da Ásia migraram para as férteis planícies do rio Indo e submeteram o povos locais (Marques, 2016).
Essa migração invasiva ocorreu em várias levas, que começaram por volta de 2.000 AEC e se seguiram por vários séculos, até que se consolidasse a dominância das tribos arianas, cuja cultura é a base da tradição hinduísta, na qual a sociedade era descrita como a combinação de dois estamentos (varnas): os arianos, de pele mais clara, e os dasas, nome genérico dado aos grupos populacionais não-arianos, que tinham uma pele mais escura (Y. N. Babu, 2008). Um dos elementos centrais dessa tradição era o fato de que havia uma rigorosa distinção entre a liderança política, exercida pelos reis (raja), e a liderança espiritual, exercida pelos brâmanes (brahman) (Sinha, 1993).
Na tradição hinduísta, chama-se rta a ordem natural que rege o universo (Bloomfield, 1908, p. 12). Assim como o tao dos chineses, o rta combina tanto a ordem física (do movimento dos astros e dos ciclos da natureza) como a ordem social, que determina os deveres de cada pessoa. Essa dimensão deôntica do rta constitui o que os hinduístas chamavam de dharma: os padrões de comportamento que cada pessoa deveria seguir, para estar de acordo com a ordem natural (Gilissen, 1995).
Inicialmente, a religião hinduísta era transmitida de forma oral, mas os brâmanes gradualmente consolidaram essa tradição em um formato escrito, o que deu origem ao Vedas: textos sagrados que eram compreendidos como resultados de uma revelação (Shruti) (Katju, 2010). O período em que esse processo de escrita se desenvolveu é chamado de Védico, estendendo-se ao menos de 1500 AEC (quando foi composto o Rg Veda) até cerca de 1000 AEC, quando os textos sagrados adquirem suas formas canônicas.
O movimento de escritura dos textos sagrados (que ocorre paralelamente em várias culturas da época) reforça o poder dos brâmanes e define que o papel dessa classe sacerdotal passaria a ser basicamente hermenêutica: eles se tornariam estudiosos dos textos sagrados, conhecedores e intérpretes da tradição. A consolidação desse equilíbrio entre líderes espirituais e políticos faz com que se cristalize na sociedade hinduísta uma característica típica das sociedades sem governo: a ausência de um poder legislativo, visto que os governantes não tinham autoridade para modificar o dharma contido nos Vedas.
Essa uma forma de organização na qual, tal como nas sociedades anteriores, as únicas formas de inovação social possíveis estavam associadas a uma gradual reinterpretação dos preceitos religiosos, ou à ocorrência de uma ruptura na própria religião, desencadeada pela ampla adesão a novos profetas. Essa revolução religiosa veio a ocorrer na Índia com a emergência do Budismo, mas o que nos interessa nesse ponto é analisar as categorias que organizaram as formas de transformação interna que permitiram que a cultura hinduísta baseada em textos sagrados imutáveis se adaptasse aos novos tempos.
Devemos ressaltar que a introdução da escrita promove alterações sociais muito profundas e que, portanto, não podemos encarar as tradições hinduístas como uma forma de continuidade de modos anteriores de organização. Nas comunidades sem escrita, as descrições sobre o passado precisam ser continuamente refeitas, para que permaneçam na memória e sejam transmitidas para as novas gerações. Ocorre que cada relembrar implica uma reinterpretação dos fatos, cada retomada das velhas histórias altera o seu registro, o que faz com que nossas descrições orais do passado sejam seletivas (porque não nos lembramos de tudo) e dinâmicas (no sentido de que estão em constante alteração).
Culturas não escritas (como as lembranças de uma pessoa ou as memórias compartilhadas de uma família) são submetidas a esse processo de constante revisão. As histórias familiares que uma pessoa conta a seus filhos não são as mesmas que eles receberam de seus pais. O trânsito para a forma escrita gera uma alteração nessa dinâmica, pois a forma do texto passa a ter uma estabilidade reforçada. Por mais que os próprios textos possam ser alterados ao longo do tempo (com inserções, supressões, correções, etc.), a existência de um registro escrito estável inaugura uma nova dinâmica, bem conhecida dos juristas atuais.
Cada reinterpretação dos textos normativos tem o potencial de alterar o significado social das normas aplicadas, mesmo que a forma do texto seja mantida. A elaboração de sistemas textuais fixos é acompanhada sempre pelo desenvolvimento de abordagens hermenêuticas que realizem a mediação entre as formas pelas quais as pessoas podem atribuir sentidos a esses textos canônicos.
No contexto do hinduísmo, a marcada distinção entre a liderança política e a liderança religiosa não foi rompida pelo mesmo processo de centralização política que marcou outras sociedades antigas, como a chinesa e a persa. Na tradição hindu, os desenvolvimentos sociais foram marcados pela construção de distinções sociais entre os membros das tribos arianas, que foram gradualmente estratificadas em 3 varnas distintas, movimento que se consolidou no final do período védico (~ 1.500 ACE a ~ 1.000 ACE), ao longo do qual foram produzidos os textos sagrados fundamentais do hinduísmo, chamados Vedas. Essa cristalização deu origem à clássica divisão da sociedade hindu em 4 varnas:
\1. brahman: sacerdotes e estudiosos dos Vedas,
\2. kshatriya: guerreiros e governantes,
\3. vaishya: camponeses e mercadores e
\4. shudra: servos de origem dasa. (R. Babu & Nandarajan, 2008)
Esse tipo de estratificação social, longe de ser uma característica particular da tradição hinduísta, reproduz um traço comum a várias sociedades antigas, que eram compostas por vários grupos, cada qual com um status social particular. Além disso, não devemos confundir essa estratificação em 4 varnas com a posterior criação das milhares de castas (jati) existentes na sociedade indiana, que são grupos endógamos, que somente podem se casar dentro de sua própria casta (R. Babu & Nandarajan, 2008).
A peculiar distinção entre os brahman e os khsatriya conferiu especial proteção às tradições hinduístas, contra os riscos envolvidos em uma concentração de poder político na mão dos governantes. Um dos principais impactos dessa diferenciação é o fato de que a reconstrução hermenêutica da tradição hinduísta não poderia ser feita pelos próprios governantes, mas dependia da atuação de uma classe específica de pessoas, que se voltavam especificamente ao estudo e a interpretação dos textos sagrados.
A consolidação do sistema de varnas gerou uma complexa rede de segmentações sociais, que impunha a necessidade de um direito mais minucioso do que o que ocorria em grupos sociais homogêneos, pois era preciso regular as atividades de cada segmento, bem como as possíveis relações entre eles. Na cultura hindu, essa regulação não poderia ocorrer por via legislativa, pois o direito era consuetudinário e os governantes não tinham autoridade para editar leis que alterassem as estruturas sociais (Katju, 2010).
Na Índia antiga, a atualização hermenêutica dos textos sagrados era realizada por meio de comentários (Smirti) escritos por estudiosos de prestígio. Nos comentários produzidos ao longo do período que correspondeu aos Upanishads (1.000 AEC a 500 AEC), a ideia de dharma foi sendo materializada em uma multiplicidade de preceitos particulares, que regulavam de forma minuciosa os aspectos práticos da vida de cada pessoa (Sinha, 1993). Com isso, o conceito de dharma passou a operar em um nível mais concreto, tornando-se a principal categoria a partir da qual a cultura hindu apresentava os vários deveres que se impõem a cada pessoa.
Para um olhar contemporâneo, o conceito de dharma envolve preceitos que classificamos em categorias bastante diversas, pois são enquadradas nessa categoria regras que identificamos como jurídicas, como morais e como religiosas (Gilissen, 1995). Porém, a concepção mais típica da antiguidade envolvia a identificação de uma ordem cósmica totalizante (no caso hindu, o rta), cuja dimensão normativa abarcava todos os aspectos da vida de uma pessoa. Tratava-se de um conceito tão amplo que ele chegou a ser subdividido em três tipos, a depender da faceta da vida por ele regulada:
· Svadharma, que se refere aos deveres decorrentes da pertinência a uma casta e à posição familiar da pessoa;
· Sadharana dharma, que não se refere aos deveres impostos, mas à exigência teleológica de um comportamento que conduza ao benefício da coletividade;**
· Purushartha, que se refere aos comportamentos pelos quais a pessoa deve buscar sua realização individual, nos seus quatro aspectos: dharma, artha (riqueza), kama (prazer) e moksha (espiritualidade). (Sinha, 1993)**
Essa multiplicidade de classificações indica que o dharma tinha uma dimensão muito ampla, abrangendo as relações da pessoa com a comunidade, com seus próprios interesses e sua espiritualidade. Essa integração de todas as atividades e desejos humanos em uma mesma estrutura exigia um complexo sistema de regulações, que atravessava todas as dimensões da vida humana.
Dado o caráter totalizante do dharma, não deve causar espanto a multiplicação hinduísta de regulações capazes de definir os papéis de cada indivíduo e de adaptá-los gradualmente aos novos contextos sociais.
4. Li & Fa
No contexto da Índia antiga, é compreensível que a adaptação normativa da sociedade tenha ocorrido por meio de sucessões de textos sagrados e por camadas hermenêuticas decorrentes da atuação de uma varna especificamente voltada à sua interpretação (os brâmanes) gerou uma conformação bastante distinta daquela que se consolidou na tradição chinesa, que não tinha essa distinção fundamental entre autoridades políticas e autoridades religiosas.
Entretanto, a ordem simbólica chinesa desenvolveu um conceito que tem proximidade ao dharma: o li, categoria que designa os padrões de comportamento que eram esperados de cada pessoa. Apesar das diferenças entre as sociedades chinesa e indiana, existe uma razoável similaridade entre li e dharma, visto que ambos os conceitos apontam para um conjunto de deveres que cada indivíduo deve seguir, para cumprir adequadamente os papéis sociais que lhe são designados pela ordem natural.
Ambas as categorias promovem uma naturalização das relações sociais, inserindo na ordem cósmica as rígidas hierarquias sociais e familiares que estruturavam as sociedades tanto da China e da Índia. Nessas culturas, a organização social era baseada na definição de múltiplos papéis, cada qual com um conjunto particular de preceitos, e as categorias de li e de dharma permitiam que cada pessoa compreendesse que essas imposições decorriam diretamente de uma ordem cósmica sagrada.
Apesar dessa convergência, devemos atentar para uma diferença fundamental: enquanto a divisão entre autoridades religiosas e políticas inviabilizou o desenvolvimento de uma atividade legislativa intensa por parte dos governantes indianos, a centralização política dos reinos da China antiga permitiu aos governantes realizar inovações sociais relevantes, por meio do exercício legislativo. Essa dinâmica fez com que adquirisse centralidade na cultura chinesa a distinção entre li (deveres que decorrem dos costumes tradicionais) e fa (obrigações impostas por leis editadas pelos governantes). Uma oposição categorial semelhante não emergiu da experiência indiana, o que sugere que essa divisão se relaciona com o processo de concentração de poder político que ocorreu na China, e que não teve correspondência eu uma tradição hinduísta marcada pela continuidade da distinção entre os brâmanes e os rajas.
Surya Sinha aponta que o conceito central do pensamento político chinês não era o de lei, mas o de li, que foi desenvolvido bem antes do surgimento da filosofia grega (1993). Originalmente, li era uma palavra usada para designar ritos e cerimônias religiosas, mas ao longo do tempo passou a ser utilizada para indicar o comportamento devido, no sentido do comportamento requerido de cada pessoa, de tal modo que a conduta individual fosse harmonizada com a ordem natural (Sinha, 1993), visto que o li era entendido como uma manifestação do tao (Peerenboom, 1993).
Segundo Jianfu Chen, os confucionistas não usavam o termo li para referir-se a um conjunto determinado de preceitos, mas para designar quaisquer preceitos que promoviam comportamentos morais e contribuíam para manter a ordem social, motivo pelo qual este autor traduz li simplesmente como moralidade (2008). Na concepção chinesa, essa organização social se dava por meio de cinco relações sociais básicas, chamadas de wu lan: as relações entre pai e filho, governante e governado, marido e mulher, irmãos mais velhos e mais novos e entre amigos (Chen, 2008; Sinha, 1993). Portanto, o li não correspondia a um conjunto de normas aplicáveis de forma universal, dado que as suas prescrições dependiam fundamentalmente do status social e familiar de cada indivíduo (Chen, 2008).
A noção de li realiza essa mediação entre a ordem natural e os deveres individuais, apontando para a busca de uma harmonia com os princípios naturais, que deve regular a conduta de todas as pessoas. Todavia, na tradição confucionista, era comum que referências ao li ocorrem nas reflexões acerca da conduta dos monarcas porque, convergindo com a advertência de Tirésias a Creonte, toda ação governamental dirigida contra o li conduziria o reino à desordem (Sinha, 1993). Essa concepção faz com que uma das passagens confucionistas mais citadas seja:
Lead the people by regulations, keep them in order by punishments (xing), and they will flee from you and lose all self-respect. But lead them by virtue and keep them in order by the established morality (li), and they will keep their self-respect and come to you. (Chen, 2008)
As regras impostas pelos governantes, chamadas de fa, deveriam servir como uma forma de preservar a sociedade por meio da punição a atos criminosos e à regulação da burocracia por meio do qual o governo se exercia. Não havia uma regulação governamental de outros campos (como a família ou os negócios), que eram organizados a partir das prescrições tradicionais. Por isso, o fa não era percebido como "uma regulação da atividade econômica privada nem como uma forma de impor valores religiosos, mas como um instrumento de impor políticas e garantir a ordem pública" (Glenn, 2000, p. 322). Esse caráter repressivo do direito legislado fazia com que ele fosse normalmente editado em períodos conturbados, o que fazia com que a edição de novas leis fosse signo de que havia algum desequilíbrio social, que exigia esse tipo de intervenção.
Fa (laws, regulations, statutes) laid down the procedure for enforcing punishment. It was regarded with suspicion and antipathy. The practice of li in a spirit of benevolence and harmony was preferred to fa and hsing. Therefore, new enactments (chih) were seen as an omen that the state was about to perish. Li was preserved orally and transmitted through example and education.
Li, then, is something internal to human conduct, not something imposed from above by a human divine agency. Its practice is internally enforced as a demonstration of man’s personal ability to contribute to the maintenance of universal harmony and the cultivation of his being and his society. (Glenn, 2000)
A desconfiança com relação ao fa consolidou-se nos ensinamentos de Confúcio, cuja concepção afirmava que uma sociedade bem organizada deveria ser fundada na valorização do li, e não em inovações sociais introduzidas pelo fa. Isso não significava que o confucionismo se opusesse à aplicação de punições, mas apenas que elas deveriam ter um caráter suplementar e educativo, que fica clara na afirmação de Xun-Zi de que é preciso punir as pessoas más, mas se elas forem “punidas sem educação, as penalidades serão imensas e o mal não será vencido” (Chen, 2008).
Essa percepção faz com que, no caso as questões que não eram criminais, o confucionismo propunha a aplicação do li e concentrava-se na prevenção dos litígios (Glenn, 2000). Nas palavras do próprio Confúcio, que bem poderiam ser ditas por um jurista contemporâneo ligado ao movimento de desjudicialização, “eu sou tão bom quanto qualquer pessoa para julgar os casos que me são trazidos, mas o que realmente necessitamos é que não haja mais casos a serem julgados” (Chen, 2008).
A preponderância do li foi colocada à prova no período de intensos conflitos sociais ocorridos entre 475 AEC. e a consolidação imperial da dinastia Qin, ocorrida em 221 AEC. Nesse período, os vários reinos existentes na China foram formando alianças ou sendo conquistados, transformando-se em unidades maiores, até que todo o território foi unificado sob o domínio de Ying Zheng, que instituiu a dinastia Qin e se tornou o primeiro imperador a governar efetivamente toda a China.
A dinastia Qin foi erguida sobre o fa e não sobre o li, pois ela decorre de um "radical programa de reestruturação" concebido por um dos ministros do reino de Qin: Shang Yang, que ficou conhecido como um dos grandes nomes da escola legalista, que advogava uma utilização ampla do fa como instrumento de reorganização social (Keay, 2009) e defendia que “nada era mais fundamental para colocar um fim aos crimes do que a imposição de penalidades rigorosas” (Chen, 2008). A partir 356 AEC foram introduzidas várias de inovações na organização do reino, que viabilizaram a construção do poder centralizado que veio a unificar o Reino do Meio em um prazo de pouco mais de cem anos.
The ‘county’ system of direct administration was introduced, weights and measures standardised, trade heavily taxed, agriculture encouraged with irrigation and colonisation schemes, and the entire population registered, individually taxed and universally conscripted. ‘Mobilising the masses’ was not a twentieth-century innovation.
The carrot in all this was an elaborate system of rankings, each with privileges and emoluments, by which the indvidual might advance according to a fixed tariff; in battle, for instance, decapitating one of the enemy brought automatic promotion by one rank. But more effective than the carrot was the stick, which took the form of a legal code enjoining ferocious and indiscriminate punishments for even minor derelictions. Households were grouped together in fives or tens, each group being mutually responsible for reporting any indiscretion by its members; failing an informant, the whole group was mutually liable for the prescribed punishment. In battle this translated into a punitive esprit de corps. Serving members of the same household group were expected to arrest any comrade who fled, to deliver a fixed quota of enemy heads, and to suffer collective punishment if they failed on either count. (Keay, 2009)
O resultado dessa centralização radicalizada de poder foi muito efetivo e permitiu uma utilização extremamente eficiente dos recursos disponíveis ao reino Qin, que expandiu rapidamente a sua força e submeteu ao longo dos próximos 120 anos os outros 6 reinos que compunham o território chinês, e criou assim a rápida dinastia Qin, que durou apenas 14 anos.
Os Qin foram derrubados pela dinastia Han, que optou pelo confucionismo como concepção básica e produziu uma narrativa oficial que tende a ressaltar que o legalismo do primeiro imperador (Qin) tinha um caráter tirânico e que o exercício do poder deveria seguir a estrutura teórica do confucionismo, que indicava a necessidade de um governo pela virtude (Keay, 2009).
Todavia, uma leitura mais cuidadosa dos fatos mostra que, apesar do discurso oficial de matriz confucionista, a estrutura jurídica do legalismo foi mantida na dinastia Han, especialmente as inovações que contribuíram para a concentração do poder político nas mãos do imperador e para a ruptura do sistema feudal da época dos Zhou. Como afirma Cheng, tornou-se comum afirmar que os governantes passaram a ser “confucionistas na aparência, mas legalistas em realidade”, visto que a aplicação de penalidades rigorosas continuou a ser um instrumento de governo utilizados de forma recorrente (Chen, 2008). Com o tempo, pensadores como Huang Lao, que escreveu por volta do ano 100 AEC, promoveram uma harmonização entre o li e o fa, apontando ambos como expressões do tao e elementos relevante para garantir que as pessoas se comportem em consonância com a ordem natural (Peerenboom, 1993).
A história da China antiga traz vários indícios relevantes sobre a relação entre centralização do governo, consolidação do império e a fixação de um sistema jurídico baseado em uma legislação criada com o objetivo explícito de reforçar a sustentação dessa forma política. No campo da filosofia política, um ponto que mantém sua relevância é a clássica tensão entre legalismo e confucionismo, que lida com uma tensão que nunca perdeu atualidade: até que ponto o governo pode alterar a sociedade com a finalidade de reforçar os mecanismos de governamentalidade?
Por um lado, parece que certas inovações podem ser necessárias para manter a prosperidade de uma nação e garantir a eficiência de um governo. Por outro, várias teorias contemporâneas (como o liberalismo e o constitucionalismo que ele engendra) insistem na tese confucionista de que é preciso respeitar as estruturas tradicionais (descritas como direito natural) para que o governo possa ter legitimidade e manter sua estabilidade no longo prazo.
5. Physis & Nomos
Na antiguidade grega, diferentemente do que ocorria na cultura hinduísta, a ordem política não era estruturada em termos da articulação de uma autoridade governamental e de uma autoridade religiosa, atribuída a grupos sociais diferentes. Não havia textos sagrados produzidos e desenvolvidos por um conjunto específico de sacerdotes, que compilavam e reinterpretavam o dharma, e com isso introduziam hermeneuticamente as adaptações sociais necessárias para acoplar a ordem tradicional a um contexto que mudava constantemente, mas de forma gradual.
Tal como na China, o desafio político dos gregos antigos era o de acoplar uma estrutura governamental centralizada a uma estrutura cultural dominada pela ideia de que havia uma ordem natural imanente, que estabelecia padrões obrigatórios de comportamento, mas cuja interpretação não era função exclusiva de um grupo social determinado.
Apesar dessa semelhança específica, a situação geopolítica da China era muito diferente da que enfrentavam as polis gregas. Mesmo antes de se consolidar como um império unificado (cerca de 200 AEC), a China não se encontrava sob ameaça externa relevante, visto que grandes barreiras naturais a separavam tanto da Índia quanto dos impérios do oriente próximo, como o Persa.
O isolamento geográfico da China antiga permitiu que as transformações daquela sociedade decorressem fundamentalmente de suas dinâmicas internas. No caso dos gregos, a situação era fundamentalmente diversa, pois o fortalecimento dos impérios da Ásia próxima representava um risco iminente de invasão externa, que desafiava as polis gregas a encontrar caminhos que pudessem garantir a sua sobrevivência, em um contexto geopolítico particularmente desafiador.
Por volta do ano 500 AEC, o império Aquemênida (Persa) havia se tornado a maior unidade política que já havia existido no planeta. Depois de ter conquistado todos os territórios desde e o rio Indo até o Egito e o Mar Egeu, a expansão dos Persas previsivelmente avançaria sobre a Grécia Continental, o que veio a acontecer nas Guerras Médicas, em que os Persas avançaram sobre a Grécia continental, tendo sido repelidos pela força naval combinada das polis gregas.

O pano de fundo da filosofia clássica da Grécia antiga não era o de uma forma política estável, que enfrentava os desafios decorrentes das suas próprias dinâmicas. Isso ocorreu na Índia e na China, cujas categorias foram desenvolvidas na busca de tornar compreensíveis as tensões políticas decorrente das dificuldades em manter estáveis as formas políticas que se formaram no interior dessas culturas. No caso dos gregos, tratava-se da percepção de que havia um risco evidente para a continuidade das unidades políticas gregas, o que criava espaço para o desenvolvimento de uma crítica aos valores tradicionais e às estratégias típicas de organização.
No complexo cenário da Grécia antiga, tornou-se evidente o caráter trágico dos inevitáveis conflitos entre as tradições religiosas e as instituições governamentais, sendo que a obra de Sófocles sugere a necessidade de que os governantes não entrem em conflito com os mandamentos sagrados, para evitar as desgraças que adviriam desse tipo de atuação. Antígona foi escrita cerca de 400 AEC, e sua mensagem está ligada à percepção dos riscos assumidos por governos que buscam afirmar sua autoridade acerca de temas regidos pela tradição religiosa. Apesar da infelicidade do destino de Creonte, em momento algum se coloca em dúvida a autoridade dos governantes para editar leis: apenas se indica que o exercício irresponsável do governo tende a gerar situações trágicas, que podem ser evitadas por meio de um exercício político mais prudente.
Na cultura grega, uma série de conceitos foi desenvolvido para lidar com as complexidades de articular uma ordem natural imanente com a percepção de que tanto os deuses como os governantes poderiam editar comandos intencionais. Sinha indica que o conceito desenvolvido pelos gregos para unificar todas essas percepções foi o de Nomos: uma ordem normativa imanente, que se impunha aos homens e aos deuses, e que era a base de organização de toda comunidade política. Com o tempo, porém, esse conceito passou a ser utilizado para tratar das regras vigentes em uma comunidade, o que acabou por fazer com que ele englobasse também as regras impostas pelos governantes.
Essa mudança de significado permitiu que os sofistas remodelassem o sentido desse conceito, propondo uma nova divisão entre Physis, que significa natureza e era usado para fazer referência à ordem natural imanente, e Nomos, palavra que passou a designar as regras convencionais criadas pelo exercício da autoridade política. Essa é a distinção conceitual que está na base da distinção contemporânea entre um direito natural (a própria ordem do mundo) e um direito positivo (criado pelas unidades políticas).
Por mais que haja proximidades entre essa distinção e a divisão chinesa entre li e fa, um desenvolvimento próprio da filosofia grega marca uma distinção entre esses pares conceituais. O li indica um conjunto de ritos tradicionais, cujo respeito deveria representar uma observância da ordem natural, mas essa ordem natural somente é acessível pelo reconhecimento da autoridade do li. Em outras palavras, não há uma distinção possível entre a tradição e a natureza, termos cuja distinção é decisiva para o pensamento grego.
No caso da filosofia grega, a ordem imanente do mundo seria acessível por meio do logos, ou seja, por meio de nossas faculdades intelectuais. Enquanto o li é ligado diretamente ao respeito das tradições chinesas, a Physis dos gregos não podia ser equacionada diretamente com a tradição, pois o exercício intelectual dos filósofos era justamente o de diferenciar a tradição que correspondia efetivamente à Physis (e que por isso deveria ser respeitada) e as tradições que ofendiam à Physis (e que por isso deveriam ser abandonadas).
O que a filosofia grega inaugura é uma instância crítica da tradição, o que gera um novo sentido para a ordem natural: ela não mais servia apenas como base de sustentação para as distinções tradicionais (justificadas por serem naturais), mas servia como argumento voltado para afastar instituições tradicionais percebidas como incompatíveis com os mandamentos inscritos na ordem natural.
6. Referências
Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Por Que as Nações Fracassam. Elsevier.
Anastassiou, C., & Shai, A. (2016). Psyche, Signals and Systems. Em: G. Buzsáki & Y. Christen (Orgs.). Micro-, meso- and macro-dynamics of the brain. Springer Berlin Heidelberg.
Apicella, C., & Crittenden, A. (2016). Hunter-Gatherer Families and Parenting. Em: D. M. Buss (Org.). The handbook of evolutionary psychology (2nd edition). Wiley.
Aristóteles. (2006). A Política. UnB.
Babu, R., & Nandarajan, M. (2008). Reinterpreting Caste and Social Change: A Review. Em: R. Babu (Org.). From Varna to Jati: Political Economy of Caste in Indian Social Formation. Daanish Books.
Babu, Y. N. (2008). From Varna to Jati: Transformation from Pastoral to Agrarian Social Formation. Em: R. Babu (Org.). From Varna to Jati: Political Economy of Caste in Indian Social Formation. Daanish Books.
Bloomfield, M. (1908). The religion of the Veda. The Knickerbocker Press.
Bor, D. (2012). The ravenous brain: how the new science of consciousness explains our insatiable search for meaning. Basic Books.
Buzsáki, G. (2019). The brain from inside out. Oxford University Press.
Carneiro, R. L. (1970). A Theory of the Origin of the State: Traditional theories of state origins are considered and rejected in favor of a new ecological hypothesis. Science, 169(3947), 733–738.
Chen, J. (2008). Chinese law: context and transformation. Martinus Nijhoff Publishers.
Childe, V. G. (1958). Man Makes Himself. Mentor Books.
Clastres, P. (2003). A sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia política. Cosac & Naify.
Cleary, T. (1993). The Essential Tao : An Initiation into the Heart of Taoism Through the Authentic Tao Te Ching and the Inner Teachings of Chuang-Tzu (Reprint edition). HarperOne.
Comte, A. (1982). Cours de Philosophie Positive. Hatier.
Damásio, A. (2004). Em busca de Espinosa: prazer e dor na ciência dos sentimentos. Companhia das Letras.
Dunbar, R. (1993). Coevolution of neocortical size, group size and language in humans. Behavioral and Brain Sciences, 16(4), 681–694.
Flannery, K., & Marcus, J. (2012). The Creation of Inequality: How Our Prehistoric Ancestors Set the Stage for Monarchy, Slavery, and Empire. Harvard University Press.
Freud, S. (2010). O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias à psicanálise e outros textos: 1930-1936. Companhia das Letras.
Fried, M. H. (1967). The evolution of political society: an essay in polit. anthropology. Random House.
Gamble, C. (2007). Origins and Revolutions: Human Identity in Earliest Prehistory. Cambridge University Press.
Gershman, S. J. (2021). What makes us smart: the computational logic of human cognition. Princeton University Press.
Gilissen, J. (1995). Introdução histórica ao direito. Calouste Gulbenkian.
Glenn, H. P. (2000). Legal traditions of the world. Oxford University Press.
Graeber, D., & Wengrow, D. (2021). The dawn of everything: a new history of humanity. Signal.
Harari, Y. (2012). Sapiens: Uma breve história da humanidade. L&PM.
Hayden, B. (1972). Population control among hunter/gatherers. World Archaeology, 4(2), 205–221.
Hespanha, A. M. (1993). Justiça e ligitiosidade: história e prospectiva. Calouste Gulbenkian.
Hume, D. (2001). Tratado de la naturaleza humana. 448.
Katju, M. (2010). Ancient Indian Jurisprudence [Www.bhu.ac.in]. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.bhu.ac.in%2Fmmak%2Fresent_article%2FJusticeKatjusLec.pdf&clen=73876&chunk=true. Acesso em: 29 mar. 2022
Keay, J. (2009). China: a history. Basic Books.
Khazanov, A. M. (1985). Rank Society or Ranks Societies: processes, stages and types of evolution. Em: H. J. M. Claessen, P. van de Velde, & M. E. Smith (Orgs.). Development and decline: the evolution of sociopolitical organization. Bergin & Garvey.
Knabb, K. (2022). Bureau of Public Secrets - situationist texts and translations. Disponível em: http://www.bopsecrets.org/. Acesso em: 17 mar. 2022
Kundera, M. (2003, maio 17). The theatre of memory. The Guardian.
Larkum, M. (2013). A cellular mechanism for cortical associations: an organizing principle for the cerebral cortex. Trends in Neurosciences, 36(3), 141–151.
Larkum, M., Nevian, T., Sandler, M., et al. (2009). Synaptic Integration in Tuft Dendrites of Layer 5 Pyramidal Neurons: A New Unifying Principle. Science, 325(5941), 756–760.
Lima, T. S., & Goldman, M. (2003). Prefácio. Em: P. Clastres. A sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia política. Cosac & Naify.
MacCluer, J. W., & Dyke, B. (1976). On the minimum size of endogamous populations. Social Biology, 23(1), 1–12.
Marques, B. G. (2016). Corpo e consciência jurídica [Doutorado]. USP.
Mattson, M. P. (2014). Superior pattern processing is the essence of the evolved human brain. Frontiers in Neuroscience, 8, 265.
Maturana, H., & Varela, F. (1995). A árvore do conhecimento. Editorial Psy II.
McCall, G., & Widerquist, K. (2015). The Evolution of Equality: Rethinking Variability and Egalitarianism Among Modern Forager Societies. Ethnoarchaeology, 7(1), 21–44.
Nicolelis, M. (2020). O verdadeiro criador de tudo: Como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. Planeta.
Osmosis. (2016, dezembro 26). Neuron action potential - physiology.
Owens, D., & Hayden, B. (1997). Prehistoric Rites of Passage: A Comparative Study of Transegalitarian Hunter–Gatherers. Journal of Anthropological Archaeology, 16(2), 121–161.
Peerenboom, R. P. (1993). Law and morality in ancient China: the silk manuscripts of Huang-Lao. State University of New York Press.
Piketty, T. (2022). A brief history of equality (S. Rendall, Trad.).
Rousseau, J. J. (2013). Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. L & PM.
Schwendler, R. H. (2012). Diversity in social organization across Magdalenian Western Europe ca. 17–12,000 BP. Quaternary International, 272–273, 333–353.
Sikora, M., Seguin-Orlando, A., Sousa, V. C., et al. (2017). Ancient genomes show social and reproductive behavior of early Upper Paleolithic foragers. Science, 358(6363), 659–662.
Sinha, S. P. (1993). Jurisprudence: Legal Philosophy in a nutshell. West Publishing Co.
Sófocles. (1998). Édipo rei. L&PM.
Sófocles. (2005). Antígone. eBooksBrasil.org.
Sparkes, J. J. (1969). Patter Recognition and a Model of the Brain. International Journal Man-Machine Studies, 1(1), 263–278.
Tenenbaum, J. B., Kemp, C., Griffiths, T. L., et al. (2011). How to Grow a Mind: Statistics, Structure, and Abstraction. Science, 331(6022), 1279–1285.
Van Le, Q., Isbell, L. A., Matsumoto, J., et al. (2013). Pulvinar neurons reveal neurobiological evidence of past selection for rapid detection of snakes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(47), 19000–19005.
Walker, R. S., Hill, K. R., Flinn, M. V., et al. (2011). Evolutionary History of Hunter-Gatherer Marriage Practices. PLoS ONE, 6(4), e19066.
Woodburn, J. (1982). Egalitarian Societies. Man, 17(3).



