Este é o primeiro volume do Curso de Metodologia de Pesquisa em Direito desenvolvido por Alexandre Araújo Costa, Henrique Fulgêncio e Ricardo Horta.
Introdução
As universidades oferecem vários cursos de ciências humanas, cuja principal função é formar pesquisadores aptos a planejar e executar investigações que contribuam para o avanço do conhecimento científico acerca do nosso universo cultural. O bacharelado em direito não pertence a esse grupo, mas ao conjunto das ciências sociais aplicadas, que se destinam à formação de técnicos capazes de exercer atividades profissionais especializadas.
O desenho oficial dos cursos jurídicos não caracteriza explicitamente a pesquisa como um dos elementos fundamentais da graduação em direito. As diretrizes curriculares definidas pelo Conselho Nacional de Educação determinam que os bacharéis devem conhecer o sistema jurídico brasileiro e ser capazes de interpretar as normas vigentes, produzir documentos jurídicos (pareceres, petições, sentenças, etc.) e tomar decisões devidamente fundamentadas. Não existe uma orientação específica no sentido de que os estudantes de graduação em direito devam ser educados para formular e executar projetos de pesquisa capazes de produzir novos conhecimentos.
A percepção que orienta as diretrizes curriculares é a de que cabe aos cursos jurídicos formar bacharéis hábeis para o exercício de profissões jurídicas, tais como a advocacia, a magistratura e o ministério público. Essas são atividades que exigem um conhecimento técnico especializado e que envolvem a produção de pareceres: textos nos quais uma pessoa apresenta a sua opinião sobre uma questão determinada, defendendo argumentativamente a sua posição. Trata-se de um trabalho que exige uma combinação de conhecimentos e de habilidades retóricas, cujo acoplamento permite ao jurista fazer escolhas estratégicas adequadas a tornar seus discursos altamente persuasivos, frente a um auditório composto por pessoas que partilham de um itinerário formativo semelhante.
A abordagem típica dos juristas não é científica (baseada em uma observação rigorosa de fenômenos empíricos), mas dogmática (baseada na aplicação dos cânones argumentativos dominantes no campo). Portanto, não é de se esperar que os cursos jurídicos dediquem parte relevante de seus esforços para ensinar os alunos a produzir um discurso tão distante de sua prática cotidiana.
Enquanto os cursos de ciências sociais (como sociologia, antropologia e ciência política) têm como um de seus objetivos centrais a capacitação para o exercício da pesquisa, os cursos jurídicos focam na produção de subjetividades capazes de se inserir com eficiência no debate dogmático. Essa diferença parece justificada pelo fato de que a atividade prática dos juristas envolve processos decisórios cuja temporalidade é incompatível com a realização de pesquisas científicas. Um advogado normalmente tem poucos dias para desenvolver cada uma de suas petições. Um juiz precisa tomar várias decisões por dia, para poder dar conta do fluxo de processos que ele precisa gerir. Nesse contexto, é natural que sejam privilegiadas abordagens que possibilitam uma eficácia razoável, com um mínimo de investimento de tempo.
A pesquisa científica não oferece um custo-benefício adequado para a maioria das situações cotidianas, inclusive no campo das profissões jurídicas. Enquanto a dogmática propicia soluções rápidas e de baixo custo, as investigações científicas são caras e seus cronogramas são contados em meses ou anos. Além disso, por mais que o conhecimento científico seja o mais rigoroso e confiável que podemos elaborar, ele somente fornece bases sólidas para a tomada de decisão em campos nos quais existe uma tradição longa e estabelecida de pesquisas.
O escopo das abordagens científicas também tende a ser mais reduzido que o das perspectivas dogmáticas. O rigor da ciência somente possibilita o desenvolvimento de investigações muito focadas, que avançam um pouco de cada vez. Essa é uma limitação que frustra muitos estudantes, que ingressam na vida acadêmica com o objetivo de mudar o mundo e terminam encontrando orientadores que buscam redimensionar as suas expectativas, sob o argumento de que não existem atalhos. Antes de oferecer soluções abrangentes, é preciso descrever exaustivamente os fenômenos, diagnosticar os problemas, buscar padrões.
A ciência envolve um processo longo, em que a contribuição de cada pessoa tende a ser discreta. Por mais que estejamos acostumados a acentuar o papel revolucionário de meia dúzia de gênios (como Newton, Darwin ou Curie), a ciência é produto da lenta acumulação de conhecimentos produzidos por uma ampla comunidade de pesquisadores. O conhecimento empírico baseado em evidências somente se torna uma orientação mais sólida do que a intuição dos técnicos especializados quando o trabalho desta comunidade permite acumular tantas observações e análises que nos tornamos capazes de concatená-la em uma rede teórica abrangente. É somente neste ponto que as teorias científicas se tornam aptas para servir como guia adequado para nossas atividades práticas.
É impossível realizar esse tipo de desenvolvimento de modo individual. O caminho da ciência exige que cada pessoa se dedique a fazer trabalhos pequenos, que somente farão diferença substancial na medida em que alcancemos coletivamente uma "massa crítica" de resultados, que permita identificar padrões que não eram claros e, com isso, desenvolver explicações inovadoras.
A falta do reconhecimento de que a ciência é um empreendimento social, misturada ao excesso de expectativas que marca a nossa juventude, faz com que alguns estudantes metodologia leiam Thomas Kuhn e entendam mal a sua diferenciação entre ciência normal e as revoluções que conduzem à ruptura de paradigmas (Kuhn, 2012). Em vez de reconhecer que o acúmulo de desenvolvimentos pontuais termina por desafiar os modelos teóricos dominantes, há estudantes que estabelecem para si mesmos o desafio de ultrapassar a ciência normal, engajando-se nas revoluções paradigmáticas, como se houvesse uma pesquisa intencionalmente revolucionária.
Esse enfoque disruptivo por vezes assume a forma de uma postura antimetodológica: por que devemos nos dedicar ao estudo dos métodos de uma ciência normal, fatalmente destinada a ser superada por novos paradigmas? Para quem espera revolucionar os modelos de compreensão humana, a metodologia pode parecer uma disciplina conservadora, que inibe nossas capacidades de inovação. Por que estudar metodologia, quando parece que ela nos condena a repetir o velho, em vez de inventar o novo?
A resposta é simples, e deixa pouco espaço para as expectativas de genialidade: não existe uma ciência normal acrítica, feita por pesquisadores burocráticos, empenhados em repetir os velhos padrões. É claro que há cientistas conservadores, ciosos de suas posições de prestígio. Mas a maioria dos pesquisadores é composta por pessoas altamente originais, cujo trabalho "normal" é formular hipóteses inovadoras e desenvolver métodos criativos, capazes de testar as suas ideias e avaliar se elas explicam a realidade de modo mais adequado que o conhecimento existente.
Cada passo que damos modifica nossos conceitos. Cada categoria inventada para explicar certos fenômenos pode ser apropriada por outros campos e desencadear novas investigações que, acumuladas, podem conduzir a uma mudança no eixo de nossas formas de compreender.
Qual é o caminho para revolucionar a ciência? É fazer ciência normal, de alta qualidade. É ser tão rigoroso com relação às categorias e explicações disponíveis que nos tornemos hábeis a identificar seus pontos cegos. É enfrentar esses pontos cegos com tanta criatividade que possamos vislumbrar novos padrões e engendrar conceitos capazes de explicá-los.
Um curso de metodologia é uma disciplina voltada a capacitar os estudantes a promover o exercício de sua criatividade. A ciência é como a música: não há resultados sólidos sem inovação criativa, mas ninguém alcança uma produção original sem dialogar constantemente com a tradição. Essa proximidade não é fruto do acaso: embora a ciência seja um discurso rigoroso sobre os fatos, a pesquisa científica é uma atividade técnica, muito próxima daquela realizada pelos artistas. A arte não é produzida pela arte, mas pelo trabalho dos artistas. A ciência não é produzida pela ciência, mas pelo labor dos pesquisadores.
Uma reflexão filosófica sobre os modos de produção científica e dos resultados alcançados pela pesquisa gera um discurso que chamamos de epistemologia. A epistemologia não é uma técnica, não é uma orientação normativa. Ela é uma tentativa de compreender, de forma crítica, o significado desse empreendimento social que chamamos de "ciência".
No campo do direito, é comum que os cursos de metodologia sejam lecionados como cursos de epistemologia, ou seja, de filosofia da ciência. Esse tipo de abordagem conduz ao desenvolvimento de um discurso filosófico acerca da pesquisa, que trata das características das atividades científicas e se concentra na discussão acerca da estrutura, dos limites e das possibilidades do discurso científico.
Embora o debate sobre teoria da ciência seja importante para qualquer pesquisador, um curso de metodologia de pesquisa não deve ter um enfoque meramente epistemológico: trata-se de desenvolver capacidades que habilitam o estudante a pesquisar, e não apenas a refletir sobre o papel social do discurso científico. Um músico que se limite a estudar teoria musical e história da música não se torna apto a tocar um instrumento. Da mesma forma, um estudante que adquire conhecimentos de epistemologia e filosofia não se torna capaz de produzir investigações relevantes.
Parece-me que muitas disciplinas jurídicas de metodologia adotavam um enfoque exageradamente epistêmico porque elas eram tipicamente ministradas por docentes ligados à teoria e à filosofia do direito, mas com pouca experiência na formulação e na execução de pesquisas empíricas. Felizmente, esse panorama vem se modificando intensamente na última década, visto que a geração atual de professores é composta por vários docentes que entendem a pesquisa como parte fundamental de sua atividade.
Cada vez mais, os cursos de metodologia deixam de ser destinados ao fastidioso ensino das regras da ABNT ou ao simples oferecimento um panorama geral da filosofia da ciência. Os cursos de metodologia têm assumido o papel de capacitar os estudantes a formular um projeto de pesquisa coeso e factível, a executá-lo e a publicar adequadamente os seus resultados. Essa é uma mudança que acompanha a expansão da pesquisa empírica em direito, que começou no âmbito da pós-graduação, mas que paulatinamente ganha espaço também nos bacharelados.
Um dos principais signos dessa mudança é a valorização da capacidade de redigir bons projetos de pesquisa. Toda investigação envolve um trabalho extenso, o que torna fundamental a realização de um planejamento cuidadoso. Nenhum advogado faz um projeto de petição, para depois ser executado, porque as petições tendem a ser trabalhos relativamente curtos e a seguir uma estrutura predeterminada: o parecer é iniciado por meio de uma descrição dos fatos, seguida de uma análise normativas dos direitos e deveres aplicáveis aos fatos descritos e culmina em uma conclusão (um pedido, uma opinião, uma decisão). Nos pareceres, tendemos a partir de um esboço inicial, que é revisto e aprimorado, até chegar a um resultado consistente.
A dinâmica de escrever minutas e submetê-las a ciclos de revisão é adaptada ao trabalho prático de advogados e juízes, cujos textos seguem a estrutura de um parecer: defesa retórica de uma tese, que manifesta a opinião do parecerista. Essa mesma estratégia também é adaptada a ensaios acadêmicos, nos quais um autor, que estudou bastante determinado tema, apresenta e justifica as suas conclusões. Tal abordagem tem a vantagem de exigir pouco esforço de planejamento e tem a desvantagem de tornar os resultados muito dependentes da experiência do pesquisador, visto que a sua sensibilidade será o principal guia para selecionar os casos relevantes, para identificar os argumentos centrais e para construir a justificativa retórica das conclusões.
No caso das pesquisas empíricas, essa abordagem intuitiva é pouco indicada porque eventuais ciclos de revisão são demasiadamente custosos. Um magistrado pode entender que o texto que está escrevendo para uma sentença ainda não está suficientemente claro nem convincente, e isso faz com que ele tenha de rever o texto. O mesmo ocorre com este texto que agora escrevo, que pode ser entendido como um grande ensaio acerca da pesquisa em direito. Nesses casos, por mais que a revisão envolva um trabalho considerável, é possível realizar vários ciclos de revisão, até alcançar um resultado percebido como sólido.
Nas investigações empíricas, os pesquisadores também operam diversos ciclos de revisão de seus escritos. Todavia, a pesquisa envolve sempre a produção de um banco de dados, de um conjunto de informações que são levantadas por meio de laboriosos procedimentos de coleta, tratamento, classificação e organização. Esse é um contexto no qual, se um pesquisador se limitar a seguir as suas intuições, ele corre um grande risco de descobrir que não angariou dados suficientes para subsidiar suas análises. Se a amostra for muito pequena ou se as classificações forem inadequadas, não se trata de remodelar os argumentos, mas de recompor as bases de dados.
Se um doutorando passou meses realizando entrevistas e depois entendeu que teria sido crucial fazer uma certa pergunta aos entrevistados, ele provavelmente não terá como refazer as entrevistas. Se um mestrando desenhou mal um experimento sobre a eficácia de um medicamento, o resultado da investigação pode ser inconclusivo, sendo que o pesquisador não terá tempo nem dinheiro para refazer os procedimentos executados. Em suma: nas pesquisas que envolvem a observação e levantamento de dados, a correção de deficiências na coleta e no tratamento das informações tende a envolver custos e tempo que não costumam estar disponíveis.
Diversamente do que ocorre nos pareceres e ensaios (que são as formas de escrita típicas dos juristas), as pesquisas exigem uma etapa de projeto que permite a identificação e a superação de deficiências antes de o pesquisador "ir a campo" para levantar os dados. Fazer uma pesquisa empírica de modo intuitivo é como construir uma casa de modo intuitivo, a partir de um esboço geral. O risco de desastre é demasiadamente alto, para que o empreendimento valha a pena. Quanto mais complexo for o seu desafio (talvez você não queira construir uma casa, mas um submarino ou um computador), a ausência de um planejamento minucioso e exigente é receita certa para que o projeto logo se inviabilize. Portanto, o planejamento da pesquisa empírica é um elemento crucial para que ela possa alcançar seus objetivos, em tempo hábil, mobilizando os recursos disponíveis.
Essa necessidade crucial de planejamento não diminui o lugar da criatividade e da intuição, fundamentais para a formulação de hipóteses explicativas. O trabalho científico parte de intuições fulgurantes, mas tem a necessidade de submetê-las a testes rigorosos. A investigação prospera mediante um delicado equilíbrio entre intuições afiadas (necessárias para formular hipóteses criativas) e uma grande desconfiança acerca das próprias convicções (necessária para que nossas hipóteses sejam avaliadas). O parecerista/ensaísta tende a defender as opiniões às quais chegou intuitivamente, o que o leva a construir estruturas retóricas de justificação. Já o cientista precisa estabelecer estratégias capazes de testar a solidez de suas intuições.
Na academia jurídica, a abordagem ensaística leva ao risco de que uma confiança demasiada na intuição conduza os “pesquisadores” a reiteradamente confirmar as hipóteses de trabalho. Ocorre que tanto o senso comum como as pesquisas de psicologia comportamental nos indicam que somos maus juízes sobre nossas próprias crenças, mas somos avaliadores rigorosos com relação às teses defendidas pelas outras pessoas. Como resta claro nas sentenças do então juiz Sergio Moro ou nos famosos powerpoints de Deltan Dalagnol, exigimos provas muito sólidas para demonstrar teses que desafiam as nossas crenças, mas nos contentamos com indícios frágeis, quando eles confirmam nossas convicções.
A consciência da fragilidade epistêmica de nossas convicções não deve nos conduzir ao abandono da projeção intuitiva de novas hipóteses explicativas. Somente esse exercício criativo é capaz de produzir teorias inovadoras, que avançam nosso repertório de conhecimentos. Por esse motivo, seria contraproducente educar os estudantes a serem demasiadamente céticos com relação a suas intuições, o que conduziria à formação de investigadores burocráticos, incapazes de produzir uma pesquisa original. Nesse contexto, seria fácil afirmar que deveríamos adotar um equilíbrio aristotélico entre confiar demais e confiar de menos em nossas convicções intuitivas. Porém, essa "confiança desconfiada" é tão paradoxal que raramente pode ser alcançada por uma pessoa isolada.
O reconhecimento de que a tarefa de desconfiar de si mesmo é pouco factível nos fez desenvolver várias instituições sociais (como a ciência e o judiciário) que adotam processos coletivos de avaliação. No judiciário, a decisão monocrática de um juiz pode ser reavaliada por um coletivo de magistrados. Na academia, todo trabalho é submetido a uma avaliação externa, em que um coletivo de examinadores analisa a solidez das metodologias e dos resultados.
Essa dinâmica de revisão coletiva faz com que os acadêmicos, assim como os magistrados, estejam sempre submetidos a um alto grau de exposição pública. Um pesquisador tem de estar disponível ao escrutínio de outros, bem como a participar da avaliação do trabalho de seus pares, o que exige o desenvolvimento tanto de critérios rigorosos de análise como de um olhar sensível para os desafios que cada um de nós enfrenta. Não devemos confundir o rigor científico com a insensibilidade perante as diretrizes impossíveis que a pesquisa científica nos impõem: sermos objetivos quanto a nossa própria subjetividade.
A constante reavaliação dos trabalhos de nossos estudantes e colegas precisa ser feita dentro de um ambiente mais do que respeitoso: precisamos ser acolhedores com relação aos riscos que cada um de nós assume para produzir conhecimentos inovadores. Precisamos ser críticos sensíveis, para que todos os envolvidos se sintam estimulados a continuar tentando, apesar das dificuldades inerentes ao nosso ofício.
Na prática do direito, não há interpretações objetivamente corretas. Todavia, o imperativo político de que precisamos tomar decisões que resolvam os casos concretos, mesmo em contextos de incerteza, faz com precisemos estabelecer sistemas de autoridade: a sentença judicial não decorre de um conhecimento especial dos juízes, mas tão-somente da autoridade de que os magistrados que estão investidos. O que distingue um juiz não é o seu conhecimento nem é o seu prestígio, mas é o seu poder.
Na ciência, não há lugar para esse tipo de autoridade. Há lugar para o prestígio, para o reconhecimento público das contribuições que foram e são feitas por diversos atores, que se tornam influentes em alguns campos. Todavia, o prestígio não significa autoridade, visto que os trabalhos dos cientistas mais célebres estão sempre sujeitos a contestação de os seus pares, inclusive por pesquisadores iniciantes: a força da crítica científica e acadêmica está nas evidências e nos argumentos.
Para que essa dinâmica de revisão coletiva ocorra, é preciso ter razoável segurança de que as críticas serão construtivas. O primeiro passo nesse sentido é que as pessoas que compõem um grupo se reconheçam e se percebam como companheiros em um desafio comum, nos quais existe abertura para ouvir e disposição para apoiar uns aos outros nos riscos assumidos.
O forte viés de confirmação que cada pessoa tem acerca de suas convicções faz com que, por mais imenso que seja o esforço individual envolvido em um trabalho, nossas pesquisas somente atingem resultados excelentes quando realizadas no contexto de uma comunidade aberta, que nos ofereça tanto uma base segura para nos arriscarmos a desenvolver nossas intuições mais ousadas quanto que nos desafie a submeter nossas intuições a testes rigorosos.
Nas disciplinas acadêmicas, é preciso construir um espaço de acolhimento e segurança que permita aos estudantes, especialmente aos mais tímidos, que possam fazer perguntas e sugestões de forma livre, o que contribui para o desenvolvimento de uma intuição sensível. Um ambiente intimidador e competitivo estimula todos os participantes a evitar posições em que se sintam expostos. Se as pessoas não se sentem estimuladas a demonstrar as suas dúvidas e inquietações ou para arriscar interpretações originais, o processo de aprendizagem fica muito prejudicado.
Essa situação faz com que as disciplinas de metodologia tenham um objetivo dúplice: é preciso desenvolver competências individuais, mas também fomentar laços, para que a turma possa se transformar em um grupo capaz de contribuir efetivamente para que os vários trabalhos possam ser desenvolvidos com excelência. Não há excelência sem diálogo, sem tolerância, sem abertura, sem cumplicidade. Por esse motivo, toda instituição de pesquisa precisa fomentar a criação de comunidades epistêmicas, ou seja, grupos dentro dos quais o diálogo e a troca de experiências permite que os projetos individuais sejam revistos e aperfeiçoados, ao longo tanto dos processos de formulação como de execução.
É preciso investir tempo na criação de um ambiente em que as pessoas se sintam pertencentes e seguras. O primeiro passo para isso é deixar claro que todos nós partilhamos todos os mesmos receios. A academia exige que cada um de nós esteja sempre superando seus limites, o que gera uma forte síndrome do impostor: todos temos medo de não estarmos à altura dos desafios que precisamos enfrentar, todos temos receio de que alguém desmascare a nossa fraqueza.
Essa é uma dificuldade inerente ao fato de que, não importa qual é a sua experiência e a sua capacidade acadêmicas: cada um de nós se propõe a enfrentar desafios que estão sempre além do nosso alcance imediato e que, por isso, não convém que sejam enfrentados sozinhos. Vocês têm os seus colegas, que os ajudarão a perceber as potencialidades e os limites de suas intuições mais inspiradas, e vocês terão também os orientadores, cuja função é justamente auxiliar cada um de vocês com a experiência acumulada por quem já trilhou várias vezes esse caminho.
A sensação de insegurança costuma nos acompanhar desde o início do processo, pois quase todos duvidamos da solidez dos projetos de pesquisa que conseguimos formular. Os melhores projetos são aqueles feitos dentro de um grupo de pesquisa, com a análise e colaboração de outros pesquisadores. Cada um vive a própria incerteza e muitos imaginam que as outras pessoas são mais convictas, conhecedoras e capazes. Mas o fato é que todos os acadêmicos estão constantemente administrando sua insegurança, visto que cada um de nós está imerso no desavio de compreender o que não sabíamos. O estudo é uma atividade segura e previsível, no qual aprendemos conhecimentos que foram desenvolvidos por outras pessoas. A pesquisa é sempre um risco, potencializado pelo fato de que ela ocorre num ambiente de exposição coletiva, em que nosso prestígio é sempre colocado em questão.
Além disso, a pesquisa acadêmica é sempre feita para ser publicada, o que gera níveis de exposição para os quais muitas pessoas não estão acostumadas. Por mais que os riscos dessa exposição causem certa angústia, trata-se de um desafio inevitável, vez que a estrutura do conhecimento científico envolve a publicidade dos dados e a revisão dos pares. O rigor específico do conhecimento científico decorre justamente dessa abertura constante à crítica, desse reconhecimento de que nunca teremos explicações acabadas.
Como erramos mais do que acertamos, só conseguimos produzir algo de interessante quando nos sentimos seguros o suficiente para arriscar. Um ambiente inseguro desestimula a dinâmica própria da academia: propor explicações que são expostas publicamente, criticadas de forma aberta e que normalmente se mostram limitadas e precisam ser constantemente revistas.
Um curso de metodologia é justamente um treinamento voltado a capacitar os estudantes a participar dessa dinâmica de formular trabalhos robustos e apresentá-los ao escrutínio público. Trata-se de ensaio que começa na sala de aula, criando ambientes em que cada pessoa formula hipóteses e as discute publicamente, fazendo e recebendo críticas. Ele continua pelo desenvolvimento da competência de formular projetos de pesquisa sólidos e factíveis, bem como da capacidade de executá-los, sabendo que, no processo de investigação, vários dos elementos planejados serão redimensionados e reinterpretados, à luz dos dados que aos poucos conseguimos coletar e analisar.
O presente curso de Metodologia de Pesquisa tem como objetivo contribuir para que os estudantes cumpram um ciclo formativo que os torne aptos a planejar investigações criativas e realizar pesquisas ousadas, que produzam resultados interessantes e que se traduzam em publicações capazes de gerar impactos sociais relevantes.
O presente livro é a primeira parte do Curso de Metodologia de Pesquisa em Direito, que temos ministrado nos últimos anos, seja de forma conjunta ou individual. Ele trata das relações entre o discurso jurídico e o discurso científico, discutindo as possibilidades e os limites de uma abordagem observacional no campo do direito. Este volume é composto por quatro textos interdependentes:
- Direito e Pesquisa: trata das relações entre direito e empiria e da possibilidade de um conhecimento jurídico baseado em evidências.
- Por uma educação jurídica contemporânea: discute a relação da educação jurídica atual com as antigas disciplinas do trivium e sugere que a adoção de uma perspectiva centrada em pesquisas empíricas pode modificar esse panorama, contribuindo para uma educação jurídica mais apta a enfrentar os desafios atuais.
Os textos que compõem este livro começaram a ser escritos em 2020, por Alexandre Costa, publicados, publicados no site https://arcos.org.br/. Nos anos seguintes, com a colaboração de Henrique Fulgêncio e Ricardo Horta, eles foram sendo reformulados e desenvolvidos, no contexto das disciplinas de metodologia de pesquisa que esses três autores têm ofertado conjuntamente na Escola da Advocacia-Geral da União e individualmente em outros cursos, especialmente no Programa de Pós-Graduação em Direito, Regulação e Políticas Públicas (PMPD) da Universidade de Brasília.
Um período de especial dedicação ao amadurecimento desta obra foi possibilitado foi possibilitado pelos trabalhos realizados durante o pós-doutorado do primeiro autor, que foi pesquisador convidado no Laboratoire de Théorie du Droit da Aix-Marseille Université – AMU entre outubro de 2022 e maio de 2023. Por esse motivo, o autor agradece à Universidade de Brasília pela concessão da licença de pós-doutorado e também à FAPDF, pela a bolsa que financiou a realização desse trabalho.
1. Os saberes jurídicos
1.1 A jurisprudentia
A atividade dos juristas sempre esteve ligada à definição das obrigações que as normas sociais impõem aos vários atores que integram uma comunidade: cidadãos, estrangeiros, governantes, religiosos, etc. Por esse motivo, sua atividade é diretamente impactada pelas características da ordem normativa de suas culturas.
No caso de ordens normativas consuetudinárias, baseadas na tradição oral, o direito não adquire a forma de um conjunto sistemático de regras a serem aplicadas. É mais comum que a normatividade social se articule em um conjunto heterogêneo de deveres sagrados, de papéis sociais estratificados, de narrativas míticas, de comportamentos exemplares, de valores morais a serem perseguidos. A aplicação desses complexos repertórios simbólicos a situações concretas envolve uma série de desafios, especialmente porque as interpretações sobre o que é socialmente devido podem variar bastante dentro do próprio grupo. Além disso, indivíduos envolvidos em um conflito costumam desenvolver entendimentos contraditórios sobre qual seria o modo correto de respeitar a mesma cultura.
Nesse contexto, a manutenção da unidade política é normalmente garantida pelo reconhecimento de que algumas pessoas podem servir como porta-vozes da tradição comum. No interior das comunidades, existe um regime de prestígio, em que certos indivíduos tendem a ser reconhecidos como sábios: conhecedores da tradição, reconhecidos por sua prudência: sua capacidade de tomar decisões entendidas como justas, a partir dos repertórios culturais compartilhados. Um dos exemplos paradigmáticos desse tipo de personagem é o rei Salomão, que não alcançava a justiça mediante uma aplicação acrítica das normas vigentes, mas por meio de sua inventiva sabedoria.
A mediação do sábio contribui para que as comunidades se mantenham coesas, mesmo quando se encontram divididas por entendimentos colidentes acerca da própria tradição. Todavia, o potencial harmonizador desses atores sociais é drasticamente reduzido em unidades políticas muito grandes, compostas por vários núcleos comunitários heterogêneos. Nesse caso, a coexistência de vários “sábios locais” faz com que eles tenham de operar de modo coordenado, o que exige a articulação dos prudentes em uma rede unificada, que produza alguma espécie de saber de referência.
Na base dessa forma de organização se encontra o pressuposto de que podem existir muitos sábios, mas somente uma sabedoria. Em várias culturas, essa coordenação dos prudentes opera por meio da eleição de certos “grandes sábios”, cujos ensinamentos permeiam toda a rede formada por aqueles que aplicam a sabedoria que foi desvendada por determinados profetas, com sua especial capacidade de desvendar os mistérios sagrados: Buda, Confúcio, Abraão, Maomé. Em certas culturas, o sábio paradigmático chega a ser alçado ao patamar de divindade, como no caso dos cristãos.
A organização dos prudentes em torno de certos “grandes sábios” conduz à formação de escolas incumbidas de preservar e propagar os seus ensinamentos. Quando os sábios deixam de ser pessoas cuja prudência é reconhecida por sua comunidade, e passam a ser produto de sistemas educacionais específicos, são comuns processos por meio dos quais um determinado grupo social passa a ser incumbido da função de estabilizar as interpretações sociais acerca dos direitos e deveres. No caso da cultura hinduísta, chega-se ao ponto de constituir uma casta específica de pessoas dedicadas à compreensão dos deveres sagrados: os brâmanes.
Essa passagem do sábio para uma burocracia, pode ser lida como uma forma de institucionalização: mais importante que a virtude individual dos indivíduos é a operação das estruturas sociais que articulam a sua coordenação. Na ciência política, a ideia instituição se opõe ao conceito de agente. Podemos explicar as interações humanas dando prevalência a explicações que tratam as condutas dos indivíduos como manifestações de sua agência: suas escolhas, seus valores, seus interesses e outros elementos que explicam o seu agir em função das características que lhe são próprias. Teorias da agência buscam explicar as nossas decisões com base em nossas preferências e características individuais. Teorias institucionalistas focam nos comportamentos de grupos de pessoas e tentam explicar o comportamento coletivo a partir de sua relação com as estruturas sociais: normas, sistemas de ensino, valores partilhados, etc.
A institucionalização dos saberes faz com que o sábio seja menos importante que a sabedoria que ele maneja. A excelência do prudente deixa de ser vista como a manifestação de uma virtude pessoal, e começa a ser percebida como o exercício de um conhecimento especializado. No limite desse processo está a consolidação moderna da ideia de que a atividade jurídica consiste na aplicação de um sistema de leis escritas, por meio de um conhecimento técnico especializado. Quanto mais impessoal a interpretação, menos sujeita ela parece estar às distorções impostas pela ideologia pessoal, pelos interesses individuais ou pelas influências políticas. Essa impessoalidade avança ligada à ficção de que existe uma ordem normativa dotada de significados precisos, que se deixa conhecer de modo objetivo, por meio do manejo de uma ciência específica.
Todavia, é possível a construção de burocracias interpretativas sem a necessidade dessa ficção totalizante dos modernos. No ecossistema jurídico da Roma antiga, o desafio dos sábios jurídicos (chamados de jurisprudentes) era diferente da tarefa dos juristas modernos. Não se tratava articular unitariamente um conjunto imenso de elementos normativos (leis, decisões, pareceres, etc.), que precisam ser interpretados e compatibilizados, para garantir um grau razoável de previsibilidade na atuação dos magistrados. O desafio dos antigos jurisprudentes romanos era diverso, na medida em que lidavam com uma ordem jurídica de alcance e complexidade limitadas.
Como afirma Tercio, “a jurisprudência romana se desenvolveu numa ordem jurídica que, na prática, correspondia apenas a um quadro geral” (Ferraz Jr., 1980), composto por orientações pontuais e lacunosas, que não tinham qualquer pretensão de oferecer respostas jurídicas consistentes a todos os conflitos sociais possíveis. Naquele contexto, a aplicação do direito se aproximava do que ainda hoje ocorre com os julgamentos éticos e políticos, por meio dos quais avaliamos as condutas concretas, usando como parâmetros as genéricas orientações que nos são oferecidas pelos princípios morais consolidados em nossas culturas.
Não deve causar espanto que a ideia romana de jurisprudência tenha se aproximado da noção grega de phronesis, que designa precisamente a capacidade de extrair consequências concretas a partir de um conjunto abstrato de orientações gerais. O ponto máximo da phronesis é o exercício da equidade, que envolve a identificação dos limites das diretrizes contidas nas regras gerais, que podem estabelecer consequências injustas para alguns casos particulares, o que exige das pessoas prudentes a opção por um tratamento excepcional. A equidade é a capacidade de produzir justiça nos casos em que a aplicação da regra geral conduziria a soluções absurdas. Não cabe às pessoas prudentes, na ética ou no direito, servirem como aplicadores irrefletidos de um conjunto de diretrizes genéricas, que podem ser justas para a maioria dos casos, mas que fatalmente produzem injustiças quando aplicadas a contextos particulares.
Na base dessa concepção está a noção de que existe uma sobreposição entre uma ordem natural, que contém alguns princípios de justiça muito genéricos, e várias ordens sociais, que instituem regras mais específicas, mas que deveriam ser coerentes com a justiça natural. A tensão entre a justiça natural e as determinações sociais exige que a aplicação das normas seja feita a partir de um esforço de compatibilização, que valorize a aplicação das diretrizes normativas definidas pelas autoridades políticas, mas sem perder de vista a necessidade social de que elas sejam percebidas como compatíveis com a ordem natural subjacente. A phronesis está sempre nessa compatibilização de diretrizes paradoxais, que não dá margem à emergência de protocolos predefinidos de atuação.
A valorização clássica da prudência deve nos servir como lembrança de que todo sistema jurídico precisa promover constantemente esse tipo de compatibilização, visto que a estabilidade social depende do reconhecimento de que as instituições que decidem sobre a vida das pessoas atuam de acordo com os valores que uma cultura considera como centrais. A aplicação concreta de sistemas normativos baseados em diretrizes amplas e lacunares dependem de uma complementação hermenêutica intensa, e o pensamento jurisprudencial dos romanos foi desenvolvido justamente “como uma espécie de mediação entre a relativamente parca legislação e a necessidade de se construírem regras intermédias que possibilitassem a solução dos conflitos concretos” (Ferraz Jr., 1980).
Em comunidades pequenas, nas quais os conflitos são mediados diretamente pelas lideranças políticas, não existe espaço para a construção de um domínio reflexivo autônomo acerca das regras sociais. Em grandes sociedades, mesmo que haja uma liderança centralizada, a análise dos conflitos sociais concretos exige a atuação concertada de múltiplos polos de autoridade política, o que fatalmente conduz a uma série de divergências que precisam ser processadas. Os desafios de organizar uma sociedade tão complexa como a do Império Romano inviabilizavam processar essas diferenças hermenêuticas a partir do simples recurso a uma liderança central, cuja autoridade não poderia ser contrastada pelos magistrados locais.
Esse é um tipo de contexto sócio-político que propicia a consolidação do reconhecimento de que, apesar de todos os magistrados partirem de uma ordem normativa cuja validade é pressuposta, é legítimo o embate hermenêutico acerca do seu verdadeiro significado. A atuação coordenada desses vários magistrados, que são incumbidos de tomar decisões para os casos concretos, conduz ao gradual desenvolvimento de um discurso que reflete acerca dos resultados produzidos por esta burocracia decisional. Os julgadores precisam observar as decisões anteriores, que não podem ser meramente desconsideradas, mas que tampouco têm autoridade para estabelecer normas obrigatórias. Dentro de um contexto social desse tipo, é previsível a ocorrência de uma gradual sedimentação das categorias que viabilizam a compreensão dessas variadas decisões como concretizações razoáveis da mesma ordem.
A jurisprudência romana não foi o primeiro exemplo em que a solução dos conflitos sociais concretos foi realizada por um amplo grupo de pessoas doutas, que legitimavam sua atividade por meio da referência a uma ordem normativa comum, da qual eles seriam apenas intérpretes. Situação similar já havia ocorrido com os brâmanes da cultura hindu, cujos séculos de atuação na interpretação dos livros sagrados do hinduísmo conduziram ao que pode considerar como uma jurisprudência indiana clássica (Katju, 2010).
O resultado dessa lenta acumulação cultural, que processa divergências interpretativas e políticas, não é necessariamente a construção de uma ordem normativa unificada, como testemunha o fato de que a interpretação do Corão, apesar de partir de um conjunto de textos que permaneceu imutável ao longo de séculos, nunca conduziu à formação de uma interpretação unificada. Na cultura interpretativa islâmica, convivem de forma relativamente pacífica diversas escolas interpretativas, que se voltam a estabelecer os direitos e deveres que podem ser extraídos a partir das orientações jurídicas vagas e lacunares oferecidas pelo Corão. Em todos esses casos, existe um reconhecimento social de que a atividade interpretativa é legítima. Como é previsível na gestão de sociedades complexas, a divergência interpretativa não é apresentada como uma heresia a ser combatida, mas como um aspecto legítimo da própria realização da ordem normativa que todas as pessoas devem seguir e que todos os magistrados devem aplicar.
As experiências políticas do mundo antigo nos sugerem que o estabelecimento de um sentido unificado para a ordem normativa não está ligado a momentos de alta concentração de poder político, nos quais toda divergência pode ser lida como herética ou subversiva. Sistemas políticos centralizados podem operar sob a ficção de que as palavras do chefe são diretamente inspiradas pelas divindades e que todo conflito deve ser remetido à sua apreciação. Todavia, quando sistemas altamente centralizados se tornam também muito amplos, torna-se necessário descentralizar as atividades de governo, incluindo a jurisdição, o que termina por conduzir à necessidade de promover a atuação coordenada de múltiplos magistrados. Isso faz com que mesmo unidades que são nominalmente monárquicas terminem por adotar efetivamente um formato oligárquico, no qual o exercício do poder depende da articulação de múltiplos polos, o que fatalmente conduz ao desenvolvimento de sistemas políticos capazes de processar as divergências políticas e interpretativas que emergem de sua própria efetivação.
Uma característica dos modelos oligárquicos é a de que a unidade não é proporcionada pela lealdade a um líder, mas pelo respeito devido a um sistema cultural, que serve como referência ética e política. Nas oligarquias, mais importante que a autoridade de qualquer dos agentes que a compõem, é a solidez da rede simbólica que liga os vários polos de poder e, com isso, oferece as bases necessárias para que todos os envolvidos se enxerguem como parte de uma mesma ordem. Nas poliarquias contemporâneas, essa situação é radicalizada, pois elas passam da legitimação da divergência hermenêutica a uma legitimação da oposição política, o que torna ainda mais central a ficção de que existe uma ordem simbólica comum, em nome da qual os governos podem exercer a sua autoridade legislativa e judicial.
Em todos esses casos, a estabilidade dos sistemas políticos envolve a constante reprodução da ideia de que existe uma ordem normativa autônoma, à qual todos devem observância (costumes, religiões, direito natural, constituições, direitos humanos, etc.), acompanhada pelo desenvolvimento de mecanismos de processamento das divergências hermenêuticas acerca da interpretação correta dos direitos e deveres de cada pessoa. Tais estratégias permitem que a divergência seja compreendida como legítima, na medida em que se trata de um esforço comum de compreensão, realizado por meio de um constante e respeitoso diálogo entabulado pelos especialistas. Esse diálogo infinito conduz à estruturação de modos discursivos nos quais as divergências podem ser enunciadas, analisadas e decididas.
Esse discurso comum não tem como objetivo substituir a ordem normativa válida por outra, mais precisa e mais detalhada, pois isso ultrapassaria o labor hermenêutico dos juristas. Em um sistema multicêntrico, o reconhecimento de que a divergência interpretativa é inevitável exige a construção de estratégias sociais capazes de processar as divergências, em vez de anulá-las. Todavia, cumpre reconhecer que a situação desses sistemas multipolares é sempre paradoxal, pois a admissão da diversidade interpretativa ocorre simultaneamente ao reconhecimento da necessidade de decidir os casos concretos em tempo hábil. Todo sistema político multipolar precisa ser capaz de decisões, ainda que elas envolvem certo grau de incerteza e de divergência, o que conduz ao desenvolvimento de parâmetros capazes de definir quando uma decisão política ou jurídica pode ser considerada como válida.
No exercício do governo, tendemos a definir procedimentos decisórios e considerar válidas as decisões produzidas por certos rituais de tomada de decisão (eleições, votações, sorteios, plebiscitos, etc.) ou impostas por certas autoridades consideradas legítimas. O que define a validade da decisão governamental não é o seu conteúdo, mas a autoridade própria a certos atores ou processos decisionais. Já no campo propriamente jurídico, ainda que as decisões precisem seguir alguns procedimentos bastante rigorosos, entende-se que a validade da decisão não decorre do processo, mas do seu próprio conteúdo: para não ser um mero exercício de escolha arbitrária, a decisão precisa ser apresentada como uma forma de aplicação da ordem normativa. Essa descrição permite qualificar as decisões jurídicas como um exercício hermenêutico, de interpretação e aplicação, e não como uma opção política.
Embora seja razoável argumentar que os procedimentos jurídicos têm grande influência sobre os resultados dos julgamentos, as decisões jurídicas são justificadas socialmente por meio da declaração de sua fidelidade com relação à ordem normativa que elas afirmam concretizar. Os discursos jurídicos se apresentam como interpretativos e aplicativos, mesmo quando eles envolvem atividades propriamente decisórias e avaliativas.
Nos casos em que esse discurso é manejado por um governo centralizado, as questões jurídicas podem ser resolvidas mediante uma invocação da autoridade governamental, o que termina por gerar uma indistinção entre interpretação e decisão. A teoria jurídica clássica designava esse paradoxo por meio da curiosa expressão “interpretação autêntica”: quando o próprio legislador é incumbido de interpretar os textos que ele produz (ou poderia ter produzido), suas escolhas têm força normativa.
Já nas ordens políticas em que existe alguma forma de poliarquia decisória, torna-se inevitável o desenvolvimento de uma techne propriamente hermenêutica, que organize a complexa tarefa de múltiplos polos de poder tomarem decisões que podem ser compreendidas como aplicações fiéis de uma ordem normativa. Nesse contexto, a atuação concertada e dialogada dessas várias autoridades promove a elaboração do que chamamos de “dogmática jurídica”: um conjunto de critérios que determinam o modo como a ordem normativa deve ser devidamente interpretada e aplicada, possibilitando a formação de um conjunto de decisões que possam ser entendidas como uma aplicação adequada da ordem normativa subjacente.
1.2 Dogmática jurídica
O discurso dogmático parte do pressuposto de que os sistemas jurídicos devem operar de acordo com os parâmetros definidos por uma tradição interpretativa determinada. Melhor dizendo, a dogmática não se apresenta como uma tradição interpretativa, mas como um conjunto de cânones objetivamente válidos de interpretação. Tal como as mitologias se consideram acriticamente como um discurso verdadeiro sobre o mundo, as dogmáticas se percebem como um discurso verdadeiro sobre os modos corretos de realizar uma prática.
O jogo discursivo das variadas dogmáticas termina por apresentar os costumes interpretativos vigentes em determinada comunidade como se fossem a forma objetivamente correta de praticar essa atividade. Esse tipo de discurso conduz a uma curiosa forma de blindagem de suas conclusões: nenhuma confrontação (seja com fatos ou com teorias alternativas) pode abalar a solidez de pressupostos dogmáticos porque a sua validade não decorre da efetiva correspondência com o mundo.
A dogmática é contrafática, no sentido de que a validade de suas afirmações independe de qualquer confirmação empírica dos seus enunciados. Normas publicadas são consideradas conhecidas por todos, inclusive pelas pessoas que não as conhecem. As pessoas consideradas incapazes não podem fazer disposições contratuais válidas, ainda que elas tenham completa consciência de seus atos. As constituições são consideradas manifestação legislativa legítima de um povo, mesmo quando se trata de regras impostas violentamente por um golpe de estado.
Esse descolamento de qualquer factualidade tem origem no objeto próprio da dogmática, que não faz afirmações “sobre fatos empíricos”, que poderia ser testados, mas trata-se de afirmações sobre “direitos e obrigações válidos”, cuja existência somente pode ser medida em termos interpretativos. Os parâmetros de validade jurídica nunca estão nos fatos em si, mas na forma particular como eles são interpretados por uma determinada comunidade de juristas: a verdade dogmática não é uma correspondência com os fatos, mas uma correspondência com as narrativas predominantes em uma comunidade de intérpretes.
O caráter dogmático dos discursos jurídicos os aproxima daqueles produzidos por religiosos, astrólogos e psicanalistas, profissionais cuja techne também conduz à produção de discursos cujo critério principal de avaliação não é baseado em observações empíricas de seus resultados, mas na coerência entre os textos produzidos e os cânones estratificados na comunidade das pessoas que se dedicam a realizar essa própria atividade. Trata-se de atividades hermenêuticas, que processam informações a partir da interpretação e da aplicação de certos parâmetros compartilhados por um conjunto de especialistas. Em todas elas, o prestígio de um ator e o peso de suas palavras é medido pelo reconhecimento dos pares, e não por algum critério empírico.
É evidente que o fato de todas essas atividades serem discursivas e dogmáticas não quer dizer que elas sejam idênticas. Certas comunidades são mais restritas e a sua prática não é estruturada de maneira institucional, o que faz com que não haja a produção de critérios de revisão por pares e de hierarquização de autoridades. Na astrologia, pode haver cânones interpretativos compartilhados, pelo compartilhamento de uma história comum, mas não existe um sistema de autoridades que define a forma correta de interpretar as relações entre o signo e o ascendente. No tarô, espera-se que as pessoas proficientes partam de alguns princípios básicos e que tenham diferenças interpretativas variadas, gerando interpretações colidentes que podem coexistir tranquilamente: se dois tarólogos oferecerem narrativas diversas para a mesma pessoa, caberá ao consultante decidir o que fazer com essas orientações conflitantes.
O mesmo não ocorre no direito ou nas religiões institucionalmente estruturadas, pois a definição da interpretação autoritativa tem impactos sociais diretos. Esses sistemas institucionalizados não compõem apenas uma comunidade hermenêutica, mas constituem realidades culturais capazes de impor suas decisões, o que exige delas a produção de um sistema unificado. Os psicanalistas evitam cuidadosamente a instituição desse tipo de autoridade, reafirmando que sua atividade não admite institucionalização e que, portanto, não há qualquer grupo que possa ter o domínio da interpretação psicanalítica autêntica e válida.
A inexistência de uma autoridade constituída faz com que a psicanálise fique sempre refém de um discurso de origens, que liga a autoridade de um novo psicanalista à autoridade daquele que o formou, sendo que essa ligação em algum momento deve remontar a Freud, o psicanalista fundamental, cuja autoridade profética não pode ser questionada. Os juristas não têm esse tipo de fixação com uma autoridade original, pois o centro de seu discurso está em outro lugar de validade: a vigência de um sistema jurídico, que não se confunde com a validade das categorias hermenêuticas desenvolvidas por uma pessoa, ou por um grupo.
O discurso judicial é sempre um discurso de fundamentação, que apresenta argumentos voltados a justificar que a decisão tomada é compatível com a ordem normativa que ela deveria concretizar. Os pretores romanos não eram propriamente juízes, pois eles eram autoridades incumbidas da fixação de padrões normativos adequados, a partir de sua prudência, enquanto os juízes têm como função social tomar decisões que apliquem, de modo impessoal, uma ordem normativa.
O critério fundamental para aferir a validade de suas decisões não é a “verdade”, mas a “fidelidade”: pouco importa se as normas que ele aplica são verdadeiramente válidas, visto que a função política da magistratura é a de garantir a aplicação concreta do ordenamento normativo a que estão subordinados. A dogmática jurídica é o discurso socialmente desenvolvido para avaliar esta lealdade à ordem estabelecida, possibilitando diferenciar as aplicações fiéis do sistema normativo daquelas atuações ilegítimas, que são tomadas “em nome” de um sistema normativo, mas que não se constituem verdadeiramente em uma concretização da ordem jurídica vigente.
Uma das formas mais antigas de discursos dogmáticos é a sacralização do precedente, segundo a regra do stare decisis et non quieta movere (literalmente, mantenha-se a decisão e não se mude o que está estabelecido). Nesse modelo, as decisões judiciais anteriores são consideradas como dotadas de autoridade cogente, o que faz com que o julgamento dos casos presentes precise seguir não apenas as disposições normativas, mas também as razões enunciadas pelos magistrados que decidiram anteriormente questões semelhantes. Trata-se de uma estratégia conservadora de promoção de fidelidade, na medida em que proporciona que casos atuais sejam julgados de forma idêntica a casos semelhantes já apreciados. O ponto fraco dessa abordagem é que o critério de adequação é deslocado do sentido normativo para a semelhança factual, o que engendra um debate infinito acerca da efetiva similaridade entre os casos julgados e os paradigmas decisórios invocados.
Como todos os casos são particulares, sempre será possível argumentar que a distância existente entre eles justificaria um tratamento distinto. Mulheres e homens são diversos, assim como crianças e adultos, estrangeiros e nativos, juízes e delegados... existem argumentos para tratá-los igualmente, enquanto pessoas ou profissionais do direito, mas todo igualamento é desafiado por argumentos que afirmam a necessidade de tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. O sistema de precedentes deságua em uma teoria da (des)igualdade, que regule a prática do distinguish, ou seja, da operação pela qual se define se um caso é suficientemente diverso do paradigma, para que seja viável pretender para ele uma regulação distinta da regra geral definida no precedente.
Essa lógica do precedente não se coaduna bem com teorias baseadas na interpretação legislativa. O enfoque nos textos normativos estimula que os juristas, em vez de se concentrarem na identificação de similaridade entre as situações julgadas, se engajem na tentativa de identificar a verdadeira interpretação das normas aplicadas. Nesse contexto, o precedente decisório não adquire força normativa autônoma, pois ele é entendido meramente como a aplicação de uma norma, que pode ter ocorrido de forma tanto fiel como infiel. Para as teorias normativas, a existência de uma decisão precedente não representa garantia de que ele interpretou corretamente o direito vigente.
Teorias jurídicas baseadas na ideia de que as normas têm um conteúdo obrigatório não conferem tanta centralidade à homogeneidade decisória. Mais do que garantir que as decisões novas serão convergentes com as antigas, trata-se de garantir que todos os casos concretos sejam resolvidos por meio de uma aplicação tecnicamente adequada do sistema jurídico, mesmo que para isso seja necessário se distanciar de interpretações anteriormente aplicadas.
A operação coordenada de múltiplos magistrados que se apresentam como concretizadores de um mesmo sistema normativo termina por estabelecer uma situação curiosamente circular. Por um lado, a articulação das autoridades é feita sob o pressuposto de que existe uma ordem normativa unificada, o que faz com que as variadas divergências representem um tensionamento de versões diferentes acerca dessa ordem subjacente. Porém, não há uma diferença ontológica entre o objeto descrito e as variadas descrições. Mesmo nos casos em que existe um conjunto canônico de textos de validade indiscutível, não é possível realizar uma observação direta dos seus significados, tendo em vista que o sentido dos textos somente pode ser acessado por meio de cada uma das versões hermenêuticas que apresentam a sua significação.
Nesse ponto, a prática jurídica se distancia da prática de médicos e engenheiros, que são duas das techne basilares do mundo contemporâneo. Mesmo que exista um debate intenso acerca das conveniências de determinados tratamentos, os médicos têm a possibilidade de fazer testes empíricos, que avaliem os resultados decorrentes das intervenções defendidas pelos especialistas que se contrapõem. A eficiência dos produtos desenvolvidos pelos engenheiros é medida em um confronto com a realidade: um avião é bom na medida em que ele voa, uma arma é eficiente na medida em que tem alta capacidade de incapacitar exércitos. No caso do direito, qual seria o critério de eficiência a partir do qual poderíamos avaliar a prática decisória de um magistrado?
No caso das atividades jurídicas, não existe essa possibilidade de testar as afirmações sobre a validade do direito a partir de testes empíricos, pois o significado correto de um texto é um objeto linguístico, que somente existe enquanto parte do jogo discursivo que move uma comunidade. Apesar disso, são desenvolvidos critérios para avaliar se as decisões jurídicas consistem ou não em um exercício adequado da techne jurídica, que se manifesta justamente na tomada de decisões adequadas.
A função social reconhecida aos juízes antigos e contemporâneos nunca foi a de tomar decisões que bem recebidas ou incontestadas, mas a de aplicar adequadamente os parâmetros definidos no ordenamento jurídico, dando a cada pessoa o que lhe é devido. É claro que a situação de um antigo pretor romano, que tinha como parâmetros jurídicos válidos um conjunto de prescrições esparsas que formavam apenas um quadro geral (Ferraz Jr., 1980), dentro do qual as suas decisões deveriam ser tomadas de modo prudente, é diversa da situação de um juiz contemporâneo, que precisa articular suas posições como efetivadoras de uma quantidade imensa de leis, regulamentos e precedentes judiciais.
A atividade dos pretores romanos era mais próxima da phronesis descrita por Aristóteles, consistente na capacidade de tomar decisões concretamente justas, a partir de princípios relativamente vagos e absolutamente lacunares. Em contraposição, os magistrados atuais enfrentam um desafio diferente, que é o de compatibilizar nos casos concretos a série imensa de disposições legislativas, administrativas e jurisprudenciais que é produzida pela imensa burocracia de um estado contemporâneo. O excesso de referências legislativas também exige uma phronesis, mas a necessidade de lidar simultaneamente com tantas diretrizes representa um desafio epistêmico particularmente acentuado, dado que a techne judicial precisa levar em conta uma quantidade de elementos que é claramente incompatível com a brevidade, não apenas de sua vida, mas dos prazos em que a sua atuação precisa ser realizada para continuar sendo oportuna.
1.3 A techne dos advogados
O que advogados tipicamente fazem é estruturar argumentos que seguem os parâmetros definidos pela comunidade dos juristas e consolidados em uma determinada tradição interpretativa. Esses parâmetros dogmáticos não são descrições empíricas de como os juízes decidem, mas são orientações normativas acerca de como eles deveriam decidir.
O que leva os advogados a formular assim as suas petições é a crença de que certas formas de construir seus pedidos os tornam aptos a obter providências judiciais que atendam a seus interesses. Esse fenômeno indica que a existência da dogmática, enquanto discurso canônico, não afasta a relevância prática da techne advocatícia. Uma coisa é saber quais são as condições da ação e os pressupostos processuais; coisa diversa é saber escolher em que ordem serão feitos os pedidos alternativos ou saber quando é adequado optar por uma ação cautelar preparatória.
Da parte dos advogados, existem várias opções estratégicas que não se relacionam com a interpretação do direito e que escapam inclusive da retórica argumentativa, tais como a escolha dos tipos de letra com que a petição será impressa, a conveniência em arguir a suspeição de um magistrado ou a adoção de abordagens centradas em questões preliminares, tendo em vista que os juízes parecem preferir extinguir processos a julgar o seu mérito.
A techne advocatícia é baseada em um conhecimento relativamente seguro dos modos como os juízes efetivamente decidem, o que aproxima a sua atuação daquela tradicionalmente feita por médicos e engenheiros, que também exercem ofícios voltados a realizar uma prática eficaz. Todavia, devemos ter em mente que os movimentos que defendem uma prática baseada em evidências acentuam justamente o limite dessas abordagens tradicionais, excessivamente dedutivas e confiantes nas intuições bem treinadas de um profissional experiente (Guyatt, 1992). Os advogados têm uma série de crenças sobre as formas eficientes de produzir uma petição ou uma defesa, mas elas raramente decorrem de uma pesquisa observacional, o que torna esse conhecimento muito sujeito aos vieses de seleção e de confirmação, que marcam as concepções que uma pessoa desenvolve sobre o mundo, a partir do olhar sempre limitado de sua própria experiência. Embora seja provável que boa parte dessas concepções compartilhadas seja bastante sólida, outra parte certamente envolve preconceitos cuja concretização conduz a práticas profissionais pouco efetivas.
No caso dos advogados, a validade dessas percepções compartilhadas pode ser avaliada empiricamente, visto que é possível mensurar a eficácia das estratégias utilizadas. Todavia, essa postura estratégica perante o direito mostra-se inviável no caso dos magistrados, cuja atuação é incompatível com essa perspectiva externa: o discurso dos juízes é comprometido com a existência de uma solução a ser descoberta e com a existência de critérios objetivos para justificar uma decisão. A função dos juízes modernos é atuar como se eles não estivessem tomando uma decisão, mas simplesmente implementando as decisões políticas que foram tomadas pelos legisladores. Resta claro que o discurso dogmático é realizado a partir da ótica dos juízes, que observam o direito como um conjunto de textos objetivamente válidos e que lhes cumpre aplicar com fidelidade, sem lhes moderar o rigor.
Essa peculiar conformação da atividade jurídica faz com que a techne dos advogados seja curiosa: eles devem ser capazes de tomar decisões eficazes, mas a sua eficácia não é medida com relação a fatores naturais objetivos, e sim com relação à sua efetiva capacidade de promover a adoção de medidas judiciais (ou administrativas) que estejam alinhadas com os interesses de seus clientes. Esse tipo de promoção é feito tanto por meio da escrita de petições, mas também por orientações negociais, voltadas a conceber contratos ou condutas hábeis a receber um tratamento jurídico favorável.
Por mais que esse caráter retórico da atividade advocatícia pareça diferenciá-la muito do que fazem engenheiros e médicos, devemos ter em mente que boa parte da atuação desses profissionais também é guiada pela necessidade de convencer os seus pares. Embora o objetivo final da engenharia seja o desenvolvimento de objetos complexos, a consecução dessa finalidade depende da realização prévia de um planejamento, que indique as formas pelas quais seles serão confeccionados. Antes de construir produtos inovadores, todo inventor precisa desenvolver projetos indicando o que se pretende construir, definindo os materiais a serem usados e explicando os processos que se pretende utilizar. Projetos não voam, não matam e não servem como moradia: eles são entidades linguísticas, cuja utilidade é fornecer orientações para quem vai implementá-los.
É certo que, para avaliar a eficiência de um produto, precisamos confrontá-lo com a realidade e verificar se ele é efetivamente capaz de atingir suas finalidades. Porém, toda atividade prática precisa lidar com o fato de que tomamos decisões antes de saber exatamente quais serão os seus resultados. Embora seja evidente que são bons os projetos aptos a orientar a confecção de produtos adequados, precisamos ter parâmetros capazes de avaliar os projetos antes de sua execução.
Os testes empíricos dos produtos geram a possibilidade de uma avaliação retrospectiva dos projetos, mas precisamos utilizar também critérios de avaliação prospectiva, que nos possibilitem escolher quais serão os planos que nos dedicaremos a concretizar, o que envolve o delineamento de cenários e a previsão de consequências plausíveis. Embora os testes sejam nosso critério mais sólido para avaliar a eficácia dos projetos implementados, os custos envolvidos em cada tentativa fazem com que precisemos desenvolver parâmetros para determinar quais são os planos que vamos financiar e implementar, possibilitando que eles tenham resultados práticos a serem avaliados.
É claro que ninguém colocaria no mercado um novo modelo de avião ou de vacina sem fazer testes exaustivos, nos quais é previsível a necessidade de produzir e testar uma série de protótipos, de combinações ou de dosagens. Não é por acaso que Santos Dumont conseguiu fazer voar o 14 bis depois de mais de uma dezena de tentativas frustradas, mas altamente elucidativas. Quanto maior a complexidade do desafio, mais irreal é a expectativa de resultados ótimos desde a primeira versão executável do projeto. Todo novo projeto aeroespacial envolve um investimento gigantesco em protótipos que fracassarão, mas cujos resultados oferecerão informações preciosas sobre os elementos do projeto que precisam ser aperfeiçoados.
No caso da engenharia, o que define uma projeção como aceitável é o fato de ela seguir certos parâmetros consolidados em uma comunidade de engenheiros, cuja experiência acumulada permite estabelecer parâmetros mínimos que um projeto deve ter, para que seja previsível a sua viabilidade prática. Assim, os parâmetros de viabilidade de um projeto de engenharia não são físicos, mas retóricos, pois eles envolvem a capacidade de persuadir uma comunidade acerca dos méritos de uma proposta. Nesse ponto, engenheiros e médicos se aproximam dos juristas, pois a avaliação dos projetos depende de sua confrontação com as concepções dominantes, com os padrões estratificados, e não com a própria realidade. Isso acontece porque os projetos também são artefatos, mas de uma natureza especial: trata-se de artefatos linguísticos, de discursos modulados para interferir nas crenças e nas práticas de um determinado grupo social.
Os juristas também produzem artefatos linguísticos cuja eficiência é mensurada em termos de sua capacidade de serem apreciadas positivamente por seus pares. Contudo, há uma diferença fundamental entre essas atividades: enquanto médicos e engenheiros produzem estratégias testáveis empiricamente a partir de procedimentos repetíveis, os resultados dos discursos jurídicos estão ligados apenas ao convencimento de outras pessoas. Mesmo que os projetos científicos sejam artefatos linguísticos, sua avaliação não se esgota na apreciação pelos pares, visto que a implementação desses projetos implica um confronto com a própria natureza. Já no caso dos juristas, o único critério para avaliar uma petição ou uma sentença é a sua eficiência retórica.
Seguindo essa intuição, poderíamos considerar que o ajuizamento de uma petição seria uma forma de teste, visto que seria possível avaliar a sua capacidade de gerar resultados práticos. Ocorre que o resultado prático de uma petição é medido em termos de sua apreciação por um magistrado, que acolhe ou não os pedidos, e sabemos que o mesmo requerimento pode ser julgado de modos diferentes, a depender de qual seja o juiz sorteado para analisar a causa. Não há como garantir, no direito, que o mesmo input gere sempre o mesmo output, pois a avaliação por magistrados é uma atividade hermenêutica que depende de uma série de elementos subjetivos.
Por mais que essa particularidade faça com que a decisão de cada petição inicial seja imprevisível, ela não obsta a construção de um conhecimento empírico sobre a eficiência de certos modelos de petição inicial. Tal como ocorre em outras ciências sociais, seria possível adotar uma abordagem estatística, voltada a determinar quais seriam os modelos de petição inicial mais eficientes, para a generalidade dos juízes. Esse tipo de abordagem exigiria a análise de uma multiplicidade de ajuizamentos e julgamentos, na busca de identificar outputs típicos de uma certa intervenção.
Esse tipo de abordagem é comum, por exemplo, na economia: não podemos prever com segurança qual será o impacto de uma elevação de preço em cada ato de compra e venda, mas podemos observar os impactos dessa medida na média mensal de vendas e, com isso, tentar identificar quais seriam os resultados predominantes de certa estratégia de precificação de um produto. Também podemos avaliar os resultados de várias alterações na taxa de juros, para tentar mensurar o seu impacto médio na inflação. Essas abordagens estatísticas consideram que cada relação individual é imprevisível, mas que grandes conjuntos de interações humanas podem seguir padrões identificáveis e, portanto, previsíveis.
A pandemia de Covid-19 tornou todas as pessoas mais conscientes do caráter estatístico do conhecimento sobre saúde. Todos sabemos que não existe uma vacina perfeita, mas que várias das vacinas desenvolvidas possuem capacidade de interferir no curso da doença, conhecimento que é alcançado por meio de amplos testes empíricos, que mensuram o impacto médio da vacinação. Sabemos que um teste de Covid nunca é capaz de nos dizer, com certeza, se temos ou não a doença: mesmo testes altamente confiáveis têm uma margem de erro considerável.
Seria possível que pesquisadores jurídicos adotassem estratégias semelhantes, desenvolvendo conhecimentos a partir de pesquisas empíricas voltadas a identificar a ocorrência de correlações significativas entre determinados aspectos das petições iniciais (tipos de pedidos, argumentos utilizados, fontes de impressão, partes envolvidas, etc.) e as decisões judiciais que as apreciam. Assim como os médicos podem pode testar empiricamente os tratamentos que ele considera promissores, advogados e juízes poderiam testar empiricamente as estratégias argumentativas que eles desenvolvem e utilizam.
Porém, não é assim que a prática jurídica é operada. Advogados não fazem pesquisas empíricas sobre a efetividade de suas petições nem fazem escolhas estratégicas baseadas em pesquisas empíricas realizadas por outros investigadores. O ponto relevante a ser ressaltado é que os advogados poderiam pautar suas condutas por esse tipo de conhecimento empírico, mas não é essa a forma usual de sua prática contemporânea, o que torna legítimo questionar os motivos pelos quais avançaram com tanta força os movimentos pela medicina ou pela gestão baseada em evidências, enquanto o direito continuou sendo uma prática meramente doutrinária e prudencial.
Uma possível chave de compreensão seria a dificuldade acerca da produção de um saber jurídico baseado em evidências, construído a partir da formulação e da execução de testes empíricos. O conhecimento científico opera do desenvolvimento de saberes cada vez mais capazes de resistirem a testes que avaliem se as suas previsões sobre a empiria se confirmam ou não. O reconhecimento por uma comunidade é apenas parte do jogo da ciência, visto que a veracidade dos modelos explicativos produzidos pelos cientistas está sempre sujeita a testes empíricos.
O caráter estável da natureza permite que a formulação de novos testes resulte em uma ampliação do repertório de conhecimentos, o que gera um saber cumulativo acerca da natureza. No caso do direito, o caráter cumulativo dos conhecimentos é limitado pelo fato de que o objeto do conhecimento está em constante mutação. A caracterização mais radical desse fato é dada pela célebre afirmação de von Kirchmann, em uma conferência de 1847 intitulada Da falta de valor da jurisprudência como ciência: “ao converter o acidental em seu objeto, a ciência mesma se torna acidental: três palavras retificadoras do legislador e bibliotecas inteiras se convertem em lixo [Makulatur] (Kirchmann, 2011). A estabilidade da natureza permite que haja valor em uma ciência que se desenvolve a passos lentos, mas seguros, no esclarecimento de relações que demandam um longo e penoso trabalho de elucidação. No caso do direito, quando o pesquisador compreende adequadamente o seu objeto, depois de anos de esforço, a realidade que ele buscava descrever já se encontra fatalmente transformada (Kirchmann, 2011).
No caso do direito, a acumulação de conhecimentos a longo prazo é limitada pela constante alteração dos objetos descritos, ressaltada por Kirchmann, e também pela alteração constante dos auditórios que as avaliam. Por outro lado, esse mesmo desafio é enfrentado também pela administração e pela economia, que também lidam com contextos mutáveis e modelos que não têm aplicação de longo prazo, por serem dependentes dos contextos históricos e sociais nos quais se inserem. Essa consideração sugere que as percepções de Kirchmann se relacionam com a pretensão da dogmática de ser considerada uma ciência dos sentidos juridicamente válidos, o que seria uma construção efetivamente estranha, dado que esse não seria um objeto empírico, exceto sob a suposição contrafática de que os juízes atuam conforme as regras do seu próprio discurso.
Visto da perspectiva dos juízes, não é possível construir uma ciência jurídica observacional, pois não há teste empírico possível para o verdadeiro sentido do direito. Porém, visto da perspectiva dos advogados, que podem propor testes empíricos, seria viável desenvolver um conhecimento científico, ainda que de escopo limitado pela sua inserção histórica e pela eficácia contextual de suas intervenções práticas.
1.4 Dogmática e ciência
Antes de explorar as possibilidades de uma ciência empírica do direito, fundada em pesquisas observacionais, devemos ressaltar que, por mais que o conhecimento científico seja uma episteme, ele é produzido por uma techne específica, que guia as atividades dos pesquisadores.
Os cientistas realizam atividades práticas voltadas a testar empiricamente suas intuições, o que exige a tomada de uma série de decisões estratégicas. Quando define um projeto de investigação, cada pesquisador precisa resolver uma infinidade de questões que são práticas, e não teóricas.
Utilizarei bases de dados existentes ou farei entrevistas para identificar as opiniões prevalentes em uma comunidade? Adotarei uma abordagem quantitativa ou qualitativa? Qual tamanho de amostra equilibra a solidez dos possíveis resultados com os custos que posso pagar e com o tempo disponível?
Essas são escolhas estratégicas, movidas por projeções acerca do benefício de cada opção metodológica e por expectativas de uso eficiente dos recursos disponíveis, especialmente do tempo. Como ressalta Lyotard, é preciso abandonar a ideia de que o conhecimento é descoberto e reconhecer claramente que o conhecimento é produzido por meio de uma atividade bastante onerosa (Lyotard, 2009). No atual estágio do saber humano, somente conseguimos produzir conhecimentos inovadores por meio da mobilização intensiva de recursos cuja disponibilidade é muito limitada, como a competência de profissionais especializados e a disponibilidade de laboratórios excepcionalmente caros.
Trata-se também de recursos que são excepcionalmente concentrados nos países mais ricos, que são justamente aqueles beneficiados pela proteção jurídica dos copyrights, que garantem a manutenção desse sistema voltado a garantir a rentabilidade do capital que financiou as pesquisas (Mattei e Nader, 2008). O conhecimento científico, desenvolvido por meio de pesquisas, tem como requisito fundamental uma política de financiamento público, que custeie diretamente ou incentive a sua produção, e que ofereça garantias sólidas de retorno financeiro para quem atua nessa atividade essencial para a riqueza das nações contemporâneas.
Portanto, quando discutimos a possibilidade de desenvolver um conhecimento científico acerca do direito, não podemos ignorar que esse tipo de conhecimento ainda é muito incipiente e que a produção de uma episteme jurídica exige tanto a formação de profissionais especializados na realização de investigações empíricas quanto o financiamento das atividades de pesquisa. Todavia, como ocorre com todo investimento público ou privado, esse tipo de estrutura investigativa somente alcança níveis de excelência nas áreas em que existe uma boa relação de custo-benefício: o custo gigantesco das pesquisas científicas, tanto em termos de tempo como em termos de capital, precisa ser compatível com os benefícios sociais gerados pelo conhecimento produzido.
No campo do direito, devemos reconhecer que os custos da pesquisa científica talvez não compensem seus eventuais benefícios. A hipótese da qual partimos é a de que as estruturas do discurso dogmático são capazes de produzir uma prática relativamente consistente, dado que a atuação conjunta de um grande número de magistrados tende a construir um discurso dogmático que permite a articulação de suas práticas individuais em uma atuação coordenada. O fato de que os juízes tendem ser sensíveis aos argumentos dogmáticos faz com que os advogados sejam capazes de alcançar níveis razoáveis de eficiência por meio da estruturação de argumentos dogmaticamente consistentes.
É claro que todo advogado tempera a dogmática com uma série de escolhas estratégicas, mas elas não são baseadas em evidências científicas, ou seja, em observações empíricas cuidadosas e rigorosos testes de hipóteses. Os conhecimentos que movem essa modulação da dogmática provêm da experiência prática dos advogados, cuja longa vivência permite a construção de um repertório individual de intuições baseadas em sua experiência pessoal e também no senso comum partilhado pelos outros especialistas. Como os advogados tendem a atuar em nichos bem determinados, as intuições de um profissional experiente podem ser guias suficientes para uma ação suficientemente efetiva.
O conhecimento dogmático não esgota a techne dos advogados porque, na prática, a tomada de decisões estratégicas envolve parâmetros que escapam a toda dogmática, como a capacidade que os advogados desenvolvem de prever as decisões de cada julgador, tendo em vista o seu histórico de decisões. A vivência prática de advogados experientes faz com que eles consigam identificar os juízes mais progressistas, os mais rigorosos na aferição de requisitos para concessão de liminares, os mais engajados em certas pautas sociais.
Faz parte da perícia dos advogados adaptar seu discurso a características pessoais dos juízes com que eles interagem ou podem interagir. Faz parte dessa techne saber uma série de coisas que em nada se relacionam com a interpretação do direito, mas que podem ser relevantes para obter um resultado positivo: como se vestir, como falar, a que festas ir para ser reconhecido como um profissional de prestígio. Ao menos a partir de certo ponto da carreira, advogado não é um simples produtor de petições, mas é um profissional que precisa desenvolver um prestígio pessoal, que faça com que ele seja conhecido e reconhecido pelos julgadores, pois os critérios de tomada de decisão não são simplesmente textuais e interpretativos.
Ocorre que todo esse savoir-faire não é codificado em livros acadêmicos nem transmitido nas faculdades de direito, que se concentram apenas na capacitação dos estudantes a produzir um discurso dogmático consistente. Não contamos com uma formação jurídica que produza advogados hábeis e, talvez, não seja essa a vocação dos cursos de direito contemporâneos. Por outro lado, espera-se que os estudantes em formação façam estágios em escritórios de prestígio, onde podem aprender um pouco sobre os saberes práticos do direito.
Do lado dos juízes, por mais que a sua prática discursiva seja orientada pela necessidade de oferecer justificativas dogmáticas para as suas escolhas, devemos reconhecer que os conhecimentos exigidos por uma atuação eficiente também ultrapassam muito o conhecimento da dogmática. O magistrado não é apenas um produtor de decisões, mas é um coordenador de um conjunto de dezenas de pessoas que trabalham com vistas ao processamento dos feitos. Em um mundo ideal, o juiz poderia ser uma pessoa dedicada a decidir os casos que lhe são submetidos, mas no mundo real ele precisa tomar uma série de decisões gerenciais, voltadas a garantir uma apreciação em tempo hábil, administrando os recursos que lhe são disponibilizados de modo eficiente, conduzindo a decisões que equilibrem celeridade e solidez.
A techne dos profissionais do direito não é a mesma, pois os produtos que eles desenvolvem são diversos. Porém, a interação linguística que eles operam, na postulação de intervenções e no julgamento dos pedidos, é realizada de acordo com os códigos linguísticos que são definidos pela dogmática. A necessidade de operar esse discurso comum faz com que os juristas normalmente produzam discursos compatíveis com os pressupostos da linguagem dogmática: os textos têm um significado objetivo, que pode ser apreendido por meio de interpretações adequadas e aplicado de modo objetivo.
O discurso dogmático estabelece as bases de uma ficção operativa: ele confere aos juristas a possibilidade de entender sua atividade como se ela envolvesse a concretização de um conhecimento compartilhado sobre o mundo. Na tradição continental europeia, esse conhecimento era chamado tradicionalmente de jurisprudência, um tempo que parecia justo na medida em que designa a techne dos juristas naquilo que ela parece efetivamente ser: uma prudência, uma capacidade de tomar decisões adequadas, que não pode ser reduzida a uma ciência, ou seja, um conhecimento intelectual acerca de determinado objeto. Segundo Tercio, a jurisprudência correspondia a um modo de “pensar problemas sob a forma de conflitos a serem resolvidos por decisão de autoridade, mas procurando sempre fórmulas generalizadoras” (Ferraz Jr., 1980), que permitissem que o mesmo formato fosse posteriormente aplicada a outros casos.
A consolidação de uma dogmática permite a operação de um milagre hermenêutico: a conversão da prudência em episteme. Quando os critérios dogmáticos se tornam suficientemente estáveis e completos, a prática decisória que eles organizam pode deixar de se ver como o que ela é (a aplicação coordenada de parâmetros decisórios consolidados em uma cultura) e passar a afirmar-se como algo que ela gostaria de ser: uma atividade intelectual voltada a concretizar um conhecimento objetivo acerca de certos objetos que existem no mundo.
Na modernidade europeia, a cristalização de uma dogmática civilista (fundada nas reinterpretações modernas do direito romano contido no Corpus Iuris Civilis) permitiu aos juristas que não se enxergassem apenas como pessoas dotadas de uma techne decisória e retórica, mas como cientistas capazes de conhecer objetivamente o próprio direito. Um direito que não poderia ser reduzido a uma prática decisória, mas que era compreendido como uma decorrência da própria ordem natural do mundo, cristalizada no velho conhecimento dos romanos.
Na época romana, pretores encarregados de aplicar o direito com prudência poderiam ser vistos como pessoas que deveriam se orientar por uma capacidade personalíssima: sua habilidade de determinar direitos e deveres compatíveis com a história institucional e, ao mesmo tempo, capazes de gerar precedentes adequados. Tal como ocorria na tradição bramânica, o exercício da phronesis poderia oxigenar o sistema, viabilizando a sua contínua atualização, sem a necessidade de uma constante atualização legislativa. Uma prática argumentativa consistente pode oferecer o necessário equilíbrio entre o respeito à tradição e a transformação das relações sociais que se mostram desacopladas de seu contexto histórico.
Desde que haja um número relativamente pequeno de magistrados e que eles possam acompanhar relativamente bem a atuação um dos outros, parece viável que esse equilíbrio seja alcançado pela elaboração constante de novas exceções, por via de equidade, mesmo que cada uma dessas pequenas rupturas se caracterize por uma demanda especial de justificação. Qual seria o motivo pelo qual o caso julgado merece uma solução particular? Que tipo de nova regra, aplicável às situações futuras, seria aberta pelo reconhecimento dessa excepcionalidade? O fato de que os múltiplos magistrados falam em nome de um sistema simbólico único faz com que cada afloramento de equidade exija uma readequação hermenêutica de todo o sistema. A equidade é necessária para evitar absurdos, mas ela própria é uma fonte potencial de absurdos, o que faz com que a sua aplicação deva envolver sempre o comedimento reflexivo que os gregos chamavam de phronesis.
No discurso da modernidade, a legitimidade do sistema de justiça não poderia ser baseada na capacidade pessoal de advogados e magistrados, pois as inspirações agostinianas dos modernos impediam essa confiança na intuição modelada por uma longa experiência. Essa experiência também cristalizava preconceitos e naturalizava opressões, pois ninguém é bom juiz acerca de seus próprios princípios e convicções. A modernidade tentava equilibrar a confiança em uma ação racional dos indivíduos com o reconhecimento de que a atuação articulada de múltiplos magistrados somente seria efetiva na medida em que eles se limitassem a aplicar objetivamente uma ordem jurídica objetivamente válida.
No discurso anglo-saxão, a autoridade do direito continuava sendo baseada na respeitabilidade de uma tradição, que era renovada a cada decisão de common law, com sua afirmação reiterada da validade dos precedentes. Nesse mundo, o direito continuou sendo tratado como techne, como a capacidade de produzir petições e decisões adequadas, a partir de um conjunto de precedentes. No direito codificado da modernidade continental europeia, não havia uma tradição a ser perpetuada, mas uma tradição a ser substituída por novos sistemas de direito legislado. Nesse âmbito, o desafio jurídico foi bastante modificado: como é possível manter um sistema de decisões consistentes, previsíveis e seguras, se a única referência objetiva é um texto legislativo cujos limites são amplamente reconhecidos?
A resposta, nesse caso, nada teve de inovadora: era preciso restabelecer uma tradição interpretativa, mas que seguia a estrutura das comunidades hermenêuticas que se criaram em torno de textos sagrados. Na idade média, o saber dos juristas era o de avaliar um complexo conjunto de fontes, na busca de tomar as decisões que fossem adequadas, o que exigia uma peculiar prudência, fundada nas habilidades retóricas do trivium. Na idade moderna, esse caráter prudencial e retórico pareceu demasiadamente inseguro, já que se tratava de libertar o direito da tradição medieval, e instaurar um direito legislado proveniente da autoridade do legislador.
É evidente que nenhum sistema afasta totalmente a equidade, a reinterpretação e os outros mecanismos que viabilizam uma alteração interna das ordens simbólicas. Em nome da sua devida aplicação, os intérpretes fatalmente introduzem alterações em um sistema. Cada aplicação pontual contribui para deslocar o padrão decisório geral, e esse caráter relativamente instável das atividades hermenêuticas é inevitável. Todavia o comprometimento moderno com a tripartição dos poderes e com a definição dos legisladores como representantes da soberania, envolveu a produção de um conhecimento jurídico que buscou afirmar-se como episteme, e não como prudência: as decisões dos juízes deveriam ser medidas em termos de sua fidelidade ao sistema normativo, e não à sua capacidade de realizar uma justiça, cuja devida caracterização não lhes era confiada.
1.5 Uma ciência dogmática do direito?
Devemos reconhecer que, tal com o direito, a ciência envolve uma prática discursiva que também tem a sua techne dogmática, ligada aos critérios pelos quais podemos considerar que uma certa afirmação tenderia a sobreviver, ou não, ao confronto com a prática. Muito embora o objetivo imediato de juristas e cientistas seja o de construir narrativas convincentes perante seus pares, esses dois grupos operam estruturas retóricas bastante diversas, visto que os argumentos aptos a convencer os médicos de que uma certa vacina contra Covid-19 é eficiente são muito diversos daqueles capazes de persuadir um grupo de juízes que uma determinada interpretação constitucional é correta.
No caso de médicos e engenheiros, o sistema de avaliação de suas teses é a produção de um teste empírico, capaz de mensurar as consequências práticas de uma determinada estratégia. O convencimento dos pares é muito relevante para obter a autorização e o financiamento para a realização de um teste, bem como para definir a solidez das conclusões que se busca extrair de uma observação empírica. Porém, como as afirmações de médicos e engenheiros têm por objeto algumas relações físicas objetivamente existentes, a avaliação concreta de diagnósticos e de propostas de intervenção depende de uma forma de confronto com a realidade.
Já no caso dos juristas, suas teses não têm por objeto alguma forma de consequência empírica mensurável, mas têm por objeto a definição de direitos e deveres cuja única existência é como significados de um discurso social. Não existem direitos e deveres no mundo físico e, portanto, não é possível testar empiricamente afirmações deônticas. Tal como no caso dos religiosos e dos psicanalistas, o desafio da formação de peritos está na habilitação dos estudantes para produzir discursos que serão percebidos como sólidos pelos seus pares e que, nessa exata medida, serão incorporados aos critérios utilizados para avaliar a solidez de novas propostas.
Embora esses critérios sejam todos linguísticos, existe uma dimensão empírica na atividade de juristas e psicanalistas, pois a produção de certos discursos pode (ou não) interferir no comportamento das pessoas que se deseja mobilizar. Existe uma eficiência prática dos discursos que não é medida por critérios semânticos (sua capacidade de cumprir os critérios de validade estratificados em um campo), mas por critérios pragmáticos (sua capacidade efetiva de interferir no comportamento de outras pessoas).
Ocorre que os critérios de adequação semântica não são necessariamente convergentes com os critérios de eficiência retórica. Uma análise de adequação semântica envolve um raciocínio hermenêutico e dedutivo, capaz de avaliar em que medida certas proposições operam adequadamente os conceitos dominantes em um campo e os cânones interpretativos estratificados. No centro desse debate está a atribuição adequada de significados, a qualificação jurídica de certos atos, a determinação das consequências jurídicas de determinadas ações.
A eficiência retórica aponta para uma análise pragmática: quais são os tipos de argumentos que tendem a ser reconhecidos? Essa abordagem é movida por uma desconfiança de que os critérios semânticos dos juristas são operados de modo enviesado, com uma distância razoável entre o que se diz e o que se faz.
Quando o comportamento dos juristas pode ser antecipado por meio de uma análise semântica (que, por exemplo, considere que é previsível que uma decisão judicial imponha uma penalidade prevista na norma), a convergência entre discursos e práticas faz com que análises meramente semânticas possam se mostrar como eficientes na prática argumentativa. Essa é a aposta típica do que a tradição europeia chama de “ciência do direito” ou de “metodologia jurídica”: a tese de é possível identificar padrões semânticos de atribuição de significado e de que esses padrões são guias adequados para a prática jurídica.
A eficiência prática desse tipo de discursos depende de uma efetiva convergência entre o que se diz e o que se faz, um tipo de cenário que depende da existência de uma cultura jurídica estratificada e de uma comunidade jurídica que a aplique com grande fidelidade, resultando no que a própria comunidade dos juristas chama de “segurança jurídica”: a presença de um alto grau de previsibilidade no comportamento dos atores do sistema de justiça.
A segurança jurídica é um curioso artefato cultural. Por um lado, ela parece ser o produto da estratificação de um “sistema jurídico”, cuja densidade cultural é tão grande que ele passa a ser considerado como um sistema social autônomo, com regras próprias de atribuição de significado, capazes de manter seus resultados previsíveis mesmo em casos de tensionamento político e de gerarem soluções contrárias à opinião pública. Por outro lado, a segurança jurídica parece ser causa dessa própria estratificação, na medida em que a autonomia do direito decorreria da relativa previsibilidade de que os juristas atuarão de acordo com os critérios semânticos do direito, ou seja, de que os comportamentos corresponderão aos discursos.
A convergência entre o que se diz e o que se faz gera um cenário dentro do qual pôde emergir a peculiar noção de “ciência do direito”: um conhecimento que pretende prever os resultados de um sistema político a partir de uma abordagem semântica, tratando aquilo que os juristas dizem como se os conceitos estratificados na cultura jurídica correspondessem a determinados objetos no mundo, tais como o sentido correto da norma ou o jus puniendi do Estado.
Essa convergência entre comportamentos e discursos é sempre limitada, visto que sempre há pontos variados nos quais aflora um descolamento. O princípio da igualdade tende a falhar no tratamento das minorias ou dos migrantes. A liberdade tende a ser interpretada dentro dos quadros de uma cultura hegemônica, que prevê restrições específicas aos comportamentos das mulheres. A aplicação regular dos precedentes tem formas variadas de criar situações excepcionais para se acomodar concepções e comportamentos estratificados em uma cultura, cuja vedação seria sentida como socialmente absurda. Assim como a conjugação dos verbos irregulares, que são deformados pelo uso linguístico, a multiplicidade de exceções jurídicas não segue um padrão claro, embora seja sentida como “bom direito” para ouvidos bem treinados.
Podemos catalogar as regras sobre a devida conjugação dos verbos irregulares em português, ou em francês, mas essa sistematização não pode ser confundida propriamente com uma ciência sobre a natureza. Trata-se de um conhecimento acerca de certos parâmetros linguísticos, de preferências estilísticas que afloram de um uso reiterado e longo dessas linguagens.
Se um jurista oferecesse uma descrição sistemática do modo pelo qual os juízes constroem seus argumentos para enfrentar os casos regulares e irregulares, esse modelo explicativo poderia ser considerado científico: um modelo que trata de um comportamento específico. Porém, não é esse tipo de abordagem descritiva que constitui a prática atual: os juristas pressupõem que sua própria atividade pode ser lida como a expressão de uma ordem normativa imanente, que seria interpretada pelos seus atos. Esse pressuposto contrafático é o constituidor da dogmática jurídica, cuja descrição sistemática passou a ser apresentada como uma ciência do direito.
Um cientista pode descrever quais são os padrões linguísticos dominantes em certo grupo, em um dado tempo. Porém, ele não pode confundir esses padrões, sempre contextuais e historicamente dados, como o modo correto de se expressar em um idioma. Está correta a expressão erudita ou a popular? Ao cientista somente é dado descrever e explicar o que fazemos, sem se pronunciar sobre o que deveríamos fazer, para sermos corretos, bons ou justos.
Aqui devemos fazer um esclarecimento: este é o conceito positivista de ciência, entendida como uma construção de modelos explicativos acerca de fenômenos observáveis. A noção mais antiga de ciência atribui a nossa racionalidade a capacidade de descobrir as verdades íntimas das coisas, as noções naturais de justiça e equidade, que permitiriam que uma techne se apresentasse também como prudência. As antigas noções de ciência eram inspiradas pela noção de que nossa racionalidade não era capaz apenas de reconhecer relações de causalidade, mas também seria capaz de identificar os critérios objetivos de bem. A verdadeira razão seria o que os teólogos católicos chamam de recta ratio, a racionalidade que se exerce a partir dos parâmetros morais objetivos, que ela própria deveria ser capaz de reconhecer.
Quando falamos hoje em dia de uma ciência do direito, o mais comum é que nos refiramos a esse ideal da dogmática, que pretende ideologicamente se despir de seu caráter prudencial e decisório, e assumir os ares de um conhecimento dedutivo, inferido a partir de uma interpretação correta da ordem jurídica vigente. A ciência dogmática do direito nada tem de científica, no sentido positivista do termo, que somente reconhece cientificidade a discursos explicativos acerca de relações entre fenômenos. Não é possível haver uma ciência dos significados corretos de um texto, visto que o sentido linguístico não é um objeto empiricamente observável. Nenhuma tese sobre a significação das normas pode ser testada por meios observacionais.
Não há dúvidas de que a formação dos juristas contemporâneos exige uma capacitação na produção de discursos adequados aos critérios dogmáticos de adequação argumentativa. Embora a dogmática se apresente como uma episteme a ser aprendida, ela deve ser encarada como um conjunto de orientações normativas, que definem os parâmetros por meio dos quais uma comunidade avalia que certa proposição pode ser considerada como uma fiel interpretação da ordem jurídica.
Os juristas não são cientistas incumbidos de fazer descrições rigorosas acerca de objetos empíricos, mas são profissionais cuja função social é participar de certos discursos retóricos, por meio do qual são definidos os direitos e deveres de cada cidadão. A academia jurídica está tradicionalmente ligada à promoção de um saber prático (Tholozan, 2021), uma techne consistente na capacidade de produzir textos adequados aos parâmetros da dogmática jurídica.
O desenvolvimento dessa perícia exige uma série de exercícios práticos e também a aquisição de um repertório de conhecimentos, que viabilizem a adoção de estratégias retóricas adequadas. Não parece haver dúvida que o cultivo das habilidades práticas exige um exercício constante, que nem sempre é oferecido nas faculdades de direito, mas existe um debate cada vez mais intenso acerca do tipo de conhecimento que um jurista deve adquirir, para tornar-se capaz de exercer adequadamente as suas funções.
Enquanto as faculdades contemporâneas continuarem adotando acriticamente os pressupostos de uma dogmática, que se apresenta como episteme, não formaremos juristas capazes de compreender reflexivamente acerca de sua própria função política e social. Durante muito tempo, essa reprodução acrítica de subjetividades resultou no que Duncan Kennedy justamente qualificou como um treinamento que naturaliza as relações de poder vigentes no campo jurídico (Kennedy, 1998) e que Warat nomeou poeticamente com um processo de pinguinização (Sousa e Costa, 2021). A constante defesa de uma cientificidade sui generis para a atividade jurídica é signo de que continuamos nesse processo ideológico, no qual um sistema político de tomada de decisões se apresenta como exercício tecnicamente orientado de uma prática interpretativa que revela significados subjacentes.
Dados os desafios contemporâneos de um direito composto por uma quantidade avassaladora de elementos a serem coordenados, parece impossível que sejamos capazes de enfrentar essas dificuldades munidos apenas das nossas velhas estratégias aristocráticas, que confiam a interpretação jurídica a um grupo restrito de especialistas e, com isso, viabilizam que o discurso constante desses juristas termine por cristalizar uma cultura interpretativa e orientações dogmáticas sólidas. Esse parece ser o correspondente jurídico de uma crença na mão invisível do mercado: a expectativa infundada de que a combinação das práticas interpretativas individuais conduzirá à consolidação de um sistema de justiça eficaz e consistente.
Para escapar do liberalismo ingênuo, que defendia a liberdade dos mercados como um direito natural cuja violação acarretaria a ruína, os economistas precisaram desenvolver um conhecimento mais rico sobre as relações econômicas e sobre as consequências tanto de decisões governamentais (na macroeconomia) quanto das decisões individuais (na microeconomia). Esse tipo de conhecimento empírico gera modelos explicativos limitados, mas ainda assim mais efetivos do que a crença de que as decisões econômicas mais adequadas devem ser tomadas a partir de um sistema dedutivo baseado em uma tradição econômica que confunde a descrição objetiva do mundo com as percepções sociais hegemônicas.
No caso do direito, precisamos abandonar as ilusões da dogmática acrítica, mesmo que a sua transmissão constitua a espinha dorsal da estratégia de segurança jurídica, ao produzir juízes movidos por um habitus compartilhado. Por mais que o formalismo (incrivelmente!) ainda pareça nos oferecer os modelos mais eficientes de prática judicial e advocatícia, parece claro que esses instrumentos são insuficientes para o enfrentamento dos desafios contemporâneos em uma sociedade democrática. Precisamos rever criticamente nossa própria cultura e nossas estratégias decisórias, e esse tipo de reflexão exige um conhecimento empírico que está sendo desenvolvido, mas que ainda tem muito a caminhar antes que se torne um guia prático mais efetivo que os discursos dogmáticos (Horta e Costa, 2017).
2. Direito e Pesquisa
2.1 Direito e Dogmática
2.1.1 A reprodução dos saberes tradicionais
Os cursos jurídicos têm como foco a formação de pessoas capacitadas para o exercício das profissões mais típicas do campo do direito (a magistratura e as várias espécies de advocacia), dedicando normalmente um tempo marginal para a formação de pesquisadores. O exercício dessas profissões tem como base a habilidade de produzir teses jurídicas, ou seja, posicionamentos devidamente justificados acerca dos direitos e deveres que as pessoas têm em determinadas situações. Como bem identificou Marcos Nobre, o exercício dessa habilidade se dá por meio da formulação de pareceres, ou seja, de opiniões fundamentadas e que têm por função convencer um determinado auditório acerca da correção de uma tese (Nobre, 2009).
Ao longo de vários anos de formação profissional, os juristas aprendem a dominar um discurso dogmático que regula a produção social de tais pareceres. Aprendem a analisar os casos, a conhecer e interpretar as normas e os precedentes, a formular contratos, petições e sentenças que sejam percebidos pelos demais juristas como adequados. Um jurista competente é um técnico especializado na produção de pareceres adequados, sendo que o critério da adequação do parecer é retórico: um bom parecer é capaz de convencer o auditório a que se dirige, influenciando o comportamento dos outros atores envolvidos em um processo.
A academia jurídica é tradicionalmente um dos lugares em que o saber acerca da formulação de tais pareceres é reproduzido, o que leva a uma comunicação direta entre o prestígio acadêmico e o prestígio jurídico-profissional. O jurista que desempenha papel docente normalmente tem o seu prestígio profissional ampliado pelo reconhecimento de seu papel acadêmico. Os títulos acadêmicos normalmente são vistos como um signo de status profissional.
Um advogado que se apresenta como professor de uma universidade, ou como mestre em direito, tem o seu prestígio profissional reforçado. Em todos esses campos, o prestígio profissional é reforçado pelo desempenho de uma função acadêmica, que sugere uma capacidade profissional especialmente desenvolvida. Nesses campos, é natural que os profissionais se sintam estimulados a desempenhar uma função docente, que é vista como um signo de status. Essa peculiaridade faz com que seja bastante comum que profissionais reconhecidos no campo jurídico sejam também professores universitários e autores dos livros sobre o direito.
O mesmo não ocorre com um político que conclui um doutorado em ciência política, nem com um clérigo que se torna professor de sociologia da religião. Isso acontece porque, em campos mais ligados à ciência, o tipo de habilidade necessária ao exercício acadêmico é muito distante das capacidades ligadas ao exercício profissional. Um político de prestígio pode ter muitos votos e muita influência, mas não existe nenhuma expectativa de que ele seja versado em ciência política. Um sociólogo da religião pode ter um grande prestígio científico, e nenhum prestígio religioso. O discurso acadêmico dos cientistas, nesses casos e em outros, não se confunde com os discursos que o pesquisador estuda.
Já no direito, o mesmo tipo de discurso é desenvolvido tradicionalmente tanto pelos juristas acadêmicos como pelos operadores do direito: ambos produzem pareceres sobre os direitos que as pessoas têm. A função tradicional da academia jurídica é a de oferecer formação profissional, e essa formação é proporcionada normalmente por especialistas no exercício desse discurso, e não por cientistas que estudam os comportamentos dos juristas. Já na ciência política e na sociologia, tal como na física e na biologia, os cursos de bacharelado são voltados a formar pesquisadores.
Todavia, esse é um cenário que tem se modificado rapidamente nos últimos anos. Em especial, existe uma tendência muito clara a que o prestígio jurídico de atores com grande projeção no campo profissional (promotores, advogados, ministros) não tenham nenhuma projeção acadêmica. Esse fenômeno parece estar bastante ligado ao fato de que, desde o final dos anos 1990, o sistema de pós-graduação em direito tem sido avaliado em função da produção científica, o que gerou uma pressão muito grande para que o perfil dos professores fosse gradualmente alterado, com valorização crescente das atividades de pesquisa.
A UnB da década de 1990 era um lugar de juristas experientes, que atuavam na prática judicial e eram também professores. Tratava-se de um ambiente de grande erudição, com professores bastante cultos, mas de um local em que praticamente inexistia pesquisa científica. Tanto na graduação quanto na pós-graduação, o objetivo era a realização de estudos (e não de pesquisa) e a capacitação para a produção de pareceres complexos. Exemplo dessa mentalidade foi o fato de que, em 1997, a minha disciplina de metodologia científica no mestrado em direito da UnB foi voltada apenas à produção de comentários a acórdãos. Hoje, a situação é bastante diversa, pois se espera que todos os professores sejam capazes de produzir (e orientar) pesquisas, tanto no nível de graduação como de pós-graduação.
Essa mudança tem sido profunda nas universidades, pois os professores deixaram de ser tipicamente profissionais que ensinam sobre sua prática e reproduzem os conhecimentos do campo, e cada vez mais têm se tornado pesquisadores que ensinam sobre os seus objetos de pesquisa. O espaço para os docentes exclusivamente ligados à prática profissional está cada vez mais restrito aos núcleos de prática jurídica, e rapidamente se amplia a distância entre o prestígio acadêmico e o prestígio profissional.
Essa mudança não decorre apenas de uma alteração da estrutura universitária e do próprio sentido da pós-graduação. Ela decorre também de um certo esgotamento do saber jurídico tradicional, que ainda é o mais ensinado nas faculdades e cobrado nos concursos públicos. A função prática dos juristas sempre foi a de oferecer respostas aos dilemas que envolvem os direitos e deveres, e essa capacidade tradicionalmente esteve ligada a uma combinação de habilidades retórico-argumentativas e de conhecimento do campo, que nos últimos 200 anos tem sido primordialmente o domínio do conteúdo dos atos legislativos.
Embora as habilidades do trivium (retórica, gramática e dialética) permaneçam altamente relevantes, as habilidades de memorização, que eram centrais para a atividade dos juristas até a década de 1990, perderam espaço considerável na vida dos juristas. Na década de 1980, uma parte muito relevante do conhecimento jurídico era saber de cor o conteúdo das leis, dos precedentes relevantes, dos artigos do código, pois a memória era o instrumento mais eficaz para encontrar referências que subsidiassem as nossas teses. Infelizmente, esse tipo de memorização perdura como sendo a principal habilidade ensinada nas faculdades e cobrada nos concursos públicos da área jurídica, como se estivéssemos 30 anos atrás.
Em 1988, quando a atual constituição brasileira foi promulgada, não havia internet, telefones celulares, “pesquisas” no Google, legislação publicada digitalmente ou “pesquisa” informatizada de jurisprudência. Um smartphone com capacidade de pesquisar imediatamente todas as leis do país era um objeto tão fora do horizonte da imaginação daquela época que somente aparecia na ficção científica juntamente com naves interestelares e teletransporte. O conhecimento jurídico atual é baseado na nossa capacidade de utilizar ferramentas de informática para encontrar subsídios para formular as nossas teses. Encontrar as informações legislativas e jurisprudenciais não é mais o grande desafio dos juristas, e sim processar de maneira adequada o imenso conjunto de informações que se encontram disponíveis.
Tanto hoje como em 1988, ninguém é capaz de conhecer o texto de todas as leis do país ou de todas as decisões judiciais. Se hoje enfrentamos essa dificuldade com aprimorados mecanismos de busca (ou seja, com máquinas), naquela época tínhamos de enfrentar essa dificuldade com outros tipos de artefatos: tínhamos mapas que nos auxiliavam, e esses mapas eram construídos pela doutrina.
A função social da doutrina era justamente a de sistematizar o direito, tornando possível apreendê-lo em alguns anos de estudo. Não era preciso saber todas as leis porque os estudantes de direito podiam contar com o fato de que a leitura de um conjunto relativamente pequeno de textos (os manuais) seria capaz de oferecer um mapa de cada campo do direito, explicando não apenas os conceitos, mas também o conteúdo das normas. Ninguém nunca foi capaz de conhecer todas as normas, e por isso o conhecimento jurídico dependia de uma sistematização doutrinária do direito, que reduzisse o que se precisava saber a certo número de livros que, se fossem lidos e memorizados, seriam garantia de um conhecimento suficiente para operar o direito
A academia jurídica era justamente o lugar onde esses mapas eram elaborados, por docentes preocupados em oferecer para seus estudantes uma sistematização adequada do conhecimento jurídico. Esse primado da doutrina acabou já faz algum tempo, quando os sistemas de informática nos permitiram consultar diretamente as decisões. Em 1988, era muito difícil conhecer um precedente que não fosse descrito em um livro doutrinário, incluindo aí os repertórios de legislação comentada.
Por um lado, as mudanças tecnológicas induziram um declínio da importância dos autores de manuais, que não gozam mais da centralidade que tinham na cultura jurídica nem na formulação dos discursos práticos, que cada vez mais utilizam referências diretas à jurisprudência, não mediadas pelos livros doutrinários. Por outro lado, esse novo cenário criou novas necessidades e novos desafios para os juristas: a capacidade de lidar com a multiplicidade de precedentes, com a falta de sistematicidade dos posicionamentos dos tribunais e com a imprevisibilidade das decisões relativas a um caso concreto.
Os juristas ainda precisam de mapas, mas eles precisam também de novas técnicas cartográficas. A elaboração dessas novas cartografias exige justamente a produção de um conhecimento novo, que observe com cuidado o comportamento judicial efetivo, os padrões decisórios reais e as distâncias existentes entre o que é dito e o que é feito pelos nossos juízes e tribunais. Essas novas cartografias exigem, portanto, habilidades de pesquisa empírica.
Não basta mais aos juristas lerem os livros de doutrina e escreverem suas opiniões com base nesses modelos, pois essa não é a forma efetiva de articulação dos saberes e das práticas do direito contemporâneo. Esses argumentos tradicionais ainda têm relevância, mas são guias relativamente limitados para a prática judicial e advocatícia nos dias de hoje.
Devemos reconhecer, inclusive, que as próprias habilidades retóricas têm um papel crescentemente reduzido, na medida em que as decisões são cada vez mais padronizadas, o que as torna cada vez menos influenciáveis pela capacidade argumentativa dos advogados. Não temos um cenário no qual os tribunais julgam um número pequeno de causas de alto valor agregado, mas um contexto em que a ampliação do acesso à justiça fez com que a litigância se encontre espalhada por uma infinidade de casos de pequeno valor, que inundam os tribunais com problemas repetitivos, a ponto de alterar substancialmente as estratégias tanto de peticionamento como de julgamento.
Nas últimas décadas, a comunidade jurídica brasileira experimentou várias estratégias voltadas a solucionar populações de processos com uma mesma decisão (em vez de decidir cada caso isoladamente), a selecionar as controvérsias que serão julgadas e se transformarão em paradigmas, a tornar mais abstratas as questões enfrentadas (em vez de analisar as peculiaridades do caso concreto) e a gerar precedentes estáveis e vinculantes.
Todas essas mudanças exigem uma renovação nas capacidades dos juristas de analisar os padrões decisórios efetivos e as consequências que uma decisão tem para além das relações entre as partes. Nesses novos contextos, ganhou centralidade uma habilidade que não é a usual dos juristas tradicionais: a capacidade de fazer pesquisas empíricas, que observem os padrões efetivos das interações sociais ligadas ao direito. Para o enfrentamento dos desafios jurídicos atuais, não basta mais uma habilidade hermenêutica e interpretativa.
Precisamos de novos instrumentos analíticos, que permitam ao judiciário gerar sistemas estáveis, de decisões replicáveis e capazes de gerar consequências sociais adequadas. E os advogados precisam de conhecimentos que lhes permitam prever a atuação judicial e, com isso, interferir nos processos decisórios de maneira efetiva. Esse tipo de atuação, no judiciário e fora dele, exige um conhecimento mais preciso do direito, uma identificação mais clara das práticas judiciais e dos impactos sociais das decisões.
Em resumo, mesmo a produção dos discursos jurídicos típicos (ou seja, dos pareceres) já não exige mais apenas as habilidades retóricas e hermenêuticas que marcaram a atuação jurídica do século XX, pois também exigem um conhecimento mais preciso dos fatos, que somente pode ser alcançado pela pesquisa. Com isso, alterou-se substancialmente o tipo de habilidade que precisa ser ensinada aos estudantes de direito, para exercerem adequadamente as suas funções sociais.
2.1.2 A produção de novos saberes
Na maior parte das disciplinas científicas, a produção acadêmica envolve pesquisas empíricas que são publicadas na forma de artigos em periódicos especializados. Essas pesquisas, como veremos adiante, podem adotar abordagens qualitativas (em que são interpretadas descrições feitas em termos de atributos qualitativos) ou quantitativas (nas quais a interpretação incide sobre descrições baseadas em quantificações).
No campo do direito, para além dos pareceres dogmáticos, predominam análises qualitativas sobre objetos documentais, especialmente sobre decisões judiciais, na busca de compreender padrões argumentativos (focados nas argumentações) ou identificar padrões fáticos (focados nos comportamentos). Porém, são cada vez mais utilizadas abordagens quantitativas, que se baseiam na medição numérica e na análise estatística para identificar regularidades e relações causais.
Em toda área, existem também ensaios teóricos, nos quais o pesquisador busca avaliar em que medida as categorias teóricas existentes são capazes de lidar adequadamente com os resultados empíricos das pesquisas. Se as observações empíricas acerca do universo estão em choque com os modelos conceituais hegemônicos, é preciso ajustar os modelos para existir uma correspondência adequada entre teoria e empiria.
No campo do direito, não é bem isso o que acontece porque a teoria jurídica não constitui um modelo explicativo do mundo empírico, e sim um modelo normativo voltado a orientar o exercício de uma atividade prática. Melhor dizendo: é possível desenvolver modelos explicativos sobre os fenômenos jurídicos, mas o desenvolvimento de tais modelos não é o papel típico dos juristas. O discurso típico dos juristas é dogmático, e não científico: trata-se de dimensionar as consequências normativas de certas situações e não de avaliar as causas e consequências fáticas de tais situações.
Para poder atribuir consequências normativas a certos fatos, o jurista precisa partir da ideia de que (i) existe uma ordem jurídica que atribui consequências normativas válidas aos fatos jurídicos e que (ii) os juristas são capazes de identificá-las por meio de uma forma de reflexão analítica. Os juristas são treinados para confiar em sua capacidade de determinar consequências válidas para os fatos que lhes cabe analisar. No âmbito dos sistemas jurídicos modernos, não lhes é dado reconhecer que (i) o sistema é impreciso e que, por isso, (ii) não é possível extrair soluções seguras para muitas situações.
O problema central do direito é a decisão, e essa exigência tem impactos profundos sobre a prática jurídica e sobre a teoria que orienta essa prática. As decisões sempre operam sobre situações concretas, e é por isso que as perguntas tipicamente respondidas pela prática jurídica são acerca das consequências normativas de certos fatos. Nesse contexto, o problema da interpretação (no sentido de conhecer o sentido das normas) somente aflora como parte de uma estratégia decisória: a decisão implica a adoção de certos significados, e o interesse na interpretação de textos é sempre ligado ao modo como essas interpretações podem condicionar processos decisórios.
A dogmática jurídica envolve um discurso teórico, mas se trata de um conhecer para decidir. Não escolhemos os conceitos jurídicos conflitantes em virtude de sua correspondência com os fatos, mas em virtude das estruturas decisórias que eles condicionam (ou seja, das consequências normativas implícitas nos modelos teóricos utilizados). Portanto, a escolha entre modelos jurídicos conflitantes (como o naturalismo e o positivismo, por exemplo) tem uma dimensão fundamentalmente política: adotamos os modelos teóricos cujas consequências práticas consideramos mais legítimas. Com isso, a escolha do modelo jurídico (ou seja, do repertório de conceitos utilizado pelos juristas) decorre de uma análise de sua legitimidade (correspondência entre práticas e certos valores) e não de sua veracidade (correspondência entre enunciados e fatos empíricos).
De fato, esse primado da legitimidade sobre a verdade ocorreria se o direito fosse uma questão de escolha individual, como é atualmente o caso da religião. Uma pessoa adota ou não certo discurso religioso a partir de suas convicções pessoais, de seus valores, e não de um critério objetivo de comprovação empírica. Uma tal liberdade pode ocorrer no campo da academia, na qual um pesquisador pode adotar os marcos teóricos de sua preferência pessoal.
Porém, para a prática jurídica, especialmente dos advogados, essa questão política vem combinada com um problema estratégico: não existe grande liberdade para utilizar publicamente os modelos jurídicos considerados mais legítimos porque a atividade jurídica envolve a interação entre vários atores. Com isso, por maior que seja a liberdade de escolha dos modelos que a pessoa utilizará para compreender o direito, a escolha dos repertórios de conceitos utilizados na composição das peças processuais é sempre movida por imperativos de estratégia retórica: os juristas precisam elaborar discursos públicos com base em argumentos capazes de promover uma persuasão retórica.
É justamente esse o ponto em que o caráter dogmático do discurso jurídico passa a ter uma conexão muito direta com os elementos empíricos: o potencial retórico de um argumento é uma questão de fato, não é uma questão de direito. Um bom advogado, portanto, precisa saber manejar o discurso dogmático, mas precisa operar uma série de escolhas retóricas que envolvem um conhecimento profundo sobre os fatos.
Enquanto a dogmática indica como os tribunais deveriam decidir, somente pesquisas empíricas são capazes de identificar como os tribunais efetivamente decidem. Em certos momentos históricos, pode ser que a argumentação dogmática constitua, de fato, o expediente retórico mais eficaz para os advogados. Quando isso acontece, ganham força as teorias legalistas da atividade judicial, baseadas na suposição de que os magistrados decidem a partir dos critérios definidos pela dogmática jurídica prevalecente.
Existem outros momentos, porém, em que os magistrados utilizam o discurso dogmático apenas como mecanismo para conferir uma forma jurídica para decisões fundamentalmente políticas. Nesses casos, a aplicação de teorias legalistas tem pouca capacidade explicativa, sendo mais razoável descrever as decisões jurídicas em termos de ideologia política ou de estratégias individuais.
Há vários indícios de que vivemos em um momento desse segundo tipo, no qual muitas vezes os argumentos dogmáticos são apenas uma cortina de fumaça. Nesses contextos, existe uma possibilidade grande de que advogados com formação legalista tenham baixos índices de eficiência, pois a utilização de argumentos dogmáticos pode não ser suficiente para promover a persuasão dos magistrados.
Mas pode ser que essa própria percepção seja enganosa. Os juízes podem ser individualmente ideológicos, mas talvez a sua atuação colegiada possa garantir que as teorias legalistas continuem sendo os modelos mais eficientes de explicação. Talvez os juízes sejam individualmente engajados na tentativa de garantir a segurança jurídica por meio de decisões compatíveis com a dogmática vigente. Talvez os argumentos dogmáticos sejam mais capazes de gerar prestígio para os magistrados. Talvez a combinação das preferências de vários juízes termine conduzindo os tribunais a interpretações que podem ser compreendidas adequadamente como uma tentativa de aplicar um direito impessoal.
De fato, não sabemos com muita precisão como funcionam as cortes, qual é o impacto real dos argumentos e quais são as consequências de nossas escolhas institucionais. Não sabemos precisar quais serão os resultados das modificações que são propostas, a cada momento, para reformar os sistemas de justiça. O fato de que o desenvolvimento de pesquisas sobre a área jurídica está em um nível muito inicial faz com que não tenhamos clareza sobre os possíveis impactos dessas pesquisas, nem sobre se chegaremos a um ponto no qual elas serão capazes de oferecer diretrizes melhores que as intuições de juristas bem formados no discurso dogmático.
Essas respostas somente poderão ser dadas quando avançarmos, e muito, numa série de agendas de pesquisa. Precisamos desenvolver categorias analíticas adequadas, precisamos adaptar as metodologias disponíveis para serem capazes de gerar conclusões relevantes para o campo jurídico, com seus ritmos próprios, sua cultura particular e seus regimes de autoridade. Estamos longe da capacidade de produzir conhecimento jurídico de alto impacto na prática judicial, mas, quando esse ponto chegar, a atividade prática dos juristas será profundamente alterada. Embora esse horizonte de mudança não esteja no curto prazo, é bem possível que essas pesquisas ganhem densidade e impacto ao longo da próxima década, de forma que os conhecimentos desenvolvidos hoje podem modificar substancialmente o panorama jurídico da próxima geração de juristas.
Em suma, não defendemos que os juristas práticos devem ser transformar em pesquisadores, tal como o movimento da medicina baseada em evidências não converteu os clínicos em cientistas. Todavia, deve fazer parte da formação dos juristas a capacitação mínima na produção de novos conhecimentos e, principalmente, na avaliação da solidez dos conhecimentos produzidos pelos investigadores.
Tal como todo médico clínico precisa saber o suficiente sobre pesquisas para se tornar capaz de incorporá-las à sua prática, os juristas também precisam adquirir essa competência, que é gerada por meio do desenvolvimento de um conhecimento básico acerca das atividades científicas (abordagens, metodologias, limites, etc.), que permita compreender os textos que veiculam as pesquisas e avaliar o grau de solidez das conclusões que foram alcançadas pelos investigadores.
2.2 A pesquisa no direito
2.2.1 Estudos e Pesquisas
Pesquisa é uma investigação voltada a desenvolver o conhecimento de determinado campo, seja produzindo novos saberes ou avaliando partes do conhecimento existente, seja para reforçá-las ou para refutá-las. Embora seja comum que pesquisadores digam que estão "realizando um estudo" sobre determinado tema, você somente conseguirá formular adequadamente um projeto de pesquisa se tiver clareza sobre as fronteiras essas duas atividades.
A palavra pesquisa se relaciona com a palavra perquirir, que significa buscar intensamente. Trata-se de uma palavra originada do latim perquirere, formada pela união da palavra quaerere, que significa buscar, reforçada pelo prefixo per, que indica intensidade. Essa mesma combinação está na base da palavra francesa recherche (chercher é buscar, e re também indica intensidade), que por sua vez é a origem da palavra inglesa research. Pesquisar, portanto, é realizar uma investigação voltada a descobrir algo.
Embora as pesquisas sempre busquem alguma coisa, não devemos tratar a busca de informações em um banco de dados como se fosse uma pesquisa. A língua portuguesa tem vários usos para o verbo pesquisar, que é empregado em expressões como “pesquise no dicionário o sentido de uma palavra” ou “realize uma pesquisa de jurisprudência sobre casamento de pessoas do mesmo sexo”. É nesse mesmo sentido que a página inicial do Google, em português, indica que você pode “pesquisar no Google”:

Embora o Google utilize a palavra pesquisar, e que tal uso seja possível na língua portuguesa, a tradução mais precisa de search não é pesquisar, mas buscar. O que os diversos mecanismos de busca efetuam é procurar a ocorrência de certas expressões em um banco de dados, retornando resultados em que a expressão foi encontrada.
As pesquisas acadêmicas também procuram algo: responder a indagações cujas respostas são desconhecidas. Por seu turno, o Google busca documentos que se relacionam com determinados termos. Se você apresentar ao Google uma questão que poderia ser objeto de uma pesquisa acadêmica (por exemplo: qual é o tempo médio de julgamento de uma ADI?), o algoritmo retorna alguns resultados em menos de um segundo.
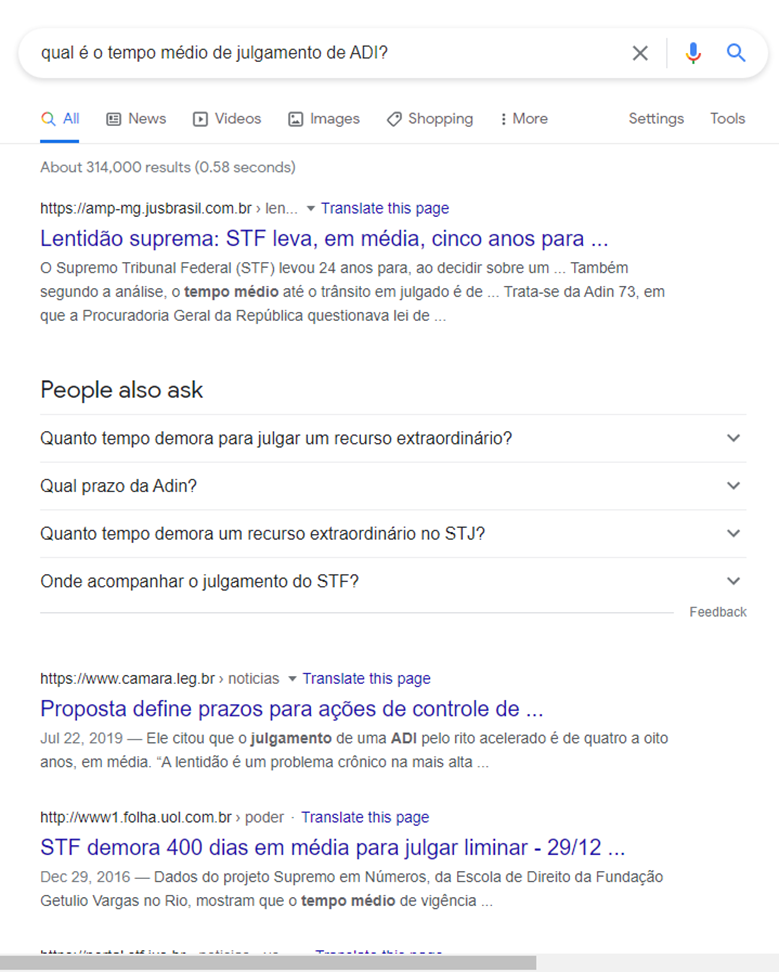
O que o Google faz é tratar as suas palavras como um tema: ele busca documentos que se relacionam com os termos inseridos no mecanismo de busca, a partir de um algoritmo que atribui um valor de relevância para cada resultado. No exemplo acima, o documento que aparece como mais relevante é um artigo republicado pela Anamatra no site jusbrasil.com.br, que efetivamente contém uma resposta para a nossa questão, indicando que o tempo médio de julgamento é de seis anos.
Esse texto é a cópia de uma reportagem publicada pelo jornal “O Globo”, em 2014, e que trata de conhecimentos produzidos pela FGV Direito Rio, posteriormente publicados no relatório de pesquisa Supremo em Números III: O Supremo e o Tempo (Falcão, Hartmann e Chaves, 2014). Essa é uma importante investigação realizada por pesquisadores da FGV, mas é sintomático que o primeiro resultado da “pesquisa” do Google não seja o relatório original em que os dados são expostos, mas um texto de divulgação dessa pesquisa, fruto provavelmente da assessoria de imprensa da GV-Rio.
Embora tenha sido o trabalho da equipe coordenada por Falcão, Hartmann e Chaves que mensurou o tempo médio de tramitação, o texto considerado mais relevante pelo Google foi a republicação de um artigo jornalístico que trata especificamente dos longos tempos de tramitação. Isso indica que o algoritmo privilegia textos menores e mais diretos, escritos diretamente em HTML, muito diversos do PDF de 150 páginas que veicula o relatório de pesquisa.
Para buscar textos com relevância acadêmica, você pode optar por utilizar o Google Acadêmico (scholar.google.com.br), que deveria ter critérios mais próximos daqueles utilizados pelos pesquisadores. Essa é uma iniciativa da Google que tenta oferecer resultados que deem mais visibilidade aos modos típicos de divulgação científica, cuja circulação opera tipicamente por arquivos em PDF, que têm baixa visibilidade no algoritmo usual. Todavia, a repetição da busca anterior leva a um resultado frustrante: o Google recupera uma série de arquivos PDF que contêm as palavras que foram pesquisadas, mas a maioria desses arquivos não responde à nossa questão.
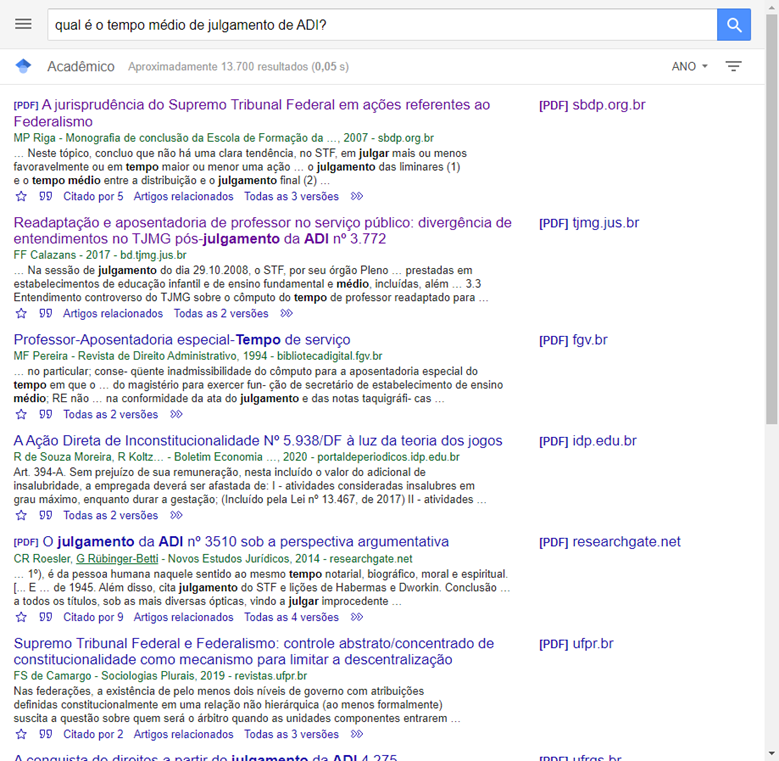
O primeiro resultado tem um vínculo indireto com nossa pergunta, tratando-se de uma monografia acerca da jurisprudência do STF em ações relativas ao federalismo, escrita por um estudante da Sociedade Brasileira de Direito Público (SBDP). Já os outros textos não se relacionam com a nossa dúvida, embora neles ocorram as palavras usadas como parâmetro de busca.
Esse exemplo nos sugere que, previsivelmente, a utilização de web browsers para responder perguntas de pesquisa não nos leva muito longe. Os principais resultados de interesse acadêmico nem sempre são retornados, a relevância científica dos textos não é o critério de ordenação dos resultados e eles tampouco oferecem uma visão atualizada do tema. Ademais, as perguntas originais de pesquisa nos colocam frente a questões que não foram respondidas e que, portanto, não contam com respostas a serem buscadas nas páginas de internet.
A busca do Google nos ajuda a localizar documentos potencialmente relacionados a determinados parâmetros. O Google não efetua (ao menos ainda) uma interpretação da sua pergunta. Tampouco realiza uma análise dos dados judiciais em busca de descobrir o tempo médio de julgamento. O que ele faz é tomar essa pergunta como uma expressão linguística e buscar textos que contenham referências diretas ou indiretas a essas palavras. Trata-se de um instrumento muito útil para levantamento de dados, mas que precisa ser utilizado dentro de suas limitações e possibilidades. Quando lemos os textos retornados pela busca do Google, podemos aprender muitas coisas interessantes sobre ADIs, tempo e julgamento. Isso faz com que esse seja um ótimo instrumento de estudo, mas que seja um instrumento bastante limitado de pesquisa.
Frente a essa mesma pergunta, o ChatGPT não se sai melhor do que o Google. Sua resposta, oferecida em 23/01/2024, tem quatro parágrafos que basicamente dizem que a questão é complexa e que é preciso buscar fontes atualizadas para responder, sem indicar as fontes nem aprofundar a análise.
O tempo médio de julgamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) pode variar significativamente de acordo com diversos fatores, incluindo a complexidade do caso, a carga de trabalho do tribunal, a existência de questões urgentes e outros elementos processuais.
Em alguns casos, uma ADI pode ser julgada em poucos meses, especialmente se houver uma necessidade de decisão rápida. No entanto, em outros casos mais complexos, o processo pode se estender por anos.
No Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal (STF) é responsável por julgar ADIs. O tempo médio de julgamento pode ser afetado por fatores como a quantidade de processos na pauta, a disponibilidade dos ministros e a relevância política e social do caso.
É importante consultar fontes atualizadas e específicas para obter informações mais precisas sobre o tempo médio de julgamento de ADIs em um contexto específico, já que essas informações podem mudar ao longo do tempo.
Tanto o Google como o ChatGPT são bons instrumentos para identificar e organizar as informações disponíveis em textos publicados na internet, mas não são ferramentas voltadas a produzir novos conhecimentos. Neste ponto, devemos atentar para as diferenças entre estudos e pesquisas. É compatível com a língua portuguesa que um pesquisador fale de seus estudos quando ele faz referência a suas pesquisas. Todavia, por maior que seja a similaridade semântica entre esses termos, na linguagem comum, convém que o seu uso acadêmico respeite uma distinção que evita confusões metodológicas:
- o estudo é voltado a aprender;
- a pesquisa é voltada a descobrir, ou seja, produzir novos conhecimentos.
No estudo, aprendemos algo que não sabemos por meio do contato com as pessoas que sabem ou da leitura de textos que elas escreveram. Na pesquisa, buscamos descobrir relações que não são adequadamente esclarecidas pelo conhecimento disponível. No campo da ciência, os pesquisadores estudam o conhecimento que já foi produzido, com o objetivo de se capacitar para investigar de forma original aquilo que não sabemos.
2.2.2 A gestão da ignorância
Frente à consciência de nossa própria ignorância, podemos estabelecer estratégias para gerir o fato de que saberemos sempre muito menos do que desejamos. Uma dessas estratégias é o estudo, no qual partimos de uma dúvida pessoal (O que eu não sei?) e buscamos fontes de conhecimento capazes de suprir essa falta. O estudo se orienta normalmente por temas (história do direito, direito comercial, contratos de compra e venda) e a amplitude do tema vai definir se os estudos serão mais panorâmicos ou mais especializados. O bom estudante precisa saber os locais em que o conhecimento está disponível e precisa ter instrumentos para diferenciar o conhecimento que é sólido daquelas informações que são inconsistentes.
Outra das abordagens é a gestão da ignorância pela pesquisa. Nesse caso, partimos de uma questão que não é apenas pessoal, mas coletiva: O que não sabemos ou sabemos mal? A pesquisa se orienta por problemas, que veiculam justamente as perguntas que o conhecimento disponível não é capaz de responder. O estudo é sumamente importante, até porque a pesquisa é uma atividade exigente, cara e lenta. Se você pode obter os conhecimentos necessários por meio de estudo, não há nenhuma necessidade de gastar seus recursos pessoais (e muitas vezes recursos públicos) para investigar coisas que já estão devidamente mapeadas.
Nos variados campos acadêmicos, costuma haver uma diferenciação clara entre o ensino e a pesquisa. O exercício pedagógico típico das universidades é o ensino de um conjunto de informações, aliado ao treinamento prático de certas habilidades. No caso dos cursos jurídicos, essas competências estão ligadas às velhas disciplinas do trivium: compreender textos, argumentar e convencer. A formação dos profissionais especializados se dá por meio desse misto de estudos (que oferecem o conhecimento teórico necessário) com atividades de aprendizagem prática (que, conduzidas sob orientação, permitem o desenvolvimento de competências, ou seja, de capacidades relacionadas à realização adequada de um ofício).
Nas faculdades de direito, a maior parte dos esforços dos estudantes é dedicada justamente ao estudo: leitura de textos predefinidos, busca de referências e sistematização dos conhecimentos aprendidos. Tal estudo torna os estudantes mais eruditos, no sentido de que passamos a dominar um corpo de conhecimentos que fazem parte da cultura de um povo (ou de um grupo profissional determinado). É estudo a atividade que você realiza quando leem esse texto. Mesmo a busca de novas referências é também estudo: um exercício autônomo de estudo, que exige capacidades maiores do que a simples leitura dos textos indicados, e que gera resultados mais ricos, pois essa exploração gera contato com muitas ideias imprevisíveis.
Se dirigido de forma adequada, o estudo universitário pode formar estudantes mais autônomos, na medida em que os prepara para continuar a busca incessante de atualizar suas práticas, à luz do conhecimento disponível. Porém mesmo o ensino de melhor qualidade não é capaz de nos preparar para o exercício da produção de novos conhecimentos, pois não proporciona o desenvolvimento da competência específica dos pesquisadores, que é a de planejar e executar uma pesquisa.
A pesquisa começa onde o estudo encontra seus limites. Todo campo pode ser estudado, pois você sempre pode buscar os conhecimentos disponíveis acerca de qualquer temática:
- Direito
- Artes
- Arquitetura
- Astrologia
- Mitologia grega
- Pecados mortais segundo São Tomás de Aquino
- Habilidades dos pokémon de tipo fogo
Todo objeto também admite alguma forma de pesquisa, na medida em que é possível buscar respostas para as perguntas que não são abrangidas pelo repertório de conhecimentos disponíveis. No mínimo, é possível fazer uma investigação para mapear e consolidar informações que não existem de forma organizada. Isso não quer dizer, contudo, que todo objeto de estudo pode ser objeto de pesquisa científica, pois esse é um tipo de investigação que opera de forma indutiva, a partir da observação de fatos.
A ciência é um discurso baseado na observação de fatos e os fatos são sempre singulares. O cientista acumula informações sobre fenômenos e busca identificar, nessas ocorrências, alguma espécie de padrão. Os padrões podem ser inferidos a partir dos fatos, mas eles não são, em si mesmos, fenômenos observáveis. Essa é a diferença sublinhada pelo quadro de René Magritte chamado A traição das imagens (1928): a pintura de um cachimbo não é um cachimbo, mas uma representação. O quadro, em si, é uma coisa, mas a coisa-quadro não deve ser confundida com coisa-cachimbo. De forma similar, a descrição de um padrão não pode ser confundida com um atributo dos objetos descritos: o padrão é sempre uma descrição, é sempre linguagem.
No caso do cachimbo, a distinção é mais fácil porque se trata de diferenciar uma coisa de um nome. Porém, no caso do direito (e de muitos fenômenos culturais), o objeto descrito já tem uma estrutura linguística. O processo não é uma coisa, no mesmo sentido de um cachimbo. O processo é um conjunto de textos, que relatam comportamentos humanos que se efetivam por meio da linguagem: tanto pedidos como decisões são enunciados linguísticos.
O processo é uma relação humana e os autos processuais são o relato dessas interações, de tal forma que o próprio objeto dos nossos estudos tem uma dimensão linguística inafastável (diferente dos cachimbos, das maçãs e dos planetas, que são coisas que existem fora da linguagem). Para sermos mais precisos, cada cachimbo, cada planeta e cada interação humana pode ser observada como um objeto concreto. Mas, quando falamos dos cachimbos em geral ('cachimbos são diferentes de piteiras') ou dos planetas em geral ('planetas são diferentes de estrelas'), não tratamos de um objeto concreto, mas de um objeto abstrato: uma categoria linguística.
Objetos empíricos (ou seja, coisas) podem ser observadas no mundo: Plutão, ADI 6666, a maçã que está à venda no mercado. Populações de objetos (planetas, processos, cachimbos) não existem empiricamente, mas são recortes arbitrários: elas não são coisas, mas são conjuntos. A Terra pertence ao conjunto dos planetas porque ela tem certas características que permitem subsumi-la à categoria "planeta".
Quando falamos das "características de um conjunto", estamos em um alto grau de abstração: não se trata de qualidades de objetos concretos, mas de qualidades médias (ou preponderantes, ou mínimas, etc.) de um certo conjunto abstrato. É nesse grau de abstração que nos encontramos quando fazemos perguntas simples como:
- Qual é o tempo médio de julgamento de uma ADI?
- Qual é o número médio de andamentos de uma ADI?
- Qual é a idade média dos brasileiros?
A média de tempo de julgamento é um cálculo feito com base em uma série de observações particulares. O número médio de andamentos e a idade média dos brasileiros também. Toda média é uma abstração. Não existe um "brasileiro médio", com uma "idade média". O que existe é um número, calculado somando-se a idade de todos os brasileiros e dividindo-se esse valor pela quantidade de pessoas brasileiras.
O gráfico abaixo indica o número de andamentos das ADIs e ADPFs ajuizadas até 2020. O número médio de andamentos é 44,7, mas seria absurdo pensar essa descrição como se houvesse um "processo médio", que tivesse 44,7 andamentos, até porque a própria ideia de um andamento fracionário não faz sentido, exceto como uma abstração.
A leitura adequada desses dados mostra que a grande maioria dos processos está distribuída em uma faixa em torno da média, que chamamos de desvio padrão. 83,7% dos processos estão localizados nessa faixa de 1 desvio padrão acima ou abaixo da média, sendo que apenas 16,7% estão acima ou abaixo dessa faixa.
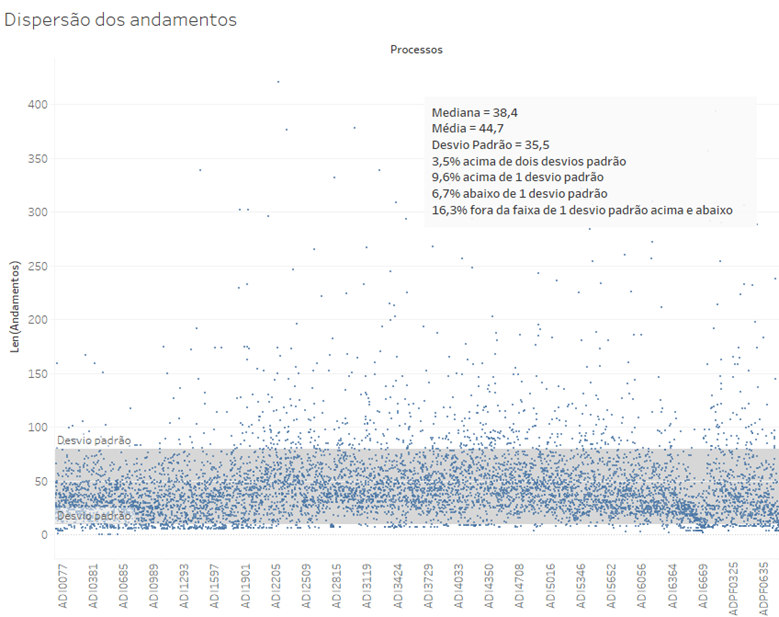
A média e o desvio padrão não são grandezas existentes, mas são conceitos. São medidas que nos ajudam a compreender como o número de andamentos (ou as idades, ou os tempos de tramitação) se distribuem dentro de uma determinada população.
Como podemos saber a média de idade de uma população? Isso somente pode ser descoberto por meio da observação da idade real de pessoas concretas. Nesse caso, você pode levantar dados com relação a cada uma das pessoas que compõem a população brasileira, uma abordagem tão cara e tão demorada que não se imagina que ela possa ser feita por um pesquisador de mestrado ou doutorado.
Não é por acaso que os censos somente são realizados no Brasil a cada dez anos. Além dessa abordagem censitária, também é possível uma estratégia amostral, que levante dados de uma parcela da população e, com base nela, faça inferências sobre a "idade média" da população como um todo. Tanto nas abordagens censitárias como nas amostrais, o que fazemos é observar vários elementos concretos para fazer inferências acerca das características gerais de uma população. Essa passagem de uma multiplicidade de conhecimentos sobre elementos singulares para um conhecimento geral é o que chamamos raciocínio indutivo (ou simplesmente indução).
O levantamento de dados acerca de cada brasileiro e brasileira não é indutivo nem dedutivo. Trata-se apenas de uma descrição de um objeto concreto, que não nos oferece conhecimento de natureza geral, ou seja, conhecimento sobre uma população. Quando essas observações concretas geram uma série de dados (sobre cada brasileiro), podemos fazer uma inferência acerca da população brasileira (que nós não observamos, pois nossas observações ocorreram no nível das pessoas).
O censo coleta dados sobre indivíduos, mas seu objetivo não é falar das pessoas concretas, e sim da população que elas formam. É esse salto do conhecimento sobre elementos particulares (informações sobre objetos concretos) para um conhecimento geral (sobre as crenças religiosas ou sobre a renda dos brasileiros em geral) que é a marca do raciocínio indutivo.
A pesquisa, em ciências sociais e naturais, é tipicamente um exercício de indução: as informações são coletadas no nível dos objetos concretos, mas o conhecimento é produzido em um nível abstrato. Para construir a categoria abstrata de "eficácia vacinal", a medicina avalia a reação de uma série de pessoas a uma vacina. A psicologia avalia uma série de comportamentos individuais para afirmar, de modo genérico, que os humanos têm um "viés de confirmação" ou que atuam em diversos graus de "dissonância cognitiva".
A produção de novos saberes (ou a revisão de velhas ideias) exige essa confrontação com os fatos, pois as ciências naturais e sociais são discursos acerca de elementos empiricamente observáveis. Uma vez que nossas pesquisas indutivas nos ofereceram uma descrição suficientemente rica sobre os objetos que compõem uma população, podemos fazer inferências relevantes sobre essas populações de pessoas (os brasileiros), de processos (as ADIs), de fenômenos (como a fusão nuclear).
Tais descrições gerais nem sempre são úteis de forma isolada. A média de idade da população brasileira em 2021 pode não nos dizer muita coisa, mas a comparação desta média com a que existia em 2019 pode nos oferecer elementos para avaliar o impacto real da pandemia de Covid-19. Quando analisamos séries históricas de idades, podemos projetar uma expectativa de vida para as pessoas, que é uma informação relevante para diversas dinâmicas sociais, como a definição das idades para a aposentadoria.
Esse fato nos diz algo de relevante sobre o conhecimento científico: ele somente se torna relevante quando temos um conhecimento muito amplo, sobre muitas coisas, para podermos testar se os padrões que nossa intuição nos indica são efetivamente confirmados pelos dados observados. Quando temos poucas informações, o senso comum nos oferece respostas plausíveis, e a ciência não nos oferece nada.
No início da pandemia de Covid-19, a ausência de pesquisas sólidas fazia com que os médicos tivessem de tomar decisões baseadas em sua experiência e sua intuição. Naquele momento, vários tratamentos foram testados, e alguns deles pareceram ter bons resultados. O que a pesquisa científica nos oferece é uma estratégia rigorosa para testar essas intuições e verificar se elas são compatíveis com os dados observados (diretamente ou por meio de experimentos controlados). A sistematicidade, caracterizada pela existência de regras e métodos que orientam sua realização, também serve de critério diferenciador da pesquisa em relação aos simples estudos, que não necessariamente são guiados por parâmetros que possam atestar sua qualidade.
As pesquisas demandam tempo e investimento, e nos oferecem resultados mais confiáveis. Mais do que isso: são necessárias múltiplas pesquisas para que esses dados possam ser cruzados e possamos identificar padrões nos fatos suficientemente sólidos para que os resultados desse conhecimento sejam mais eficazes que a intuição de um médico experiente e as deduções que ele consegue fazer, a partir do conhecimento disponível.
Aqui entramos no raciocínio dedutivo: dado que temos um repertório de saberes de caráter geral sobre doenças (sobre patologias virais, sobre complicações pulmonares, sobre transmissibilidade de patógenos, sobre respostas imunológicas), um médico pode fazer inferências acerca dos melhores diagnósticos e tratamentos de um caso particular. Esse conjunto de conhecimentos gerais (ou seja, conhecimentos sobre populações de objetos) permite que um clínico trace estratégias plausíveis para a solução de uma situação concreta.
A formação de um médico consiste em dar a uma pessoa acesso a esse repertório de conhecimentos (tanto científicos como de senso comum) e em submetê-la a vivências que permitam desenvolver as capacidades de observar situações concretas com cuidado, identificar nelas os padrões que foram descritos na literatura médica e formular estratégias de enfrentamento adequado das patologias.
A clínica médica é um exercício dedutivo: buscam-se soluções particulares, a partir de conhecimentos gerais. A prática jurídica também é dedutiva: parte-se de uma cultura jurídica e de pesquisas científicas, com o objetivo de viabilizar que os profissionais do direito façam escolhas acerca da forma mais acertada de apresentar solicitações e de decidir questões.
A maior parte da formação dos juristas, assim como dos médicos e engenheiros, consiste na capacitação das pessoas para o exercício eficiente dessa prática dedutiva. Esses profissionais são altamente capacitados para analisar situações particulares complexas e oferecer soluções adequadas, a partir do repertório de conhecimentos disponíveis. No caso do direito, esse repertório é o que chamamos de dogmática jurídica: um conjunto de parâmetros que viabiliza o exercício de atividades jurídicas como se fossem uma prática dedutiva, que extraia conclusões particulares a partir de certas proposições de caráter geral.
2.3 Direito e Evidências
2.3.1 Um direito baseado em evidências?
Como devemos formar os juristas contemporâneos?
A educação jurídica tem sido objeto de debates intensos ao longo de séculos, mas não existe uma resposta consensual. Por um lado, existe o desafio profissionalizante, que indica a necessidade de educar técnicos especializados capazes de exercer suas habilidades práticas. Por outro lado, existe um desafio filosófico, relacionado a uma percepção aguçada sobre os conceitos utilizados pelos juristas para exercer e descrever suas atividades. Existe também um desafio crítico, que exige o estímulo a reflexões que tornem os estudantes conscientes dos limites e potencialidades das práticas jurídicas. Essa múltiplas dimensões apontam para a necessidade de diálogos interdisciplinares, que permitam observar o direito a partir de vários pontos de vista: político, antropológico, econômico, psicológico, etc.
A necessidade de promover uma educação jurídica capaz de enfrentar simultaneamente desafios tão diversos faz com que seja previsível a inexistência de respostas consensuais. Porém, apesar das amplas divergências, parece haver um reconhecimento generalizado de que os juristas exercem uma atividade prática e que, portanto, devem receber uma formação que lhes permita tomar decisões adequadas, em tempo hábil (Tholozan, 2021). O principal objetivo dos cursos jurídicos não é a produção de um conhecimento empírico adequado sobre o direito, mas a formação de pessoas capacitadas para atuar profissionalmente no campo jurídico (CNE, 2018).
Os juristas não são cientistas, pois a sua função primária não é a de compreender a sociedade e produzir novos conhecimentos. Eles são técnicos habilitados a participar do processo de construção social por meio do qual uma comunidade organiza suas práticas a partir de referências aos deveres vigentes em uma sociedade. Como afirma Jean-Yves Chérot, o direito não é apenas um elemento de imposição normativa de comportamentos, mas uma atividade que permite filtrar nossas observações e reconstruir o mundo social em torno de ficções normativas, que contribuem para tecer a trama simbólica de significados que constitui o mundo social (Chérot, 2021).
Tal como outros técnicos especializados (médicos, arquitetos, policiais, etc.), o trabalho de cada jurista se relaciona com as situações concretas nas quais ele intervém, cabendo-lhe produzir discursos jurídicos (sentenças, pareceres, petições, etc.) relacionados com os diretos e deveres das pessoas envolvidas em um conflito. Contudo, técnicos especializados muitas vezes se limitam a exercer o seu ofício de acordo com as regras estratificadas no seu campo, o que os faz não ter a reflexividade necessária para compreender criticamente o que fazem ou mesmo para avaliar os resultados de suas práticas. Por esse motivo, como reconhece Frédéric Rouvière, “elaborar uma teoria acerca do que fazem verdadeiramente os juristas é uma das tarefas mais difíceis que são colocadas ao pensamento jurídico” (apud Chérot, 2021).
Para compreender o que os juristas efetivamente realizam, é preciso ter em mente que, por mais que a atividade jurídica típica envolva a análise das consequências normativas de situações particulares, a combinação dos comportamentos de cada um desses atores tem um grande impacto sobre a conformação da sociedade. Assim como o exercício da clínica médica opera sobre indivíduos particulares, mas contribui para a produção social da saúde, os impactos das atividades dos juristas sempre transcendem as questões concretas que cada um deles enfrenta em sua prática cotidiana. O impacto social da atividade dos juristas (ou dos médicos ou dos policiais) não pode ser mensurado apenas por uma análise dos comportamentos individuais de cada ator, mas precisa levar em conta que certos padrões compartilhados de percepção e de atuação podem ter influência significativa na conformação das relações estabelecidas entre os vários membros de uma comunidade.
A proximidade entre o raciocínio médico e o jurídico (Rouvière, 2021a) faz com que seja proveitoso explorar os paralelos entre esses dois tipos de profissionais dedicados a analisar situações concretas, fazendo diagnósticos e tomando decisões com base em uma combinação do conhecimento disponível e de sua experiência pessoal. Apesar de tais semelhanças, existe hoje uma diferença sensível entre as abordagens que são esperadas de clínicos e de juristas. Desde meados da década de 1990, o avanço da medicina baseada em evidências (evidence-based medicine) deixou claro que boa parte da prática médica não era executada de acordo com os conhecimentos produzidos pela pesquisa científica, vez que a maior parte das decisões clínicas tratavam-se de deduções baseadas nos modelos patofisiológicos existentes (Guyatt, 1992). Em 2006, Pfeffer e Sutton estimaram que apenas 15% das decisões médicas eram baseadas em pesquisas empíricas publicadas, sendo que a maior parte do exercício profissional da medicina era baseada em:
[...] saberes obsoletos adquiridos na faculdade, conhecimentos tradicionais persistentes, mas nunca provados, métodos em que cada profissional acredita e se treinou para aplicar, bem como em informações produzidas por hordas de negociantes que lhe apresentam os produtos e serviços que tentam vender. (Pfeffer e Sutton, 2006).
A medicina baseada em evidências parte do reconhecimento de que, mesmo quando havia pesquisas acadêmicas que avaliavam a eficácia de certas intervenções (tratamentos, vacinas, cirurgias, etc.), os médicos faziam escolhas clínicas majoritariamente baseadas na aplicação dedutiva dos sistemas de crenças que eles construíram ao longo de sua formação e de sua prática. Tal movimento não propõe a desvalorização da clínica ou dos conhecimentos tradicionais, mas acentua que todo técnico especializado precisa reconhecer e se precaver quanto aos limites dos raciocínios dedutivos realizados com base na cultura compartilhada. Tais deduções podem conduzir a terapias ineficazes e a perpetuação de equívocos, motivo pelo qual os resultados de pesquisas empíricas devem sempre prevalecer sobre deduções e intuições (Guyatt, 1992). Não se trata, portanto, da afirmação de uma inexistente onipotência científica, mas do estabelecimento do princípio de que, nas decisões médicas, é necessário dar prevalência aos resultados de testes empíricos que avaliem tratamentos, medicamentos e protocolos de intervenção.
Os defensores da medicina baseada em evidências sempre acentuaram que a experiência clínica é crucial, dado o caráter lacunar do conhecimento científico (Pfeffer e Sutton, 2006). Nos primeiros meses da pandemia de Covid-19, por exemplo, os médicos tiveram de tomar muitas decisões clínicas a partir de inferências dedutivas e de generalizações de sua experiência anterior com viroses respiratórias. Naquele momento, não havia conhecimento empírico suficiente sobre o SARS-CoV-2 e, portanto, as inferências intuitivas de práticos experientes eram os melhores parâmetros com que os médicos poderiam contar.
Os descaminhos do enfrentamento da pandemia de Covid-19 indicam continuarem vivas na medicina as tensões entre abordagens tradicionais, fundadas na longa experiência dos profissionais de prestígio, e estratégias baseadas em evidências científicas. Juntamente com todos os conselhos anticientíficos e fake news que foram veiculados no contexto pandêmico, cada um de nós foi bombardeado por uma enxurrada de informações relativas ao campo da pesquisa biomédica, tornando-se comuns na mídia referências a preprints, exames duplo cego, peer reviews e margens de erro das análises estatísticas.
Em 2020, ansiávamos por uma orientação científica sólida, que ainda não existia, e a cuja produção assistimos em tempo real. Os sobreviventes da pandemia aprenderam muito sobre as limitações dos saberes científicos e sobre os seus imensos custos, mas também sobre as suas i potencialidades. O reconhecimento do impacto positivo das pesquisas primária e aplicada cristalizou a exigência de que cada um dos médicos tomasse suas decisões a partir do conhecimento científico mais sólido que estivesse disponível no momento do diagnóstico e da definição das terapias. Embora algumas pessoas preferissem consultar profissionais médicos que ecoavam suas ideologias, a maior parte de nós exigia dos clínicos uma atualização constante, que os capacitasse a se apropriar de um conjunto de conhecimentos que estava em frenética alteração.
A importância das máscaras, das vacinas e dos medicamentos testados era analisada e revista a cada semana, sendo divulgados na mídia resultados conflitantes, baseados em artigos cuja solidez científica era muitas vezes controvertida. Tornou-se claro que a ciência não é um campo de consensos, mas uma arena de debates, em que as propostas de cada investigador eram submetidas ao escrutínio de uma comunidade científica que divergia constantemente sobre a interpretação adequada dos dados disponíveis. Em vez de respostas serenas e unânimes, era perceptível a existência de um processo coletivo em que se cruzavam diversas apreciações das pesquisas, na busca de definir os protocolos terapêuticos mais adequados para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da Covid-19.
A percepção dessa grande dificuldade em definir os melhores padrões de atuação poderia ter gerado uma redução de confiança na ciência, baseada na interpretação de que a falta divergência entre os médicos decorria de uma abordagem científica falha e enviesada. Contudo, esse não parece ter sido o resultado de assistirmos ao desenrolar do desenvolvimento científico, visto que o reconhecimento das limitações da ciência não conduziu a sua desvalorização, exceto em alguns limitados círculos de conservadores negacionistas e militantes antivax. De fato, parece ter ocorrido o fenômeno oposto: observar ansiosamente a formação dos conhecimentos sobre a Covid-19 nos tornou muito mais exigentes com os médicos. Os clínicos já não tinham apenas que nos indicar os tratamentos que eles julgavam adequados, mas também precisavam justificá-los perante os pseudo-especialistas que todos nós nos tornamos quando aprendemos a perguntar aos doutores sobre a eficácia dos tratamentos divulgados pela mídia.
Esse bombardeio de informações fez com que todos nós tivéssemos algum conhecimento sobre o andamento das pesquisas científicas, mas ao mesmo tempo deixou claro que esse saber genérico era insuficiente para a tomada de decisões clínicas adequadas. O enfrentamento da crise pandêmica deixou claro que precisamos de médicos capacitados a filtrar essas interpretações, analisar os resultados das pesquisas e tomar decisões eficazes com base no limitado conhecimento disponível.
No caso do direito, a situação parece bem diversa. As turbulências políticas que enfrentamos ao longo dos últimos anos não se resumem à pandemia e não nos levaram a valorizar o conhecimento técnico dos juristas. Muito pelo contrário: no Brasil, as grandes divergências interpretativas ganharam os noticiários e fomos inundados por informações acerca de uma série de decisões controversas, tomadas pelo judiciário. A naturalização do uso politicamente enviesado da persecução criminal, realizado pela Operação Lava-Jato e pelas decisões inconsistentes de Sérgio Moro, fez com que os setores de esquerda acentuassem seu antigo ceticismo quanto à neutralidade política do judiciário. De outro lado, as tentativas judiciais de contenção da erosão democrática produzida pelo governo de Jair Bolsonaro geraram provimentos judiciais cuja legitimidade foi intensamente contestada pelos setores conservadores, que chegaram a demandar o fechamento da Suprema Corte. Em todos os espectros da política, a instabilidade do direito e um sentimento crescente de que o judiciário tinha capacidade de produzir soluções absurdas semeou dúvidas acerca da legitimidade do sistema brasileiro de justiça.
2.3.2 Crise atual da dogmática jurídica
Diferente do que ocorre na medicina ou na engenharia, com seus cálculos diferenciais e complexas estatísticas, o discurso jurídico não opera por meio de uma linguagem matemática inacessível às pessoas comuns. Os juristas lidam com leis cujo sentido deveria ser claro para todos os cidadãos, o que torna evidentemente legítimo que todos os cidadãos se entendam como capacitados a ter opiniões razoáveis sobre a correta interpretação do direito. Por mais que muitos juristas se esforcem para caracterizar a existência de um saber técnico que lhes é próprio (Rouvière, 2021b), não parece possível estabelecer limites rígidos entre um saber especializado dos juristas e o saber comum dos cidadãos.
O fato de a pandemia ter gerado muitos pseudo-especialistas médicos não foi capaz de colocar em xeque a capacidade especial dos profissionais da medicina para tomar decisões clínicas adequadas. Já no caso do direito, os pseudo-especialistas sempre constituíram um grande contingente de pessoas, inteiramente convencidas de que as leis protegem claramente seus interesses. Uma leitura enviesada da ordem jurídica, que sempre confirma as respostas que o intérprete projeta intuitivamente, sempre foi largamente praticada nos meios de comunicação, nos comícios e nos bares. Hoje, essa prática se amplia nas bolhas das redes sociais, em que as concepções mais estapafúrdias são normalizadas por encontrarem um reduzido público que as aplaude, considerando absurda qualquer divergência.
Enquanto as últimas tempestades sanitárias reforçaram a confiança social na ciência médica, as tempestades políticas contemporâneas têm conduzido a um ceticismo generalizado acerca da existência de critérios técnicos, capazes de organizar posicionamentos jurídicos que não sejam imediatamente percebidos com uma manifestação de preferências ideológicas. Essa situação não pode ser considerada imprevista, dado que faz mais de um século que as abordagens críticas vêm acentuando o caráter ideológico das práticas judiciais e apontando uma distância substancial entre o que as cortes fazem e aquilo que elas dizem fazer (Brunet, 2022).
Considerando a forma atual de prática jurídica, a crise de confiança social nos saberes jurídicos constitui um desafio muito difícil de enfrentar. Se os médicos dos anos 1990 amparavam 15% de suas decisões em pesquisas científicas sólidas, o impacto da pesquisa científica na prática judicial ou advocatícia é certamente ainda menor. Na configuração atual da cultura jurídica, os diversos atores não baseiam suas escolhas em pesquisas científicas, mas na reprodução de modelos dogmáticos, que são altamente sensíveis às posições ideológicas hegemônicas. O direito se reproduz a partir da lógica dedutiva, em que as afirmações tipicamente não são empíricas (mas interpretativas, pois tratam dos significados das normas) e mesmo as afirmações fáticas (sobre consequências de certas decisões ou prevalência de certos posicionamentos) não são submetidas a um teste empírico consistente.
Ao longo dos últimos séculos, a combinação de uma cultura jurídica estratificada (reproduzida por meio da transmissão de cânones relativamente estáveis) e um campo jurídico oligárquico (organizado em torno de um número limitado de centros de poder) parece ter sido capaz de garantir certo grau de previsibilidade na atuação judicial. Todavia, a complexificação da sociedade, com o gradual incremento da necessidade de acomodar percepções ideológicas conflitantes, tem promovido a adoção de um discurso judicial mais dúctil, devido à necessidade de promover um equacionamento dos valores e interesses contrapostos.
Nesse contexto, as garantias de sistematicidade oferecidas por uma cultura jurídica unificada se perdem, na medida em que assistimos à formação de um judiciário mais plural, tanto em suas origens como em suas afinidades ideológicas. Esse multifacetamento parece uma decorrência inevitável dos processos democráticos, em sua radical polifonia, e por isso mesmo ele coloca em risco a operação de um sistema de justiça cuja previsibilidade é assentada em bases aristocráticas: a produção de um grupo de julgadores com subjetividades atravessadas por um habitus compartilhado.
[Na sociologia de Bourdieu (1977), o conceito de habitus designa o produto da interação entre os valores sociais e os comportamentos individuais: a socialização das pessoas gera uma internalização dos valores comunitários, que passam a ser vividos como simultaneamente individuais (na forma de habitus) e sociais (como sistemas culturais impostos aos indivíduos). O habitus designa uma dimensão subjetiva individual, pois ele se relaciona com os valores e crenças de uma pessoa, mas trata-se de uma subjetividade compartilhada: uma apropriação subjetiva de elementos culturais, que permite a cada um de nós vivê-los como uma manifestação espontânea de nosso eu, como se os modos de vida que nos foram culturalmente transmitidos fossem nossas próprias crenças e valores.]
A polifonia valorativa das sociedades contemporâneas desafia o pressuposto dogmático de que existe uma ordem jurídica implícita nos textos legislativos, que pode ser descoberta a partir de uma interpretação realizada de acordo com os cânones técnicos predominantes. O fato de que a atividade judicial continua sendo legitimada por meio desse tipo da referência a uma ordem normativa imanente faz com que seja previsível a persistência dos discursos dogmáticos, como eixo legitimador das decisões jurídicas.
O caráter dogmático do campo jurídico tem raízes históricas antigas, pois a constituição de uma dogmática estável foi, ao longo de séculos, a única estratégia eficiente para organizar os esforços da comunidade formada pelos atores jurídicos. Ainda hoje, parece que esse modelo ainda é o mais hábil para orientar uma prática decisória consistente. Todavia, no contexto atual, o número imenso de atores e de fontes jurídicas disponíveis faz com que tal consistência não seja alcançável por meio dos meios dogmáticos tradicionais, que envolvem a constante reintepretação das normas e decisões por um conjunto de especialistas, cuja atividade tende a gerar um discurso organizado.
A estabilidade jurídica dependeu, por milênios, da produção de um habitus unitário, que se reproduz de forma inconsciente. Contudo, o desafio de produção de uma ordem semântica unitária dependerá cada vez mais das habilidades dos juristas de lidarem com a infinidade de dados produzidos por um sistema judiciário amplo e plural.
Parece que estamos próximos de um ponto em que a efetiva divulgação dos resultados da prática judicial se torna capaz de nos fazer duvidar da ficção unitária a partir da qual descrevemos a atividade jurídica. Como descreve Pierre Brunet, a acumulação de dados contraditórios faz com que o paradigma formalista perca seu poder explicativo acerca do modo como os tribunais aplicam o direito (Brunet, 2022). Essa interpretação desenvolve o argumento de Gilmore, que identificou um ponto de ruptura no aumento exponencial dos casos publicados nos EUA, no final do século XIX:
A hundred years ago a lawyer, in the course of his professional career, could-and many did-become familiar with the entire body of case law, both in this country and in England. In any given field, a competent lawyer could easily master all the available precedents. […]
The theory of precedent depends, for its ideal operation, on the existence of a comfortable number of precedents, but not too many. […] But hen the store of raw materials becomes too great, too varied, too confused, the bridge-building process turns into a random operation. When it becomes possible to cite to a court not merely two or three prior cases which bear a reasonable relationship to this case, but dozens of cases, many of them so nearly identical on their facts as to be indistinguishable, decided every which way-then what is the court to do? (Gilmore, 1961)
A multiplicação infinita das referências faz com que a ficção de unidade da ordem jurídica se perca, especialmente quando se trata do pressuposto de que o conjunto dos precedentes forma um conjunto sistemático. No caso do sistema romano-germânico, esse risco sempre foi mitigado pelo fato de que a produção de uma ordem normativa unificada nunca dependeu diretamente das decisões, mas do esforço sistematizador promovido pelos juristas. Tradicionalmente, os juristas brasileiros e franceses não estudavam diretamente o corpus de decisões judiciais, mas os manuais didáticos que apresentavam o direito como um sistema de normas e de conceitos.
Nos sistemas de civil law, o papel unificador da doutrina tem sido minado ao longo das últimas décadas, visto que a disponibilidade de sistemas de informática tem permitido que a pesquisa de jurisprudência seja feita de forma direta. Os tribunais têm se mostrado muito sensíveis aos argumentos de base jurisprudencial, o que vem conferido uma utilidade prática imensa ao domínio dos precedentes. Todavia, a multiplicação infinita de decisões tem levado o conjunto dos atos a serem coordenados a um ponto tal de complexidade que parece aplicável a tese de Gilmore, no sentido de que não é possível construir um sistema a partir de um conjunto tão heterogêneo de fontes (Gilmore, 1961).
Como não está no horizonte o abandono da forma judicial de solução de questões e tampouco parece viável o retorno a um tempo no qual os sistemas de justiça produziam um conjunto relativamente restrito de decisões paradigmáticas, precisamos de estratégias voltadas a conhecer, classificar e sistematizar as decisões efetivamente produzidas. Atualmente, esse tipo de abordagem somente parece ser possível por meio da utilização de ferramentas de informática, notadamente pelo uso de inteligência artificial, visto que somente estratégias desse tipo permitem um tratamento eficiente dos dados, tanto pelos julgadores como pelos advogados (Rouvière, 2021a).
Esse processo de informatização das atividades jurídicas poderia se constituir apenas em uma forma de se apropriar das novas tecnologias, para realizar com mais eficiência as atividades tradicionais dos juristas: escrever petições, pareceres e decisões. A informática nos possibilita lidar rapidamente com uma quantidade maior de dados, e parece que este é o desafio mais imediato dos juristas. No curto prazo, essa digitalização não parece capaz de alterar substancialmente a prática judicial, visto que as decisões continuariam a ser tomadas por meio do exercício do habitus dos juristas. Mesmo considerando os avanços em IA, ainda não parece viável uma substituição da dogmática pela ciência, visto que a análise dos dados disponíveis, a partir das ferramentas de informática existentes, ainda não é capaz de oferecer parâmetros adequados para o exercício decisório em um ambiente semanticamente complexo.
Os juristas já podem se apropriar instrumentos tecnológicos com o objetivo de produzir uma dogmática mais robusta, mas não está no horizonte imediato uma alteração substancial nas abordagens dogmáticas, que buscam sistematizar o direito, produzindo um sistema simbólico de referência que possibilite o exercício da atividade jurídica decisória com ela se tratasse de uma prática interpretativa. Dentro dos modelos dogmáticos, o direito se apresenta como uma série de parâmetros que podem ser aplicados aos casos concretos, a partir do exercício de uma competência técnica especializada, que em grego se chama techne, em latim ars, conceitos clássicos que correspondem, em grande medida, à noção contemporânea de know how.
Herdamos esse tipo de abordagem de Grécia clássica, que descrevia a techne de políticos e juristas como uma habilidade baseada no conhecimento da própria ordem natural. O conhecimento adequado da natureza possibilitava que tomar decisões adequadas, na medida exata em que elas correspondiam aos ditames normativos inscritos na própria ordem natural. Seja no âmbito político, jurídico ou ético, o conhecimento objetivo do mundo serviria como base sólida para uma prática decisional prudente. Na modernidade, essa abordagem ganha uma força renovada, tendo em vista o crescimento das perspectivas jusnaturalistas, que resgatam a possibilidade de um conhecimento direto da ordem natural, por meio do exercício individual da razão.
Na contemporaneidade, essas perspectivas perdem força, frente ao amadurecimento das abordagens científicas, que lentamente se distanciam das perspectivas clássicas (em que a razão e a observação seriam reveladoras da ordem natural que as define) e adotam uma perspectiva discursiva (em que os modelos científicos são encarados como tentativas de organizar nossas observações na forma de um sistema, e não de descobrir uma ordem natural subjacente). As abordagens científicas não supõem uma capacidade humana especial de acessar a verdadeira ordem natural das coisas (a racionalidade moderna), mas apenas uma competência linguística que nos habilita a elaborar explicações e dialogar com outras pessoas sobre elas.
Nas abordagens antigas, predominava um saber de tipo dogmático: um conjunto de conhecimentos e diretrizes que era ensinado aos novos especialistas e que deveria ser capaz de orientar a sua atividade prática. Não havia, então, uma distinção clara entre profissionais técnicos (encarregados de tomar decisões clínicas, jurídicas ou de engenharia) e os pesquisadores que elaboravam os repertórios de conhecimento que eles manejavam. Tal como ocorre atualmente no campo jurídico, os conhecimentos dogmáticos são produzidos pelos próprios atores encarregados de sua aplicação. Porém, nas áreas de maior desenvolvimento científico, consolidou-se uma diferença funcional entre pesquisadores encarregados de produzir conhecimentos novos e técnicos especializados envolvidos na sua aplicação: médicos, engenheiros, programadores, gestores, etc.
As abordagens baseadas em evidências são frutos dessa divisão funcional e do grande abismo que pode existir entre o conhecimento científico produzido na academia e nos laboratórios e os sistemas de crenças e conhecimentos mobilizados pelos técnicos especializados, em sua prática cotidiana. A medicina baseada em evidências não é exercida por médicos pesquisadores, mas por profissionais cuja prática deveria exigir uma constante atualização acerca das pesquisas empíricas mais robustas que foram produzidas. Não se pretende dissolver a diferença entre o clínico e o cientista, mas apenas desconstruir a noção de que a experiência do clínico seria um guia mais confiável para diagnósticos e tratamentos do que a produção científica.
A condição para o surgimento de uma medicina baseada em evidências é a prévia construção de um sólido repertório de conhecimentos científicos, tão amplo e complexo que pode se tornar um guia mais eficaz do que as tradições médicas. Mesmo no caso da área de saúde, que conta com uma tradição de pesquisa empírica mais longa e robusta que no direito, existem muitas áreas nas quais o conhecimento baseado em investigações metodologicamente conduzidas não tem densidade suficiente para orientar a prática clínica (Guyatt, 1992).
No campo jurídico, não seria exagero afirmar que essa falta de conhecimento científico é comum a praticamente todas as suas áreas. A construção desse tipo de saberes não ocorre do dia para a noite, pois exige a acumulação de décadas de investigações multifacetadas, realizadas por uma ampla comunidade de pesquisa. Além disso, tal construção depende de uma opção política consciente, no sentido de fomentar a realização desse tipo de investigações, pois a formação de uma comunidade de pesquisadores depende de um financiamento duradouro e estável, que viabilize a atração de pessoas hábeis para realizar esse tipo atividade, marcadamente complexa e especializada.
Vultosos investimentos em pesquisa biomédica são muito anteriores a uma prática clínica baseada em evidências. O que o evidence-based medicine combate não é a falta de conhecimentos científicos, mas a grande barreira que se interpõe entre a produção científica e sua incorporação na prática profissional. Já no caso do direito, a pesquisa empírica é ainda incipiente, conta com um financiamento limitado e não oferece aos investigadores o mesmo nível de prestígio e remuneração que são acessíveis aos estudantes que se dedicam às profissões clássicas da magistratura, do ministério público ou da advocacia.
As atuais limitações do conhecimento empírico em direito impedem que ele seja, mesmo no médio prazo, uma alternativa à dogmática. Para os juristas em geral, a reprodução competente dos discursos dogmáticos ainda parece ser a estratégia mais hábil a maximizar os ganhos e minimizar os investimentos. Porém, acreditamos que essa situação está sendo continuamente alterada, tendo em vista a aceleração que vivemos em termos da produção de um conhecimento empírico sobre o campo do direito.
Este livro é produzido a partir da intuição de que o caráter ancilar das pesquisas empíricas em direito tende a ser superado em um prazo relativamente curto, dentro do qual elas se tornarão vitais para uma prática jurídica eficaz. Passaremos de uma dogmática que se apropria dos sistemas informatizados de gestão de dados, para uma atuação jurídica efetivamente baseada nos conhecimentos gerados pela gradual acumulação das pesquisas empíricas que realizaremos ao longo desse processo. A consolidação desse trânsito dependerá da produção coordenada de novos conhecimentos sobre o direito, que dependem de uma reorientação dos esforços de pesquisa que ocorrem no campo. Entendemos que essa reorientação está em curso, devido aos incrementos quantitativos e qualitativos que podem ser observados na produção jurídica atual (Arguelhes e Arantes, 2018; Gomes, 2023).
3. Por uma educação jurídica contemporânea
3.1 O habitus e o conhecimento
3.1.1 Abordagem interna e externa
Como é possível formar um jurista capaz de elaborar discursos consistentes com as concepções hegemônicas e retoricamente eficientes? Na modernidade, são articuladas duas abordagens diferentes e complementares a esse desafio.
A abordagem tradicional (que podemos chamar de interna) é socializar o jurista dentro do seu auditório, e corresponde ao aprendizado da língua por imersão em trocas linguísticas reais, até que o cérebro desenvolva uma percepção de quais são os padrões linguísticos adequados. Tal socialização molda identidades que compartilham as formas de ver o mundo dominantes em uma determinada cultura jurídica, ao ponto que a sensibilidade pessoal do jurista esteja tão adaptada ao senso comum dos juristas que ele saberá fazer bons pareceres de forma intuitiva. Utilizando a linguagem de Bourdieu, a educação jurídica tradicionalmente se constituiu na produção e um habitus (Bourdieu, 1977), que fomenta uma identificação imediata do indivíduo com a cultura em que ele está imerso.
Essa é a estratégia típica da educação jurídica: uma estratégia de socialização na qual a inserção de uma pessoa no grupo social dos juristas permite que desenvolva uma sensibilidade convergente com a das pessoas que compõem esse grupo e, por isso, seja capaz de formular discursos adequados a persuadir as pessoas que compartilham o mesmo ambiente cultural. Tal abordagem não apresenta a cultura jurídica como um objeto específico a ser conhecido, mas como um modelo a ser seguido; não apresenta os comportamentos dos juristas como objetos a serem investigados, mas como concretizações mais ou menos imperfeitas dos padrões definidos pela dogmática.
Nesse ponto, o paralelo com as nossas habilidades linguísticas é elucidador porque, em ambos os casos, tratamos do desenvolvimento de capacidades práticas que envolvem a adequada formulação de enunciados. Nas linguagens naturais, operadas por grandes comunidades ao longo de largos períodos de tempo, é previsível que os hábitos de fala produzam conjugações verbais regulares (que seguem uma regra abstrata que pode ser enunciada e aprendida) e irregulares (que seguem formas idiossincráticas, definidas pela tradição dos falantes). Para todo falante em formação, o aprendizado dos verbos irregulares é um desafio complexo, que pode ser enfrentado por dois enfoques diferentes.
O primeiro deles é a imersão em interações linguísticas, até que o cérebro do falante se acostume tanto ao som específico das conjugações irregulares, desenvolvendo assim uma capacidade intuitiva de conjugá-los corretamente. Inclusive, é assim que as crianças aprendem as próprias conjugações regulares: pelo desenvolvimento de uma sensibilidade linguística, e não pelo aprendizado de uma regra explícita de formação. Nosso cérebro é uma máquina de reconhecimento de padrões (Mattson, 2014) que, uma vez imerso em um ambiente determinado, adapta-se a ele por meio da identificação dos padrões de formação dos eventos que se repetem de forma regular (Nicolelis, 2020). Não precisamos oferecer aos estudantes as regras de formação, mas apenas inseri-los em uma prática suficientemente densa, para que os cérebros individuais se tornem capazes de reconhecer os padrões linguísticos e aplicá-los na prática.
A segunda estratégia é observacional: estudar comparativamente os desvios, buscando padrões capazes de explicar a deriva linguística que conduz aos verbos irregulares. Essa atitude supõe que o processo de irregularização dos verbos segue padrões implícitos, que podem estar ligados à eficiência na pronúncia, às preferências estilísticas de uma população, ou a outros fatores. O resultado é a construção de um quadro de irregularidades, que podem ser classificadas (tipos diferentes de formação irregular, com causas e consequências diversas) e, por isso mesmo, transmitidas. Nesse caso, não se trata de submeter o cérebro a um ambiente no qual ele pode intuir os padrões, mas de explicar explicitamente as regras de formação, cristalizadas em descrições linguísticas específicas.
No caso do direito, as abordagens pedagógicas tradicionais pressupõem a existência de uma ordem jurídica consistente, que pode ser compreendida a partir da percepção de suas regularidades. Desde a criação das universidades, os juristas não são educados apenas por imersão, mas são ensinados explicitamente acerca das regras de organização da ordem jurídica e de formação de argumentos consistentes. Não aprendemos o direito simplesmente como as crianças aprendem uma língua, mas tampouco contamos com um sistema adequado de compreensão das irregularidades do sistema. As regularidades são traduzidas por meio de uma descrição dogmática compreensível, mas boa parte da educação jurídica consiste justamente na formação intuitiva de uma sensibilidade capaz de conjugar os verbos irregulares, ou seja, de gerar uma percepção cultural compartilhada de que certas aplicações da lógica subjacente oferecem resultados equivocados.
Os limites desse tipo de abordagem são descritos de forma contundente por Duncan Kennedy, em seu excelente texto Legal education as training for hierarchy, no qual sustenta que a educação jurídica dos EUA realiza um treino ideológico para que os estudantes desenvolvam subjetividades capazes de servir voluntariamente às hierarquias que estruturam o campo jurídico (Kennedy, 1998). Kennedy sustenta que aquilo que os professores de direito ensinam para os estudantes não corresponde a uma verdade factual, constituindo-se em “nonsense about what law is and how it works” (Kennedy, 1998).
Apesar do caráter fantasioso das narrativas dos professores acerca de como o direito opera, mostra-se eficiente a formação dos juristas a partir desse modelo porque, na medida em que os estudantes acreditam naquilo que lhes é dito sobre o campo jurídico, “they behave in ways that fulfill the prophecies the system makes about them and about that world” (Kennedy, 1998). Esse caráter de profecia autocumprida está na base da formação dos juristas, seja na tradição anglo-saxã ou tradição continental europeia, que são ambas baseadas em uma perspectiva interna, em que a educação jurídica forja subjetividades comprometidas com uma certa “cultura jurídica”, com determinadas categorias e sensibilidades, de modo que a comunidade jurídica assim reproduzida tende a agir “como se” esses parâmetros fossem objetivamente válidos.
Além dessa abordagem interna, é possível também uma abordagem externa: em vez de socializar a pessoa no grupo dos juristas é possível o desenvolvimento de uma observação cuidadosa do que os juristas dizem e do que eles fazem, construindo modelos descritivos e explicativos sobre os seus comportamentos. Nesse caso, a capacidade de formular discursos eficientes não decorre de uma sensibilidade convergente (que gera intuitivamente discursos aceitáveis para uma certa cultura), mas de um conhecimento crítico acerca dos objetos.
A utilização desses repertórios de conhecimentos para formular discursos dogmáticos competentes não se dá de forma imediata, mas de forma mediata: a reflexão sobre as interações em jogo pode conduzir à escolha de estratégias discursivas diversas. Esse é o tipo de abordagem que podemos caracterizar como científica: determinar um objeto, observá-lo cuidadosamente, adotar uma postura reflexiva sobre o modo como as nossas culturas condicionam nossas interpretações e construir modelos voltados a explicar os padrões que permitem uma compreensão do objeto escolhido. Esse conhecimento pode ser usado de muitas formas, inclusive para orientar a formulação de discursos dos agentes que participam das interações jurídicas.
Cabe ressaltar que a abordagem externa não é mais eficiente. O que ocorre efetivamente é o oposto: a abordagem interna possibilita soluções mais rápidas, que envolvem menos recursos e uma quantidade menor de informações. Um jurista profundamente identificado com a cultura jurídica em que atua poderá agir de forma intuitiva e tem grandes chances de ser reconhecido como perito por sua comunidade, o que reveste sua palavras com um grau de autoridade que torna as pessoas mais propensas a ouvir e a acolher as suas teses. Um jurista com amplo reconhecimento social pode ganhar muito dinheiro na função de parecerista, contratado a peso de ouro porque suas opiniões são dotadas de especial autoridade, podendo inclusive estimular os magistrados a repensarem as posições que formulam intuitivamente.
A reprodução dessa abordagem interna é feita pelo que a cultura continental europeia chama tipicamente de “ciência do direito”: um discurso que organiza e classifica as teses jurídicas dominantes, tratando-as como decorrências necessárias de uma interpretação dos textos legislativos e dos princípios implícitos do direito. Não se trata de um conhecimento construído indutivamente a partir da análise o comportamento efetivo dos atores do sistema de justiça. Trata-se de uma sistematização do próprio discurso, que trata as justificativas adotadas explicitamente pelos magistrados como se elas fossem os motivos reais de suas decisões. Os livros de dogmática tratam dos argumentos jurídicos aceitáveis, e não das práticas judiciais efetivas, sob o pressuposto de que argumentos convincentes serão capazes de mobilizar efetivamente os atores do sistema de justiça.
Já a abordagem externa exige a formulação de trabalhos exaustivos de pesquisa observacional. Sem um conhecimento muito desenvolvido, as conclusões dos cientistas serão guias frágeis para a ação. De fato, as orientações práticas que podem ser inferidas a partir de uma análise das práticas judiciais tendem a ser mais inseguras do que a opinião dogmática de juristas experientes. Tal como na medicina, é preciso um conhecimento empírico muito grande para que os conhecimentos obtidos por meio de pesquisa científica sejam sólidos o suficiente para justificar um abandono dos diagnósticos baseados na cultura compartilhada e das terapias tradicionalmente aceitas.
Além disso, a solução das controvérsias jurídicas está sujeita a uma premência que tende a inviabilizar a utilização de uma estratégia científica de enfrentamento. É tão grande o tempo demandado para que os cientistas conheçam devidamente os seus objetos que, muitas vezes, uma resposta segura somente seria viável depois de um prazo incompatível com as necessidades sociais. Em março de 2020, os políticos precisavam decidir imediatamente sobre as medidas de enfrentamento da pandemia de coronavírus, muito embora os cientistas tenham demorado meses para desenvolver um conhecimento relativamente seguro e detalhado sobre a doença.
Nos quinze dias de prazo para escrever uma contestação, é simplesmente impossível formular e executar uma pesquisa científica. Para atividades práticas sujeitas a esse nível de premência, parece mais adaptada a aplicação de estratégias dedutivas, que podem ser feitas a partir do conhecimento acumulado até então, do que estratégias fundadas na construção de análises indutivas que desenvolvessem novos conhecimentos. Isso faz com que o trânsito de uma prática baseada em experiências tradicionais para uma prática baseada em evidências empíricas dependa de uma longa e custosa acumulação de conhecimento científico, visto que somente nessa hipótese podemos esperar que o resultado de sua utilização ofereça resultados mais seguros do que a intuição dos profissionais experientes. Uma pesquisa médica cuidadosa sobre o coronavírus é mais valiosa do que as intuições de qualquer médico clínico. Porém, antes que essas pesquisas viessem a esclarecer os resultados das diversas estratégias implementadas no mundo, a intuição dos clínicos e dos epidemiologistas era provavelmente o guia mais seguro de que dispúnhamos.
O conhecimento científico, portanto, é muito caro, muito demorado e exige um acúmulo gigantesco até que se torne útil. Essa combinação faz com que ele pareça muito eficiente para tratar de contextos estáveis, que justifiquem anos de pesquisa para a sua compreensão e décadas de esforços para a construção de uma teoria consistente. Podemos passar anos desenvolvendo um avião, um foguete ou um submarino, pois temos a expectativa de que, uma vez alcançado certo patamar de conhecimento, ele será muito útil, por muito tempo, dado que temos uma expectativa razoável de que as leis da física permaneçam constantes. Em compensação, se passarmos o mesmo tempo desenvolvendo um sistema de controle de constitucionalidade ou de definição de danos morais, o mais provável é que os contextos sociais que tornariam úteis esses artefatos já tenham sido substancialmente alterados até lá.
Quando os contextos de uso de um artefato são mutantes, não faz muito sentido passar décadas em busca de um conhecimento adequado acerca de fenômenos que provavelmente vão se modificar substancialmente antes que sejamos capazes de compreendê-los adequadamente. Logo, não deve causar espanto que o conhecimento jurídico continue sendo ligado a um discurso interno, baseado nas crenças compartilhadas e pouco permeável a pesquisas empíricas.
Outro problema das abordagens científicas é que elas tipicamente geram uma série de tensões porque fatalmente conduzem à percepção de que as narrativas internas não correspondem às práticas efetivas. Esse caráter iconoclasta da ciência não confere aos cientistas um reconhecimento social amplo, exceto em situações de crise. Como percebeu Richard Rorty, o pensamento reflexivo somente é sentido como socialmente relevante nos momentos em que tudo está desmoronando, e não confiamos mais na capacidade dos porta-vozes da opinião pública hegemônica (Rorty, 2005). Em tempos mais estáveis, as previsões científicas sobre os riscos da mudança climática ou de possíveis pandemias são recebidos com certo ceticismo por uma opinião pública que acredita mais nas intuições dominantes que nas previsões (por vezes catastróficas) de especialistas que nos instam a mudar as estruturas sociais para nos adaptarmos aos riscos do futuro.
Assim como os pais tendem a reagir mal a quem critica com justiça seus filhos, os membros de uma sociedade tendem a reagir mal a quem critica as suas crenças arraigadas. Por mais que o modo como as culturas descrevem a si mesmas seja muito importante para a identidade do grupo, as narrativas tradicionais produzem discursos mitológicos comprometidos com a justificação e com a reprodução de certas práticas culturais que podem ser muito danosas em contextos muito diferentes daquele em que essas crenças sociais foram desenvolvidas e se tornaram hegemônicas.
A descrição externa de certas práticas religiosas como repertórios de crenças compartilhadas não pode ser compatibilizada com a descrição interna de que certos livros são sagrados e portam uma verdade objetiva. A descrição externa de que as decisões judiciais reproduzem privilégios estratificados dificilmente pode ser compatibilizada com a ideia de que elas realizam um sistema objetivamente válido.
Todo discurso interno é baseado em um repertório de mitos que uma observação externa tende a tratar como ficções, mas que os próprios membros tratam normalmente como verdades. A comunidade dos juristas aceitou de bom grado a descrição de Kelsen de que o direito pode ser visto como um sistema de normas, mas tende a rejeitar de forma incisiva a afirmação kelseniana de que a validade do sistema é puramente ficcional.
Assim, vemos que o exercício adequado do discurso interno do direito (ou seja, do discurso dogmático) conduz à produção de discursos sentidos como sólidos pela comunidade dos juristas. Já o exercício adequado do discurso externo sobre o direito exige a produção de um conhecimento de base empírica, que é cada vez mais importante para que os juristas possam realizar suas escolhas estratégicas.
3.1.2 Pareceres e pesquisas
A academia jurídica tradicionalmente não é um lugar onde se desenvolveu pesquisa científica propriamente dita, pois o discurso que se convencionou chamar de ciência do direito não tem um caráter propriamente científico. O conhecimento jurídico, entendido como o conhecimento a partir do qual os juristas podem formular opiniões técnicas adequadas, não é composto por modelos descritivo/explicativos, mas por modelos normativos/dogmáticos. Formar técnicos é muito diferente de formar pesquisadores, e a academia jurídica está tradicionalmente ligada promoção de um saber prático (Tholozan, 2021), consistente na capacidade de produzir textos adequados aos parâmetros da dogmática jurídica.
Por assumir uma função primordialmente didática, voltada à transmissão de um conjunto de saberes e habilidades, a academia jurídica um lugar de reprodução de conhecimentos, mais do que de produção científica. Tradicionalmente, existe uma atividade teórica, mas trata-se da produção de uma teoria normativa que busca orientar a prática do direito, oferecendo parâmetros de interpretação e aplicação do direito. Essa teoria normalmente não é produto de uma atividade coordenada de muitos cientistas, mas de esforços de sistematização realizados por pessoas com amplo conhecimento dos padrões dogmáticos vigentes. O que se chama de teoria são redes de classificações e de conceitos utilizados para distinguir as várias situações analisadas e suas possíveis resoluções, o que conduz a uma discussão focada na identificação das consequências normativas do direito vigente.
Essa é uma dogmática semelhante à dogmática da própria metodologia de pesquisa, que tampouco é uma disciplina científica, mas técnica. Na metodologia, discutimos quais são as melhores formas de planejar e executar uma investigação, os tipos de pesquisa, as relações do problema com o marco teórico, as dificuldades conceituais envolvidas na realização de uma pesquisa. São todas perguntas feitas dentro do marco de que é preciso oferecer orientações técnicas sobre a melhor forma de emitir opiniões jurídicas sólidas.
No caso das teorias dogmáticas, a noção de verdade desempenha um papel secundário, pois o caráter normativo das distinções não aponta para uma correspondência entre enunciados e o mundo (que é normalmente o padrão de veracidade), mas para o reconhecimento hegemônico de certas distinções dentro da cultura vigente. A discussão sobre os efeitos da sentença, sobre as possibilidades de progressão de regime em certos casos, sobre o cabimento ou não de certos recursos, nada disso aponta para uma solução que dependa de uma análise empírica de fatos. Todas essas questões são hermenêuticas, são questões interpretativas que apontam para certas formas de compreensão do direito.
O debate acerca dos parâmetros corretos de interpretação e aplicação é o núcleo da dogmática, e boa parte da produção acadêmica do direito ocorre dentro desses marcos, em que o tipo de trabalho usual é um ensaio teórico que opera na chave do parecer: uma proposta técnica acerca da melhor forma de resolver determinados problemas interpretativos.
Esses pareceres são de relevância inegável para o direito, na medida em que eles possibilitam uma constante renovação dos discursos dogmáticos e dos quadros de categorias que orientam a prática do direito. A maior parte do debate acadêmico sobre o direito ocorre neste campo da dogmática, com perguntas acerca dos modos adequados de interpretar e aplicar o sistema jurídico. Não é por acaso que essa atividade é chamada de doutrina: trata-se de um campo dos sábios, em que pessoas com alto prestígio utilizam de sua autoridade para apresentar e defender suas opiniões, e nos quais uma opinião passa a integrar o repertório comum na medida em que ela é aceita de forma majoritária.
Portanto, não deve causar estranhamento o fato de que a maior parte dos trabalhos acadêmicos siga a estrutura do parecer: trata-se de uma tese, defendida a partir da justaposição de argumentos, que seguem normalmente uma estrutura canônica e que culminam em uma opinião justificada sobre algum tema dogmático. Esses não são trabalhos de pesquisa, pois não têm nenhuma interface com elementos empíricos a serem investigados, mas são trabalhos de estudo: estuda-se um tema como forma de subsidiar a sustentação argumentativa de uma tese que, de antemão, o autor presente defender.
Essa é uma forma de trabalho que pode ter espaço na pós-graduação, especialmente na pós-graduação lato sensu, que muitas vezes não tem uma interface muito direta com a pesquisa. Porém, nos últimos 15 anos, tem havido uma crítica intensa a esse modelo de produção acadêmica, que repetidas vezes é apontado como uma forma de produção não apenas pouco científica, mas também pouco relevante.
Na dogmática, o peso dos argumentos depende muito do prestígio de quem os enuncia. A dificuldade de produzir discursos dogmáticos nos trabalhos acadêmicos é que eles são normalmente elaborados por juristas novos, sem um prestígio que os destaque no meio jurídico, de tal modo que suas opiniões dificilmente ganham espaço dentro do próprio discurso dogmático. Essa falta de relevância dogmática dos estudos dogmáticos fez com que os trabalhos acadêmicos no direito fossem percebidos basicamente como um requisito para obtenção do título, uma exigência didática e não propriamente uma contribuição original para o conhecimento jurídico.
Essa é uma posição diferente do que ocorre em campos acadêmicos voltados à pesquisa, pois o potencial de impacto de uma pesquisa empírica depende menos da autoridade do autor do que do caráter inovador dos resultados alcançados. Nas pesquisas científicas, contam mais o caráter impessoal do método do que os atributos pessoais do pesquisador.
As características técnicas da formação dos juristas fazem com que, para eles, realizar pesquisas científicas seja normalmente um desafio. O fato de os juristas serem profissionalmente treinados a produzir pareceres, e não pesquisas, faz com que nosso lugar de conforto esteja na elaboração das teses que defendemos na qualidade de especialistas. Conhecemos bem o nosso auditório, sabemos que tipos de argumentos são aceitáveis e nos sentimos confortáveis nesse jogo retórico que comporta muitas verdades. Essa peculiaridade do discurso jurídico faz com que boa parte da produção acadêmica seja composta por pareceres (em que se defende uma tese) e não por pesquisas (em que se investiga uma questão).
Tanto os pareceres quanto as pesquisas partem de intuições, mas enquanto os pareceres se voltam a justificar uma opinião, as pesquisas são voltadas a colocar opiniões à prova, o que resulta em abordagens opostas. Na pesquisa, a opinião é sempre provisória e a função do investigador é submetê-la a testes, de forma que toda metodologia precisa envolver a possibilidade de que o trabalho conclua que a intuição inicial era falsa. Já nos pareceres, o objetivo não é testar uma hipótese, mas conquistar retoricamente a adesão do auditório, o que faz com que a intuição do parecerista seja defendida e não testada.
No caso dos advogados, a necessidade de defender uma das partes faz com que o seu discurso se volte a fundamentar as pretensões da pessoa representada. No caso dos juízes, mesmo que não exista comprometimento a priori com um dos lados, o que se exige deles não é uma investigação, mas uma opinião: a sentença é um parecer dotado de autoridade, mas a lógica de sua redação é a mesma das petições iniciais, qual seja, defender uma posição determinada.
O discurso dogmático tem esse formato de opiniões contrapostas (de advogados e consultores) e de convicções dotadas de autoridade (dos juízes), nas quais a questão fundamental é encontrar justificativas sólidas para as posições defendidas por cada ator. Isso faz com que o discurso jurídico use argumentos de forma bastante seletiva: somente há lugar para os argumentos que favorecem a opinião defendida.
Os bons juristas são conscientes dos pontos fracos dos seus argumentos, mas essas fraquezas nunca são evidenciadas, visto que elas colocam em risco o potencial retórico dos pareceres. Já o discurso acadêmico tem uma abordagem muito diversa: como é preciso testar as próprias opiniões, é necessária uma abordagem explícita de suas forças e de suas fraquezas, para avaliar se a hipótese discutida no trabalho tem mais potencial do que as hipóteses alternativas. O bom pesquisador não pode ocultar as fraquezas e os limites de sua tese, mas precisa esclarecê-las.
O pesquisador precisa ser muito consciente do que ele não sabe, dos limites de suas respostas, de que nosso conhecimento sobre o mundo é insuficiente para responder boa parte das questões. Ele precisa saber que sua resposta adota pressupostos, precisa esclarecer esses pressupostos para o leitor, para que seu texto não seja uma armadilha retórica. De fato, o texto até pode ser uma peça de retórica (qual não é?), mas a retórica acadêmica envolve um grau de esclarecimento que a retórica dogmática não tem.
A retórica dogmática dos juristas parte do pressuposto de que o direito oferece soluções jurídicas para todos os casos relevantes. Basta interpretar as normas com cuidado, que podemos chegar aos resultados corretos. E não podemos simplesmente dizer: não sabemos. O jurista precisa resolver problemas, independentemente dos limites de seu próprio conhecimento. O cientista não precisa. De fato, ele precisa saber diferenciar os problemas que ele sabe resolver daqueles que ele não sabe.
O jurista nunca pode responder não sei. Já o cientista precisa reconhecer sua ignorância sobre certos pontos, pois é daí que vem o ímpeto da pesquisa: descobrir o que não sabemos. Essas diferenças de perspectiva fazem com que seja muito difícil para os juristas de profissão fazerem pesquisa. A tendência dos juristas é partir de uma opinião intuitiva e buscar elementos que a corroborem, o que os conduz a escrever pareceres voltados a defender as próprias teses. O parecer nunca atenta contra a tese defendida pelo jurista e, na academia, os estudantes muitas vezes ingressam em um curso de pós-graduação com a ideia de defender uma tese e não de investigar uma questão.
A atividade acadêmica e científica sempre parte de uma dúvida e, por isso, todo problema de pesquisa pode ser descrito como uma pergunta. Não se trata de comprovar uma tese, mas de avaliar uma questão claramente formulada e cuja resposta se ignora. A pesquisa tem de estar aberta tanto para a comprovação da hipótese (ou seja, da resposta provisória que manifesta a intuição do pesquisador), quanto para a sua negação. Inclusive, a pesquisa pode nem ter uma hipótese, visto que investigações descritivas podem se voltar ao esclarecimento de um ponto, sem que o trabalho constitua o teste de uma hipótese explicativa, que aponte causas ou efeitos dos fenômenos observados.
Diversamente dos cientistas, os juristas precisam resolver problemas, oferecendo respostas seguras. O discurso jurídico precisa oferecer decisões, mesmo em casos controversos, mesmo em situações obscuras, e precisa fazer isso de forma célere. O pesquisador pode estimar que precisa de dez anos para responder a uma pergunta, o que é incompatível com os prazos sempre curtos do direito. Os juristas precisam oferecer respostas definidas e rápidas, tão seguras quanto possível, para todos os conflitos que envolvem direitos e deveres dos cidadãos. Já os cientistas precisam diferenciar claramente o que sabem e o que não sabem, possibilitando respostas muito seguras, mas limitadas a uma quantidade restrita de situações. Essa diferença de ritmos faz com que o conhecimento acadêmico tenha um grau de certeza mais alto, enquanto soluções dogmáticas sejam mais adaptadas ao tempo de resposta socialmente necessário para as decisões jurídicas.
Além disso, o foco do conhecimento dogmático é fugidio. Por um lado, os discursos são voltados especificamente ao processo em que se atua. Por outro, a linguagem da dogmática sempre fala de uma interpretação correta em abstrato. Já o conhecimento empírico tende a adotar como objeto de análise uma população. Não se pode analisar empiricamente o sentido correto das normas nem a aplicação adequada do direito a um caso: o que se pode analisar são os padrões observáveis em populações de objetos: processos, decisões, pessoas que propõem demandas ou são demandadas.
Essa busca por padrões fáticos e não por interpretações corretas faz com que o conhecimento científico tenha objetos muito diferentes dos saberes dogmáticos. Que tipos de argumentos são mais aceitos em matérias tributárias? Quais são as tendências de julgamento de um determinado julgador? Quais são os casos cuja execução é mais rápida? Todas essas são perguntas sobre fatos e, nessa medida, não têm uma resposta na dogmática. Porém, a distinção mais relevante é que o conhecimento dogmático tem um caráter normativo, no sentido de que ele estabelece padrões de aplicação do direito que deveriam ser seguidos. Já o conhecimento científico tem um caráter explicativo, no sentido de que busca compreender fatos e padrões de comportamento.
Não podemos perder de vista que a dogmática é a linguagem própria da atividade jurídica e que as interações comportamentais dos agentes do sistema de justiça (advogados, juízes, promotores, etc.) são mediadas por uma abordagem dogmática. Porém, devemos também reconhecer que abordagens científicas podem ser úteis para os juristas, na medida em que argumentos de fato por vezes são capazes de suplantar argumentos de dever.
3.2 Para além do trivium
3.2.1 O surgimento das universidades
As universidades contemporâneas são instituições que desempenham um conjunto funções heterogêneas. Desde o início do século XIX, elas concentram boa parte da produção científica, realizando pesquisas empíricas que contribuem para o avanço do conhecimento científico nas mais diversas áreas. Porém, não devemos pensar nas universidades apenas como o lugar da ciência, pois até hoje elas dedicam boa parte dos seus esforços para a realização de uma outra atividade: a formação técnica de profissionais especializados. De fato, o objetivo original das universidades europeias, criadas pouco antes do ano 1200, foi proporcionar formação adequada para as profissões ditas liberais, especialmente juristas e médicos.
Antes da era das universidades, as escolas europeias eram instituições religiosas voltadas à formação de clérigos (Sheffler, 2008) por meio do ensino das artes liberais, ou seja, dos conhecimentos que deveriam ser dominados por todos os homens livres, para poderem exercer adequadamente suas funções na cidade. A base desse sistema de conhecimentos é conhecida como o trivium, nome dado ao domínio adequado da linguagem (Gramática), da capacidade argumentativa (Dialética) e da elaboração de discursos persuasivos (Retórica). No início da idade média, esse repertório de saberes foi complementado pelo quadrivium, que envolvia quatro disciplinas ligadas à matemática: a Geometria, a Aritmética, da Astronomia e a Harmonia musical.
Embora a relevância das disciplinas do trivium dispense explicações, a composição do quadrivium somente pode ser compreendida a partir da cosmovisão que o inspira. Na base do quadrivium, está a concepção de que existe uma ordem no mundo terreno e celeste (motivo pelo qual Geometria e Astronomia vêm lado a lado), expressa em proporções (como na harmonia musical) que precisam ser compreendidas em termos matemáticos (aritméticos e geométricos) (Joseph, 2008). O conhecimento dessa ordem superior e imutável não exigia o desenvolvimento de habilidades de pesquisa individual, pois essa ordem já estava devidamente descrita em textos dotados de autoridade: assim, a educação era voltada a capacitar os estudantes a ler e interpretar um certo corpo de textos canônicos.
Um dos livros que contribuiu para cristalizar essa conformação das sete artes liberais foi um curioso texto escrito ao final do Império Romano, em que Martianus Capella narrou As núpcias entre Filologia e Mercúrio, festa na qual cada uma das sete artes liberais faz um discurso, descrevendo os conhecimentos que elas encerram. Nesse texto, as ausências falam tanto como as presenças: a Medicina e a Arquitetura haviam se preparado para falar na festa, mas sua fala foi tolhida porque suas habilidades estão ligadas a assuntos mundanos (Stahl, 1992). A importância deste livro ao longo da Idade Média indica que se esperava dos homens cultos (especialmente dos clérigos) não um conhecimento utilitário, mas o conhecimento da ordem perene das coisas, expressado nas artes liberais. Já os saberes vocacionais, ligados às ocupações que as pessoas poderiam desempenhar na sociedade, eram reconhecidos como importantes, mas não eram suficientemente dignos para ocuparem a formação cultural das elites.
A criação das primeiras universidades representou um passo relevante para a ruptura desse modelo de escolas voltadas à formação do clero, por meio da criação de escolas independentes, autônomas tanto com relação à igreja como em relação aos governos, capazes de propiciar uma educação que aliasse o devido conhecimento das artes liberais com a formação profissional em saberes práticos.
A fundação da Universidade de Bolonha, em 1088, constituiu um marco histórico porque criou uma forma de organizar o ensino a partir dessa associação entre mestres especializados e alunos interessados em uma educação superior, com o objetivo de realizar estudos acerca do Digesto. Os estudantes que pretendiam estudar com esses professores pagavam uma quantia, que inicialmente não era entendida como uma contraprestação, mas como uma doação, embora pouco tempo depois tenha sido formalmente reconhecida como uma remuneração efetiva para os docentes (University of Bologna, 2022).
Essas novas instituições foram chamadas de universidades, mas isso não decorreu de pretensões universais do conhecimento medieval nem de uma aspiração universalista dessas novas escolas. Esse nome se deve ao fato de que a palavra latina para uma pessoa jurídica formada por pessoas era universitas personarum, e as universidades foram constituídas justamente como uma espécie de sociedade: a universitas magistrorum et scholarium, ou seja, a sociedade formada pela associação entre mestres e estudantes, com o objetivo comum de estudar uma determinada disciplina.
As universidades, portanto, não nasceram como um local de ciência e de pesquisa, mas como instituições voltadas a promover a formação profissional especializada de jovens juristas, o que envolvia a realização de estudos avançados nas artes liberais, mas também envolvia o estudo de matérias práticas. Essas novas escolas não se apresentavam como locais de produção do conhecimento, mas de reprodução do saber, a partir da interpretação de textos clássicos cuja autoridade era reconhecida. E cabe ressaltar que a formação dos juristas consistia basicamente na compreensão dos textos do direito romano a partir do pano de fundo das habilidades retóricas de sofisticados cultores do trivium.
Exemplo desse modelo foi a Universidade de Coimbra, responsável por educar os juristas brasileiros ao longo do período de domínio português. Ela foi fundada em 1290, inicialmente com quatro faculdades: Artes (incluindo filosofia), Direito Canônico (Cânones), Direito Civil (Leis) e Medicina. Por volta de 1380, a Universidade de Coimbra passou a incluir também uma faculdade de teologia, matéria que foi inicialmente reservada às instituições religiosas. Essa estrutura perdurou por 400 anos, até que, em 1772, as influências iluministas da administração pombalina promoveram uma reforma na universidade portuguesa, que tornou autônoma a Faculdade de Matemática e instituiu uma Faculdade de Filosofia Natural, responsável pelo ensino das ciências. Foi somente nesse momento que a universidade portuguesa passou a incluir um laboratório químico e um gabinete de física experimental.
A introdução das abordagens científicas refletiu um movimento mais amplo de valorização da ciência, que posteriormente gerou o conceito de universidade de pesquisa (research university): uma instituição que não é voltada unicamente ao ensino, mas que tem como uma de suas funções primordiais a produção de conhecimento científico.
Ocorre que essa introdução das ciências empíricas nas universidades, movimento que se consolidou ao longo do século XIX, significava mais uma agregação de novas disciplinas do que uma alteração substancial nas faculdades estabelecidas. As faculdades de direito continuavam sendo um espaço de formação profissional, voltado especialmente a educar homens capazes de integrar a burocracia governamental.
Não deve causar espanto que o objetivo manifesto da criação dos cursos jurídicos no Brasil, no início do século XIX, tenha sido a formação de funcionários públicos de elite. O objetivo da educação jurídica não era o de conferir uma formação científica aos juristas, não era o de capacitá-los para a pesquisa, mas de educá-los pela tradição do trivium, oferecendo uma cultura suficiente para a formação de uma elite política capaz de realizar o projeto de criação de um Estado independente (Apostolova 2017).
Esse modo de formar os juristas mudou pouco, até os dias de hoje. Os juristas continuam sendo formados como técnicos que dominam perfeitamente o registro culto da língua portuguesa (gramática) e que utilizam esses conhecimentos com vista a produzir discursos persuasivos (retórica), utilizando formas argumentativas (dialética) adaptadas ao seu auditório. Embora os cursos de direito sejam concentrados no ensino das leis, o conhecimento acerca da legislação e da jurisprudência é instrumental: as decisões judiciais e os diplomas normativos são conhecidos para se poder, com base neles, construir discursos que sustentem retoricamente as teses defendidas pelo jurista.
O centro de gravidade das atividades jurídicas continua sendo a retórica, tal como no momento em que as universidades foram criadas. Todavia, os tipos de argumentos relevantes para a dogmática jurídica se modificaram bastante ao longo desses mais de 800 anos de ensino jurídico nas universidades. Inicialmente, tratava-se de estudar o direito romano. Em outros momentos, o estudo da legislação ganhou predominância. Atualmente, os dispositivos constitucionais se tornaram um objeto especial de análise.
Nesse contexto, era de se esperar que a academia jurídica continuasse sendo, ao longo dos séculos, um local mais voltado ao ensino do que à pesquisa. Mesmo que os professores sempre tenham sido estudiosos, os seus estudos não eram tipicamente pesquisas voltadas a fornecer uma compreensão mais adequada dos fenômenos jurídicos, não buscavam produzir uma ciência social, nos moldes da sociologia, da antropologia ou da história.
Tanto os bacharelados em ciências exatas (como a Física e a Química) como em ciências humanas (como Sociologia, Ciência Política e História) têm por vocação formar profissionais capacitados para o exercício da pesquisa, ou seja, da realização de investigações empíricas voltadas a expandir o conhecimento científico acerca de um determinado objeto.
Porém, nas chamadas Ciências Sociais Aplicadas, como Direito, Administração e Economia, os bacharelados costumam ter uma abordagem mais profissionalizante que científica. E isso não significa ter uma formação melhor nem pior, pois os pesquisadores não exercem uma atividade mais difícil nem mais nobre, nem mais criativa que a dos técnicos. De fato, os pesquisadores também são técnicos, com a peculiaridade de que dominam habilidades voltadas à realização de pesquisas científicas, produzindo novos conhecimentos.
Já os juristas tipicamente se voltaram a produzir os discursos dogmáticos que marcam um campo no qual o objeto de estudo não é um objeto empírico (a sociedade, as relações sociais, os comportamentos dos juízes, etc.), mas um objeto ideal, construído por via interpretativa: os direitos e deveres. Isso fez com que os estudantes de direito não tenham sido treinados como pesquisadores, capazes de produzir conhecimento sólido sobre fenômenos empíricos, mas como intérpretes de uma tradição, que se manifesta por meio de teses jurídicas: discursos nos quais um profissional defende retoricamente a existência (ou não) de certos direitos. Uma tradição tão longa e tão estável de educação sugere que, até hoje, as pessoas formadas por esse modelo, ainda centrado no trivium, continuam capazes de exercer adequadamente as funções de advocacia e magistratura.
Começamos com esse pequeno histórico das relações entre universidade e ciência para ressaltar que a dissociação existente entre ensino jurídico e pesquisa científica não é nova. Esse distanciamento faz parte da história das faculdades de direito em geral, não sendo um fenômeno especificamente brasileiro nem contemporâneo. Portanto, ninguém deve se surpreender com o fato de que o discurso dominante dentro das faculdades corresponda àquele manejado pelos juristas em sua prática: a formulação de opiniões, de pareceres, que em nada se aproximam da mentalidade científica que é exigida para o exercício das atividades de pesquisa.
3.2.2 A autorregulação da atividade deliberativa
Tanto nas repúblicas como nos impérios, o poder político se exercia na forma de uma deliberação: era preciso tomar decisões e o processo decisório é sempre argumentativo. Mesmo nos governos mais centralizados, o exercício do poder exige a atuação coordenada de um grande número de pessoas, que compartilham uma cultura determinada e cuja articulação se dá por meio de estruturas discursivas. Por mais que o exercício do governo envolvesse uma hierarquia social estratificada, sempre houve uma tensão entre a autoridade política e os valores culturais de uma sociedade, que são determinantes para viabilizar a ação coordenada das nobrezas e das burocracias por meio das quais era possível exercer uma autoridade imperial.
Toda sociedade envolve o estabelecimento de modelos de atuação coordenada que se processam por meio da linguagem e que envolvem vários níveis de deliberação. Nas repúblicas, esse elemento comunicacional se radicaliza porque é preciso convencer outros cidadãos em várias instâncias deliberativas. Nos reinos e nos impérios, trata-se de convencer os monarcas ou as autoridades por eles investidas, mas também de convencer os outros súditos em uma série de processos sociais que continuam se dando de forma coordenada: nas famílias, nas cidades, nas várias coletividades.
Essa centralidade da deliberação parece justificar o antigo foco da educação dos cidadãos nas habilidades argumentativas. As repúblicas, monarquias e impérios sempre precisaram de profissionais especializados, capazes de operar a burocracia, de projetar e construir prédios públicos, de curar os doentes. Porém, a formação básica esperada de todas as pessoas que podiam desempenhar um papel ativo na política era o domínio dos saberes básicos do trivium (que viabilizavam uma interação social mais complexa) e, eventualmente, as disciplinas matemáticas do quadrivium (mais especializadas, mas que também tinham uma aplicação transversal).
A ideia de que a educação estava ligada ao desenvolvimento de habilidades é antiga. Não se tratava de formar pessoas versadas na teoria dialética ou na história da filosofia, mas cidadãos capazes de elaborar e avaliar argumentações coesas e convincentes. E também é antiga a percepção de que os conhecimentos de maior hierarquia não eram os saberes instrumentais dos técnicos especializados, entre os quais os juristas.
No ambiente cultural da Idade Média, as instituições de ensino estavam ligadas a organizações religiosas, que valorizavam os saberes ligados à alma, aos princípios morais e divinos que eram abordados pela filosofia e pela teologia. Famílias ricas tinham a possibilidade de contratar tutores, uma forma de educação que é feita desde a antiguidade. Porém, as instituições educacionais existentes tinham um caráter eclesiástico e estavam ligadas à Igreja Católica, que valorizava o trivium, mas não tinha qualquer ligação com a formação especializada de profissões mundanas como as de juristas, arquitetos ou médicos. Esse tipo de habilidade prática não era transmitido em instituições voltadas à educação, mas pela inserção nas organizações profissionais ligadas ao exercício de tais ofícios.
Contrapondo-se a tal desvalorização dos saberes aplicados, a fundação da universidade de Bolonha estabeleceu o modelo para as entidades educacionais que dominaram a cena na idade moderna: entidades laicas, centradas no interesse dos estudantes de obter formação profissional de qualidade. A universidade surgiu no início do Renascimento, como uma associação de estudantes interessados em viabilizar um ensino técnico, inicialmente para a formação de juristas e depois também de médicos.
A ideia de uma universidade como lugar de produção científica é bastante posterior, estando relacionada com a revolução científica que valorizou conhecimentos como a física, a química e a biologia. Todavia, não podemos perder de vista que a valorização da ciência, radicalizada no século XIX, não decorreu de sua capacidade de nos aproximar da verdade, e sim de sua capacidade de gerar tecnologias inovadoras, que aumentavam o poder político das nações com maior desenvolvimento científico: armas mais eficientes, máquinas fabris, luz elétrica, trens de ferro: ao longo do século XIX, ficou claro que o conhecimento científico era um motor de alterações sociais significativas.
A produção de conhecimento científico é uma atividade complexa, que exige técnicos especializados: os pesquisadores. A transformação desses conhecimentos em novos artefatos tecnológicos também exige atividade técnica especializada, especialmente de engenheiros capacitados a desenvolver técnicas construtivas, a incorporar novos materiais, a desenvolver estratégias de produção em larga escala.
Físicos, químicos e biólogos são pessoas que detém certos tipos de conhecimento, mas não são pessoas necessariamente habilitadas a praticar um ofício. Para designar esse tipo de conhecimento teórico, desvinculado de uma prática, costumamos utilizar atualmente a expressão ciência pura, que se opõe às ciências aplicadas, entre as quais incluímos o direito, a administração e as engenharias, cursos nos quais se trata de formar profissionais habilitados ao exercício de certas atividades.
Embora essa distinção pareça simples, ela nos projeta em um campo repleto de ambiguidades, decorrente do fato de que usamos a mesma palavra (como direito, medicina e engenharia) para falar de ao menos três coisas diferentes:
- ramos do conhecimento,
- cursos universitários e
- atividades práticas.
Por um lado, parece razoável entender que a realização adequada das atividades práticas dos juristas exige uma formação específica, que hoje é feita nas faculdades de direito, entidades educacionais encarregadas de formar os profissionais do direito. Ocorre que a atividade dos juristas envolve o domínio de uma techne, um saber que combina conhecimentos teóricos e habilidades que não pode ser adequadamente descrita como um conhecimento aplicado. Não parece exata a afirmação de que um bom cozinheiro tem um conhecimento aplicado: o que ele tem é a capacidade de realizar atividades que envolvem a aplicação de determinados conhecimentos culinários (como certas receitas e modos de preparo) e não culinários (como física e química).
Tampouco é razoável indicar que ele tenha certos conhecimentos puros e outros conhecimentos aplicados, porque todo conhecimento, enquanto conhecimento, é um conjunto de informações. A capacidade de realizar uma atividade prática envolve o domínio de certos conhecimentos, mas ela própria não é um conhecimento, e sim. uma competência, que pode ser desenvolvida em certos cursos voltados especificamente a essa finalidade. Cursos universitários voltados a produzir certos conjuntos de competências podem ser chamados de aplicados, em oposição a cursos puros, voltados a transmitir conhecimentos. Todavia, não faz sentido considerar que cursos aplicados ensinam conhecimentos aplicados: eles ensinam a aplicar conhecimentos.
Além disso, devemos ter em conta que os cursos chamados de ciências puras também formam pessoas aptas a desempenhar atividades práticas, pois eles formam professores (aptos a reproduzir o conhecimento disponível) e pesquisadores (aptos a produzir novos conhecimentos). Como acentuou Lyotard, na Condição pós-Moderna, a modernidade entende a ciência como uma série de conhecimentos descobertos, mas uma percepção histórica nos mostra que se trata de conhecimentos produzidos. Existe toda uma economia de produção de conhecimentos, que envolve escolhas políticas e estratégicas voltadas a entender que tipo de pesquisa será financiada e, com isso, define-se o tipo de conhecimento que será produzido pelas instituições de pesquisa.
A ciência não é um processo de descoberta, mas é um processo de produção, orientada por políticas de fomento que cristalizam escolhas ideológicas. Isso não significa que exista um conhecimento médico de direita e outro de esquerda, no sentido que os conteúdos científicos serão ideologicamente determinados, mas que políticas de fomento diversas produzirão conhecimentos bastante diferentes. Esse conhecimento produzido será submetido a uma dinâmica de reprodução, por meio do qual se formam profissionais habilitados a concretizar esses saberes na forma de práticas profissionais.
Mas quais são os saberes que devem ser reproduzidos nas instituições de ensino? Que tipo de conhecimentos e de habilidades devem ser oferecidos aos estudantes que estão em processo formativo para se tornarem profissionais especializados?
Como já foi explicado no capítulo anterior, a palavra latina que designa a sua disciplina tem origem em uma categoria grega ligada a atividades que envolvem juízos morais: a phronesis, traduzida para o latim como prudentia. A atividade dos juristas tem uma dimensão ética que escapa às techne, cujo caráter é eminentemente instrumental. A formação de um cozinheiro, assim como a de um ginasta, envolve um longo processo de aprimoramento, que os torna peritos em uma técnica, mas que não os capacita a realizar escolhas justas. Já no caso dos juristas e dos políticos, uma prática excelente envolve a capacidade de tomar decisões justas, motivo pelo qual os gregos diferenciaram a excelência técnica do que eles chamaram de phronesis: uma capacidade de identificar os fins éticos a serem alcançados por uma decisão, e de agir conforme a justiça e o bem.
3.3 Jurisprudência x Modernidade
3.3.1 Técnica e jurisprudência
A jurisprudência não é apenas um saber técnico, como o dos pintores e dos geômetras, mas é um saber moralmente orientado, uma perícia cujo resultado específico é a de tomar decisões eticamente adequadas. Essa mescla se revela especialmente no fato de que os romanos tinham apenas uma palavra para designar o direito e a justiça: jus. Tal mistura é uma marca das sociedades tradicionais, que foi mantida nas sociedades antigas: os governantes não se apresentam como detentores do poder, mas como detentores de uma autoridade que ligada à sua especial capacidade de fazer valer os valores sagrados (a honra, a lealdade, a probidade, a coragem, etc.) que são coletivamente designados como bem ou como justiça.
A modernidade rompe essa ligação direta entre direito e justiça de uma forma peculiar. Tanto os antigos quanto os modernos partem do reconhecimento de que as pessoas buscam realizar os seus próprios desejos, mas lidam de forma diferente com essa percepção. A intuição dos antigos era a de que uma educação adequada poderia disciplinar os desejos individuais, cultivando em cada pessoa uma disposição intrínseca para realizar ações justas. As pessoas não nasciam boas, mas poderiam ser tornadas boas por um longo processo educativo, que as ensinasse a desejar o bem e a rejeitar o mal. O resultado dessa Paideia seria a formação de bons cidadãos: pessoas em que havia uma convergência entre as disposições individuais e os valores de justiça. Nas palavras de Aristóteles:
Daí a importância, assinalada por Platão, de termos sido habituados adequadamente, desde a infância, a gostar e desgostar das coisas certas; esta é a verdadeira educação. (1104b)
Outra intuição muito antiga é a de que é muito difícil fazer escolhas adequadas quando somos movidos por intensas emoções, que turvam a nossa percepção dos riscos e dificultam uma análise cuidadosa das consequências de nossas ações. Essa percepção é normalmente ligada ao estoicismo, uma escola helenística que propunha o desenvolvimento da ataraxia, ou seja, da capacidade de permanecer calmo mesmo frente às situações mais desafiadoras. Esse tipo de controle era valorizado por Aristóteles, mas o Estagirita não a concentrava em uma categoria singular, mas desdobrava essa capacidade em várias excelências, que compunham parte de nossa vida ética: por exemplo, a coragem envolvia o controle do medo (1115a), a moderação envolvia a relação prazeres do corpo (1117b) e a amabilidade envolve o controle da cólera (1125b). O fato de os estoicos concentrarem todas essas noções de controle emocional na noção de ataraxia indica o grande valor que eles davam para essa habilidade, mas não negava a importância da Paideia: por mais que o exercício adequado da phronesis somente pudesse ocorrer quando a pessoa tivesse serenidade suficiente para não ser movida pelas suas emoções mais básicas (especialmente o medo e a libido), era necessário um cultivo adequado dos desejos para os indivíduos tomarem decisões sábias.
Já os medievais desconfiavam profundamente de projetos sociais baseados na capacidade humana de cultivar seus próprios desejos. Enquanto os gregos e romanos buscavam formar pessoas que desejassem o bem e tivessem serenidade suficiente para realizar ações boas em contextos que provocavam emoções intensas, os medievais desenvolveram, na esteira de Agostinho, uma visão fatalista: cada indivíduo deseja a própria felicidade a tal ponto que, para alcançá-la, está disposto a sacrificar tanto a felicidade dos outros quanto as regras sociais sobre o bem e a justiça. Dentro desse cenário, a Paideia aparece como um ideal utópico inalcançável, a ser substituído por uma disciplina que, embora mais rígida, também se apresentava como mais realista: a alternativa medieval não era a de cultivar os desejos, mas a de dominá-los.
Ocorre que essa ideia de dominar os próprios desejos é paradoxal, pois são eles que nos movem. Para Aristóteles, a concupiscência (busca exagerada pelos prazeres do corpo) era uma deficiência moral, mas a apatia também, pois a insensibilidade nos torna alheios às coisas que nos deveriam mobilizar. Uma repressão muito intensa dos desejos nos conduz a uma forma de niilismo que não parece compatível com uma vida moralmente significativa: se todo desejo é ruim, o que deveríamos fazer? Devemos a Nietzsche uma análise cuidadosa desse niilismo e a percepção de que uma radicalização da ataraxia (que ele enxergava na defesa budista da não-ação) poderia nos levar a uma forma perniciosa de imobilidade e conformismo. A resposta dos cristãos medievais foi a de que era preciso um intenso controle emocional (como pregavam os estoicos) para que a ação humana pudesse ser voltada a realizar os valores do bem e da justiça, cuja forma absoluta era o deus cristão.
Para os estoicos, tratava-se de ter controle emocional suficiente para que a pessoa pudesse agir conforme a razão. Para os cristãos, a própria razão não era um bom guia, pois ela também nos apontava para os desejos individuais de honra, de poder e de prazeres. Na leitura aristotélica, era preciso ser moderado, mas não nos caberia ser apáticos: deveríamos ter um pathos devidamente cuidado, para desejarmos as coisas boas. Mesmo nos estoicos, o controle emocional tinha uma função instrumental: permitir que a razão humana pudesse efetivamente guiar as nossas ações. Já na leitura agostiniana, malditos são os que confiam nos homens (e nos seus desejos e nas suas virtudes), pois as pessoas deveriam adotar como guia os valores sagrados, que não lhes são dados pela razão, e sim pela submissão completa aos valores cristãos. A possibilidade de uma coexistência pacífica era conquistada pela repressão do prazer corpóreo, sempre interpretado como um óbice para a realização dos ideais de pureza que o cristianismo ligava à alma.
A modernidade não abandona o ceticismo de Agostinho, embora seja ela própria cética quanto a nossas possibilidades de sufocar os desejos. Isso ocorre especialmente porque a sensibilidade moderna foi desenvolvida no contexto de uma Europa religiosamente cindida, marcada por grandes divergências entre católicos e protestantes. As guerras religiosas fizeram ruir a ideia de que poderíamos construir uma sociedade equilibrada na medida exata em que ela fosse composta por uma fraternidade de cristãos: católicos e protestantes afirmavam sua lealdade à Bíblia, sua submissão a Jeová, mas esse cultivo das virtudes teológicas não era capaz de gerar a unidade cultural que conseguiria gerar uma estabilidade política mínima. Fixar o sagrado como o critério do bem desencadeou guerras infindáveis, voltadas justamente a estabelecer quais seriam as exigências impostas em nome da vontade divina.
Não parecia que ganhamos muita coisa ao substituir a busca por uma excelência humana pela busca de uma excelência divina. A modernidade radicalizou Agostinho: não se buscava mais excelência alguma. Admite-se que os seres humanos são escravos dos seus desejos e nenhuma concepção moral nem religiosa conseguiria fazer as pessoas atuarem em desconformidade com os seus interesses. Para os modernos, a construção de uma ordem política não pode estar baseada em uma concepção de excelência individual (seja ética ou religiosa), que se mostra inatingível em larga escala.
Na impossibilidade de controlar os desejos humanos e educar cidadãos bons, restava-nos controlar o seu comportamento externo. No discurso cristão, pode-se pecar por atos, por palavras e por desejos. No discurso moderno, as crenças e os desejos são relegados ao campo do privado, a uma esfera íntima que não pode ser regulada e que, de fato, precisa ser protegida. Isso não quer dizer que a modernidade aboliu a crença nos valores eternos, nas verdades absolutas ou nos direitos naturais. Toda essa rede de conceitos usada para falar da ordem imanente do mundo se manteve, e os modernos se dedicaram com afinco a compreender essa estrutura imutável da realidade, seja na filosofia, seja nas ciências ou mesmo nas artes. Charles Baudelaire afirmou que metade da arte moderna é o transitório, o fugidio, o contingente, e a outra metade é o eterno e o imutável ("La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable"). (Baudelaire, 2009)
A modernidade é barroca, dividida entre sua crença em uma realidade eterna, acessível unicamente pela razão, e sua crença de que os humanos são radicalmente limitados pelos seus sentidos e pelos seus desejos. Esse equilíbrio instável somente se viabiliza pela permanência de uma velha concepção, que acompanha vários de nós até hoje: a ideia de que os seres humanos são uma alma que habita um corpo. Enquanto corpo, habitamos o mundo empírico que conhecemos imperfeitamente por nossos sentidos. Enquanto alma, somos também parte de um mundo abstrato e espiritual, por meio do qual podemos conhecer as verdades do mundo e os valores da natureza.
Gregos e cristãos afirmavam, cada qual à sua maneira, a prevalência do espiritual sobre o corpóreo. Os modernos não fogem desse mesmo padrão: eles retomam a ideia grega de que a racionalidade poderia revelar os princípios do mundo, e buscam um conhecimento empírico capaz de revelar as estruturas metafísicas da realidade. O ápice dessa construção é o edifício moral kantiano, no qual se busca afirmar a racionalidade de certos princípios morais, mas no momento de explicar os motivos pelos quais somos obrigados a seguir esses princípios naturalmente racionais, a resposta é curiosamente arcaica: porque somos ao mesmo tempo alma e corpo e, assim, nossa alma tem a obrigação de seguir as diretrizes que decorrem de sua própria natureza intelectiva.
As narrativas modernas são construídas a partir dessa cisão entre alma e corpo, entre consciência e empiria, que possibilitam uma mediação paradoxal entre princípios metafísicos da natureza (que devem organizar nossas atividades deliberativas morais e políticas) e uma observação empírica da realidade (que deve constituir nosso conhecimento científico). Esse tipo de equilíbrio nunca nos rendeu teorias equilibradas, visto que elas terminam por naturalizar as percepções culturais, cristalizando preconceitos de uma cultura como se eles fossem parte da estrutura valorativa do mundo.
Esse é um tipo de cisão que tem profundas implicações no discurso sobre a natureza. Por um lado, os modernos confiaram na busca racional pelas estruturas objetivas do mundo, que não podiam decorrer de uma observação da natureza. Por outro lado, desenvolveu-se um discurso natural movido unicamente pelas observações empíricas, que se veio a chamar de ciência.
Antes da modernidade, adotava-se como parâmetro descritivo a noção aristotélica de que era possível explicar fenômenos naturais a partir de sua finalidade intrínseca (causa final) ou dos fenômenos que os desencadeavam (causa eficiente). Ocorre que a finalidade das coisas é como o desejo das pessoas: não se trata de um fenômeno observável, mas de um elemento que precisa ser inferido dos fatos e depende fundamentalmente da visão de mundo do observador. Numa sociedade complexa, não é possível o consenso sobre os desejos legítimos nem sobre a finalidade das coisas, motivo pelo qual é melhor deixar esse tipo de explicação para as narrativas privadas, de caráter mítico-religioso.
Assim como o direito moderno passou a regular somente a conduta humana (e não seus desejos íntimos), a ciência moderna passou a analisar simplesmente a ocorrência dos fatos (e não suas finalidades intrínsecas). A ciência moderna é construída pela pesquisa, pela observação cuidadosa dos fatos e pela elaboração de hipóteses explicativas que sistematizem as nossas percepções. Mas isso não quer dizer que os modernos desacreditavam da ordem natural do mundo! Eles apenas atribuíam o conhecimento dessa estrutura imanente a outras disciplinas, notadamente à filosofia e às matemáticas.
Ocorre que os modernos acreditavam na ordem imanente do mundo, mas também acreditavam que as pessoas tendiam a projetar na realidade seus desejos e suas crenças.
Em vez de apostar na estratégia antiga, de formar boas pessoas, as perspectivas modernas deram deu preferência à construção de abordagens impessoais, concentrada no desenvolvimento de metodologias que pudessem ser aplicadas por qualquer indivíduo, sem a necessidade de um especial discernimento. Não se tratava de buscar governantes excelentes nem filósofos comprometidos com a noção de bem, mas de construir estratégias capazes de gerar bons resultados, apesar de serem operadas por pessoas que valorizam o seu benefício pessoal acima de qualquer noção de bem ou de interesse coletivo.
Esse é um câmbio que foi sendo realizado paulatinamente e que se radicalizou no utilitarismo de Bentham e Mill, que avaliavam a moralidade de uma ação a partir de suas consequências, e não de suas causas. Mas a maioria dos modernos não estava disposta a seguir essa vertente puramente utilitária, que reduz a justiça a um cálculo de interesses. Continuava forte a ideia de que existem certos valores naturais e que, portanto, eles poderiam servir como base sólida para a apreciação moral. Essa crença em valores a serem revelados por uma reflexão racional fez com que a modernidade jurídica não produzisse discursos científicos. Os juristas modernos desenvolveram um saber particular, construídos a partir de uma sistematização dos conceitos de direito romano, que lhes ofereceu um sistema que podia ser operado por meio de raciocínios dedutivos.
Os juristas desenvolveram conceitos para qualificar os atos humanos e para decidir acerca de sua compatibilidade com os sistemas normativos concretos, e este saber tem a forma de uma dogmática: um saber técnico, que orienta a tomada de decisões, a partir de critérios cuja validade provém do fato de eles fazerem parte de uma cultura. Não é por acaso que esse saber dos juristas veio a adotar o velho nome latino de jurisprudência e que o conceito de Celso foi repetido por séculos, para qualificar o saber dos juristas como uma arte, uma techne, e não uma ciência.
A própria constituição dos cursos jurídicos, na idade média, constituiu uma afirmação da dignidade do caráter técnico do saber dos juristas. Dentro de um ambiente em que as instituições educacionais se dedicavam a ensinar conhecimentos filosóficos e as artes liberais, os estudantes de Bolonha contrataram professores para ensinar-lhes um ofício, por meio de um estudo cuidadoso do saber prático dos juristas.
3.4 Direito e ciência
A modernidade triunfante dos séculos XVIII e XIX foi acompanhada por uma radicalização da ideia de um conhecimento puramente científico, decorrente unicamente da experiência e de pesquisas realizadas por meio de abordagens rigorosas, que garantissem que o pesquisador interpretasse adequadamente seus dados, em vez de impor-lhes uma ordem preestabelecida por seu sistema de crenças.
O saber científico deve ser pura ciência, desprovida de uma prudência, de uma técnica decisória, de uma dogmática que precisa operar noções teleológicas como a finalidade da lei e que precisa multiplicar apreciações que não decorrem de observações rigorosas, como a determinação das vontades dos contratantes ou do dolo de um criminoso. O saber dos juristas não é observacional, não é indutivo, mas tradicional: são formas estabelecidas pelo uso, são estratégias validadas pela experiência, são conceitos extraídos de um sistema construído por via interpretativa, a partir do Corpus Juris Civilis.
Esse ideal de purificação foi manifestado especialmente por Auguste Comte, que diferenciou as abordagens metafísicas (baseadas em sistemas filosóficos, que faze referência a princípios morais, objetivos sociais e outros elementos extraídos de concepções culturalmente determinadas), das abordagens científicas, que ele chamou de positivas. Comte deixou claro que era possível fazer uma ciência empírica da sociedade (a sociologia), mas essa abordagem coloca o saber dos juristas estava ao lado das abordagens filosóficas e valorativas, das técnicas tradicionais, e não do rigoroso conhecimento observacional dos cientistas.
Uma das consequências filosóficas do positivismo foi demonstrar a inviabilidade de mantermos a distinção grega entre techne e phronesis, pois as abordagens modernas negam a possibilidade de um conhecimento rigoroso acerca de entidades metafísicas. Se os gregos exigiam dos políticos um conhecimento rigoroso do bem, os modernos afirmaram que a existência de múltiplos interesses inviabilizava a atuação política referida a um bem absoluto. Podemos atuar em nome das preferências políticas do eleitorado, em nome dos interesses comuns, em nome da promoção de certas pautas valorativas, mas torna-se muito difícil defender que as preferências valorativas de um indivíduo (ou de um grupo) são objetivamente válidas e, por isso, podem ser impostas pelo governo como resultado de um saber (e não de uma preferência).
Antes do positivismo comtiano, a modernidade ficou no terreno ambíguo do iluminismo e de sua tentativa de acoplar a ideia de liberdade individual e de religiosidade privada com um direito natural universalmente válido e acessível pela razão. Para o positivismo, a razão não é capaz de "iluminar" o bem, mas apenas de iluminar os fatos, as relações de causalidade, as interações entre fenômenos empíricos.
O positivismo radicaliza a percepção de David Hume, para quem a racionalidade era meramente instrumental, sendo incapaz de nos orientar quanto aos valores (Hume, 2001). Até Hume, a modernidade permaneceu ligada à paradoxal ideia de que havia ciências empíricas (baseadas no desenvolvimento indutivo a partir de observações) e ciências racionais (baseadas na dedução operada a partir de verdades ou valores naturais, identificados pela razão). Hume rompeu essa dualidade afirmando o primado da empiria e da historicidade: todas as construções simbólicas seriam artificiais, decorrentes de nossas inclinações, de nossos desejos, e não de uma capacidade racional de observar o mundo e identificar os valores objetivos. A radical historicização, iniciada por Hume, foi uma ferida da qual os modernos tentaram se curar, mas que nunca conseguiram cicatrizar devidamente.
Kant foi um dos últimos filósofos a tentar acomodar uma visão racionalista com a tentativa de comprovar a validade objetiva de certos deveres morais (Kant, 1996). A frágil teoria kantiana dos direitos, com suas tentativas de justificar racionalmente os preconceitos de sua época, serve como forte argumento a favor da tese positivista de que uma abordagem científica do direito conduziria à sociologia, e não à dogmática e a suas técnicas decisórias.
O conhecimento dos juristas é mais parecido com a dos cozinheiros, que são capazes de realizar pratos deliciosos, sem que para isso precisem de um conhecimento profundo de química ou de física. Não importa o regime de crenças pelo qual os cozinheiros alcançam seus pratos: não importa se eles repetem procedimentos aprendidos, se eles acreditam atuar em transe divino, se eles creem em poderes mágicos de cada tempero.
Abandonada a ideia grega de que a razão conseguiria identificar o bem no mundo, não teríamos mais motivos para considerar que o saber jurídico (ou político) seja diferente dos demais saberes práticos, como a ginástica e a culinária. Ainda mais grave para a imagem própria dos juristas: trata-se de uma técnica ligada à aplicação prática de certos sistemas simbólicos, como a teologia e a filosofia. Não consigo imaginar um conceito de ciência do direito que abarque o saber dos juristas e não envolva também a admissão de uma ciência do tarô ou de uma ciência da astrologia.
Creio que Kelsen tampouco conseguia, tanto que ele tentou diferenciar claramente o que poderia ser uma ciência jurídica (ligada ao campo do conhecimento) e uma política jurídica (ligada ao exercício decisório). Essa dualidade entre racionalidade e política mostra as origens modernas de Kelsen, mas o resultado de suas reflexões é incompatível com a sensibilidade barroca dos modernos: seguindo Hume, Kelsen afirmou a impossibilidade de compatibilizar esses dois elementos. Para Kelsen, assim como para Wittgenstein, não é possível uma ciência vinculada obrigatoriamente ao bem nem é possível uma política vinculada à verdade. Em Kelsen, a modernidade mostra radicalmente o seu caráter paradoxal: seus desejos são incompatíveis e suas respostas não cessam de nos gerar uma mistura de pseudociência com justificativas ideológicas de nossas preferências políticas.
Essa é uma crítica demolidora para a filosofia do direito de matriz moderna, mas é uma crítica que passa ao largo da prática jurídica, que nunca levou os filósofos a sério. De fato, o direito é uma atividade social que nunca se tornou propriamente moderna. A mitologia própria dos juristas nunca abandonou a ideia antiga de que a deliberação pode nos conduzir à verdade, o que faz com que a jurisprudência tenha adotado como paradigma o conhecimento medieval, com suas grandes sistematizações metafísicas, e não a ciência moderna. Os juristas modernos estão mais próximos de Tomás de Aquino do que de Descartes ou de Hobbes, especialmente porque eles continuaram sendo formados na velha tradição do trivium.
Esse foco nas capacidades argumentativas é uma das marcas do pensamento antigo contra o qual se voltou uma modernidade muito desconfiada acerca das potencialidades heurísticas da retórica. Para os modernos, o verdadeiro conhecimento não deveria ser justificado argumentativamente, mas demonstrado de maneira objetiva, de preferência matemática, a partir de uma observação exaustiva dos fatos. As habilidades argumentativas dos advogados e dos clérigos eram um risco para a ciência, na medida em que eram capazes de mobilizar os sentimentos das pessoas e convencê-las da veracidade de certas teses falsas. Na proteção da Verdade e do Bem, Platão combateu tanto os artistas como os sofistas, cujos discursos promoveriam uma visão distorcida do mundo. Um Platão contemporâneo denunciaria nossa era da pós-verdade, entremeada por fake news e por falsidades disseminadas em redes sociais nas quais a identidade emocional é mais convincente que um argumento logicamente elaborado.
Convencida que a opinião pública (tipicamente conservadora e pouco reflexiva) era um entrave para um conhecimento objetivo do mundo, a ciência moderna produziu discursos que não se apresentavam como estruturas argumentativas, mas como demonstrações cabais. A matematização do conhecimento parecia uma estratégia capaz de superar os limites que nos eram impostos pelas nossas linguagens e pela antiga educação, que tratava todos os temas como objeto de deliberação. A modernidade tentou estabelecer uma fronteira clara entre os campos da ética e da política (em que agimos por meio de uma deliberação orientada por argumentos) e o campo da ciência, em que deveríamos seguir apenas os caminhos sólidos da lógica e da matemática. Foi somente nos debates contemporâneos que os filósofos reinscreveram a ciência na linguagem e passaram a reconhecer que os cientistas não podem comprovar a existência de relações de causalidade e que a verdade científica se relaciona com a sua aceitação pelas pessoas habilitadas em um determinado campo.
Esse trânsito ocorreu de forma muito peculiar no direito. Nunca tivemos uma ciência jurídica desenvolvida, voltada a observar fatos empíricos. O que desenvolvemos no século XIX foi uma abordagem hermenêutica, centrada na interpretação de textos, a partir de cânones interpretativos que deveriam se aproximar dos métodos científicos, mas que nunca conseguiram realizar completamente esse intento. O desejo de ciência era um desejo pelo status de cientista, cuja adoção tem efeitos retóricos claros em termos de legitimidade da atuação judicial, especialmente no turbulento campo do controle de constitucionalidade. Os juristas nunca escaparam totalmente do trivium e sua atividade sempre foi permeada pela deliberação argumentativa. Todos os juristas práticos são exímios retóricos, conscientes da necessidade de produzir discursos alinhados com as concepções de seu auditório, com os cânones culturais estratificados, e também conscientes dos elementos extratextuais envolvidos em uma deliberação na qual os argumentos somente são ouvidos quando expostos por pessoas dotadas de marcadores culturais determinados: certos tipos de linguagem, de vestimentas, de gestos, de referências, de piadas.
Como a atividade jurídica é deliberativa, nunca escapamos do trivium, exceto quando caímos em um lugar ainda pior: um legalismo rasteiro, que reduziu várias faculdades de direito a locais de reprodução de textos legais, voltados à produção de um repertório de conhecimentos que somente é capaz de realizar com eficiência provas de múltipla escolha. Saber diferenciar textos legais vigentes de textos legais inventados pelos examinadores (e, nas últimas décadas, saber identificar interpretações judiciais dominantes e minoritárias) possibilita ser aprovado em um concurso público e no Exame de Ordem. Não deve causar espécie o fato de que, nas últimas décadas, o que vivemos foi um certo renascimento do trivium: a ideia de que as faculdades de direito são responsáveis não apenas pela memorização de repertórios de legislação (tornados obsoletos pelos avanços tecnológicos em termos de armazenamento e pesquisa de dados), mas também pela formação de habilidades hermenêuticas e retóricas que capacitem os estudantes a produzir textos técnicos de qualidade: petições, pareceres e sentenças.
Em muitos campos, constituiu-se uma divisão de trabalho na qual os pesquisadores realizam a produção de novos conhecimentos, enquanto os professores se encarregam de sua reprodução. No direito, essa divisão não existe porque há uma mistura de dois fenômenos: os textos ensinados não são produzidos pelos juristas (mas pelos legisladores e juízes) e porque os conhecimentos e os conhecimentos compartilhados não são produzidos por uma pesquisa observacional.
Os saberes reproduzidos nas faculdades de direito não são produzidos por pesquisas observacionais, mas por compilações didáticas dos conhecimentos sedimentados pelo uso e compartilhados pela comunidade dos juristas. Trata-se, portanto, de saberes organizados na forma de manuais, de instrumentos didáticos voltados a sua compreensão e divulgação, cujo prestígio decorre da posição de seus autores e do grau de aceitação que esses textos conseguem promover dentro da própria comunidade. Como a techne dos juristas envolve a produção retórica de textos que a comunidade dos juristas reconheça como persuasivos, não deve causar espanto que persista entre nós o ensino dogmático de textos canônicos, cumulados com uma tradição interpretativa e das habilidades do trivium.
4. Referências
ARGUELHES, Diego Werneck; ARANTES, Rogério Bastos. Supremo: o estado da arte. Quatro Cinco Um, v. 5, n. 49, p. 14–15, 2018.
BAUDELAIRE, Charles. Le Peintre de la vie moderne. [s.l.] Litteratura.com, 2009.
BOURDIEU, Pierre. Outline of a theory of action. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. v. 16
BRUNET, Pierre. Le réalisme juridique americain comme critique du droit. academia.com, 2022.
CHÉROT, Jean-Yves. Rapport de syntèse. Revue de Recherche Juridique, Cahiers de méthodologie juridique. v. 186, n. spécial, p. 1753–1770, 2021.
CNE. Resolução CNE/CES 5/2018, 2018. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104111-rces005-18/file
FALCÃO, Joaquim; HARTMANN, Ivar A.; CHAVES, Victor. III Relatório Supremo em números: O Supremo e o TempoEscola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2014.
GILMORE, Grant. Legal Realism: Its Cause and Cure. Yale Law Journal, v. 70, n. 7, p. 1037–1048, 1961.
GOMES, Daniel Augusto Vila-Nova. #supremologia: o Supremo Tribunal Federal nas encruzilhadas da política & do direito no Brasil (1988-2023). 1a. ed. São Paulo: Amanuense, 2023.
GUYATT, Gordon. Evidence-Based Medicine: A New Approach to Teaching the Practice of Medicine. JAMA, v. 268, n. 17, p. 2420, 4 nov. 1992.
HUME, David. Tratado de la naturaleza humana. p. 448, 2001.
JOSEPH, Miriam. O Trivium: as artes liberais da lógica, gramática e retórica. São Paulo: É Realizações, 2008.
KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes Immanuel Kant. Lisboa: Companhia Editora Nacional, 1996.
KENNEDY, Duncan. Legal Education as Training for Hierarchy. Em: KAIRYS, D. (Ed.). The Politics of Law. 3. ed. New York: Basic Books, 1998.
KUHN, Thomas S. The structure of scientific revolutions. Fourth edition ed. Chicago ; London: The University of Chicago Press, 2012.
MATTSON, Mark P. Superior pattern processing is the essence of the evolved human brain. Frontiers in Neuroscience, v. 8, p. 265, 22 ago. 2014.
NICOLELIS, Miguel. O verdadeiro criador de tudo: Como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. São Paulo: Planeta, 2020.
NOBRE, Marcos. Apontamentos sobre a pesquisa em direito no Brasil. [s.l: s.n.]. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br:80/dspace/handle/10438/2779. Acesso em: 15 dez. 2022.
PFEFFER, Jeffrey; SUTTON, Robert I. Evidence-Based Management. Harvard Business Review, n. January 2006, 1 jan. 2006.
RORTY, Richard. Grandiosidade Universalista e Profundidade Romântica. Em: SOUZA, J. C. DE (Ed.). Filosofia, racionalidade, democracia: os debates Rorty & Habermas. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
ROUVIÈRE, Frédéric. La formation des juristes à la justice preditive est-il une nécessité? Revue de Recherche Juridique, Cahiers de méthodologie juridique. v. 186, n. spécial, p. 1531–1532, 2021a.
___. Le droit dans l’œil du profane. Les Cahiers Portalis, v. 8, n. 1, p. 117–131, 2021b.
SHEFFLER, David. Schools and schooling in late medieval Germany : Regensburg, 1250-1500. [s.l.] Brill, 2008.
STAHL, William H. Martianus Capella and the Seven Liberal Arts. Vol. 2: The marriage of Philology and Mercury. New York: Columbia University Press, 1992.
THOLOZAN, Olivier. L’enseignement du droit et l’idéologie. Revue de Recherche Juridique, Cahiers de méthodologie juridique. v. 186, n. spécial, p. 1579–1591, 2021.
UNIVERSITY OF BOLOGNA. Nine centuries of history. Disponível em: https://www.unibo.it/en/university/who-we-are/our-history/nine-centuries-of-history/nine-centuries-of-history. Acesso em: 25 nov. 2022.
ANTES, Rogério Bastos. Supremo: o estado da arte. Quatro Cinco Um, v. 5, n. 49, p. 14–15, 2018.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. São Paulo: Abril, 1984.
ATAMAN, Ahmet Doğan; VATANOĞLU-LUTZ, Emine Elif; YILDIRIM, Gazi. Medicine in stamps-Ignaz Semmelweis and Puerperal Fever. Journal of the Turkish German Gynecological Association, v. 14, n. 1, p. 35–39, 1 mar. 2013.
BAUDELAIRE, Charles. Le Peintre de la vie moderne. [s.l.] Litteratura.com, 2009.
BOURDIEU, Pierre. Outline of a theory of action. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. v. 16
BRUNET, Pierre. Le réalisme juridique americain comme critique du droit. academia.com, 2022.
CARVALHO, Olavo de. Do marxismo cultural. O Globo, 6 ago. 2008.
CHÉROT, Jean-Yves. Rapport de syntèse. Revue de Recherche Juridique, Cahiers de méthodologie juridique. v. 186, n. spécial, p. 1753–1770, 2021.
CNE. Resolução CNE/CES 5/2018, 2018. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104111-rces005-18/file
COMTE, Auguste. Cours de Philosophie Positive. Paris: Hatier, 1982.
DESCARTES, René. Discurso do Método. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
FALCÃO, Joaquim; HARTMANN, Ivar A.; CHAVES, Victor. III Relatório Supremo em números: O Supremo e o TempoEscola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2014.
FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Função social da dogmática jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980.
GILMORE, Grant. Legal Realism: Its Cause and Cure. Yale Law Journal, v. 70, n. 7, p. 1037–1048, 1961.
GOMES, Daniel Augusto Vila-Nova. #supremologia: o Supremo Tribunal Federal nas encruzilhadas da política & do direito no Brasil (1988-2023). 1a. ed. São Paulo: Amanuense, 2023.
GUYATT, Gordon. Evidence-Based Medicine: A New Approach to Teaching the Practice of Medicine. JAMA, v. 268, n. 17, p. 2420, 4 nov. 1992.
HIPPOCRATES. Aphorismi. Disponível em: https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.01.0248%3atext%3dAph.. Acesso em: 25 nov. 2022.
HORTA, Ricardo de Lins e; COSTA, Alexandre Araújo. Das teorias da interpretação à teoria da decisão: por uma perspectiva realista sobre as influências e constrangimentos sobre a atividade judicial. Revista Opinião Jurídica (Fortaleza), v. 15, n. 20, p. 271–297, 12 jul. 2017.
HUME, David. Tratado de la naturaleza humana. p. 448, 2001.
JOSEPH, Miriam. O Trivium: as artes liberais da lógica, gramática e retórica. São Paulo: É Realizações, 2008.
KADAR, Nicholas; ROMERO, Roberto; PAPP, Zoltán. Ignaz Semmelweis: “The Savior of Mothers” On the 200th Anniversary of the Birth. American journal of obstetrics and gynecology, v. 219, n. 6, p. 519–522, dez. 2018.
KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes Immanuel Kant. Lisboa: Companhia Editora Nacional, 1996.
KATJU, Markandey. Ancient Indian Jurisprudence. www.bhu.ac.in. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.bhu.ac.in%2Fmmak%2Fresent_article%2FJusticeKatjusLec.pdf&clen=73876&chunk=true. Acesso em: 29 mar. 2022.
KENNEDY, Duncan. Legal Education as Training for Hierarchy. Em: KAIRYS, D. (Ed.). The Politics of Law. 3. ed. New York: Basic Books, 1998.
KIRCHMANN, Julius Hermann von. La falta de valor de la jurisprudencia como ciencia. Madrid: Dykinson, 2011.
KUHN, Thomas S. The structure of scientific revolutions. Fourth edition ed. Chicago ; London: The University of Chicago Press, 2012.
LYOTARD, Jean-francois. A condição pós-moderna. 19. ed. Rio de Janeiro: José Olímpio, 2009.
MATTEI, Ugo; NADER, Laura. Plunder: when the rule of law is illegal. Malden: Blackwell, 2008.
MATTSON, Mark P. Superior pattern processing is the essence of the evolved human brain. Frontiers in Neuroscience, v. 8, p. 265, 22 ago. 2014.
NEJAR, Carlos. Breve história do mundo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003.
NICOLELIS, Miguel. O verdadeiro criador de tudo: Como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. São Paulo: Planeta, 2020.
NIETZSCHE, Friedrich. Crepúsculo dos ídolos. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
NOBRE, Marcos. Apontamentos sobre a pesquisa em direito no Brasil. [s.l: s.n.]. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br:80/dspace/handle/10438/2779. Acesso em: 15 dez. 2022.
PARRY, Richard. Episteme and Techne. . Stanford: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2021. Disponível em: https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/episteme-techne/. Acesso em: 28 nov. 2022.
PFEFFER, Jeffrey; SUTTON, Robert I. Evidence-Based Management. Harvard Business Review, n. January 2006, 1 jan. 2006.
POWELL, Baden; MORAES, Vinícius de. Canto de Xangô, 1 maio 2012. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Od2kpFZjhAI. Acesso em: 25 nov. 2022
RORTY, Richard. Grandiosidade Universalista e Profundidade Romântica. Em: SOUZA, J. C. DE (Ed.). Filosofia, racionalidade, democracia: os debates Rorty & Habermas. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
ROUVIÈRE, Frédéric. La formation des juristes à la justice preditive est-il une nécessité? Revue de Recherche Juridique, Cahiers de méthodologie juridique. v. 186, n. spécial, p. 1531–1532, 2021a.
___. Le droit dans l’œil du profane. Les Cahiers Portalis, v. 8, n. 1, p. 117–131, 2021b.
SHEFFLER, David. Schools and schooling in late medieval Germany : Regensburg, 1250-1500. [s.l.] Brill, 2008.
SMITH, George. Newton’s Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008. Disponível em: https://plato.stanford.edu/archives/win2008/entries/newton-principia/. Acesso em: 13 dez. 2022.
SOUSA, Maria Sueli Rodrigues de; COSTA, Pablo Cavalcante. A carnavalização do ensino jurídico como fuga de um habitus pinguinizado. Revista Brasileira de Sociologia do Direito, v. 8, n. 1, p. 123–142, 3 jan. 2021.
SPARKES, J. J. Patter Recognition and a Model of the Brain. International Journal Man-Machine Studies, v. 1, n. 1, p. 263–278, 1969.
STAHL, William H. Martianus Capella and the Seven Liberal Arts. Vol. 2: The marriage of Philology and Mercury. New York: Columbia University Press, 1992.
THOLOZAN, Olivier. L’enseignement du droit et l’idéologie. Revue de Recherche Juridique, Cahiers de méthodologie juridique. v. 186, n. spécial, p. 1579–1591, 2021.
UNIVERSITY OF BOLOGNA. Nine centuries of history. Disponível em: https://www.unibo.it/en/university/who-we-are/our-history/nine-centuries-of-history/nine-centuries-of-history. Acesso em: 25 nov. 2022.
WARIN, Isabelle. La notion de technè en Grèce ancienne. Artefact. Techniques, histoire et sciences humaines, n. 15, p. 43–60, 22 fev. 2022.
WIKIPEDIA. Rebeca Andrade. Wikipedia, 2022. Disponível em: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rebeca_Andrade&oldid=1120969409. Acesso em: 25 nov. 2022.
